30/09/2023 20h29
Imagem: PlanetadeLibros

“Identifique o lucro sempre cedo demais.”
Obra: Os Axiomas de Zurique. O 2o. Grande Axioma. Best bussines, Rio de Janeiro, 2019. Tradução de Isaac Piltcher. De Max Gunther (UK/England, 1927-1998).
Especule sempre em períodos curtos e modestos, procure identificar oportunidades de lucros antes que o período de ganhos tenha alcançado o pico; às vezes a decisão de sair antes pode provocar frustração, quando eventualmente se contabiliza o lucro que se poderia ter realizado caso tivesse ficado um pouco mais, no entanto, não se deve ter medo do arrependimento; realize seu lucro, coloque no bolso, isso é o que importa, e caia fora (p. 45).
Em toda obra Gunther insere exemplos e, no caso deste capítulo, ilustra situações onde a leitura imprecisa do momento de sair, dado o apego ao que fora investido e a falta do estabelecimento de metas (3o. Axioma Menor, pp 52-58) dificultam o discernimento sobre quando encerrar uma operação ou negócio, questões que se associam ao problema da ganância, inerente à natureza humana (achei hilário quando afirma que sermões na igreja não a exorcizam, p.41); adverte que se trata de uma “inimiga do especulador” (p. 41) e assim não se deve permitir ser dominado por ela (p. 44), o que pode soar como intrigante para alguns, em uma primeira leitura, certamente se o leitor foi criado sob narrativas que a enfatizam como ingrediente típico e disseminam estereótipos sobre as figuras do empresário e do especulador.
Argumenta que amadores demoram demais nas apostas, porque estão pautados pela ganância (p. 40); quando insaciáveis, a sedução os domina e no afã de se ganhar mais e mais, não se dão conta quando começam a perder ou, como sintetiza, perdem o controle dos desejos (41). Lembra um dito popular entre suíços que diz para não esticar a própria sorte; quando ocorrer um período em que a sorte predominou, o investidor dominado pela ganância estará sempre na crença de que a boa fase vai durar mais um pouco (p. 43); o erro é subestimar a brevidade (p. 44).
29/09/2023 23h12
Imagem: BBC

“Já no ano 340 a.C. o filosofo grego Aristóteles, no seu livro ‘Sobre os Céus’, foi capaz de apresentar dois bons argumentos para se acreditar que a Terra era uma esfera e não um prato achatado. […]”
Obra: Uma breve história do tempo. I. A Nossa Representação do Universo. Gradiva, 1994, Lisboa. Tradução de José Félix Gomes Costa. De Stephen William Hawking (UK/England/Oxford, 1942-2018).
Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.), cujo engano, talvez o maior, penso, consistia na crença de que o Sol, a Lua, os planetas e as estrelas girassem em torno da Terra tida como “imóvel” (lembrado pelo autor), observou eclipses da Lua e deduziu que eram causados pela interposição da Terra entre o Sol e a Lua, cuja sombra redonda apontava o formato esférico da Terra, eis o primeiro argumento. O geocentrismo aristotélico não anula a constatação da esfericidade.
O segundo argumento se baseia na observação que os gregos fizeram da Estrela Polar, menos alta no céu quando vista mais a sul das regiões onde se encontra mais alta; “Uma vez que a Estrela Polar se encontra no zénite do Pólo Norte, parece estar directamente por cima de um observador no pólo boreal, mas para um observador no equador ela encontra-se na direcção do horizonte”, explica (p. 8) para em seguida mencionar um terceiro argumento dos gregos: “por que motivo se vislumbram primeiro as velas de um navio que surge no horizonte, e somente depois o casco?” (p. 8)
A maior recordação que tenho deste livro se deu quando revisitei o trecho desta Leitura e pensei em um senhor, de “nível superior”, estilo “diácono de igreja batista” e crente no terraplanismo que lá pelos idos de 2007 me falou coisas muito próximas das “tartarugas” ditas por uma senhora ao senhor Hawking, conforme abertura do capítulo.
Foi então que me dei conta que tal malatia é um tanto democrática; vai do pobre ao abastado, do “sem instrução” ao “formado” (se bem que se trata de em outro tipo de analfabeto, da espécie “diplomada”), pode encontrar adeptos entre quem nunca colocou os pés em uma sala de aula até entre fidalgos com anel de doutor. É também, em termos cristãos, razoavelmente “ecumênica”, pois seus militantes podem ser observados do catolicismo ao protestantismo. Em termos políticos, aparentemente agrada mais torcedores da destra. Só não consegui vê-la (longe de significar que não exista) entre adeptos de alguma religião ou filosofia oriental, bem como também não pude apreciá-la entre espíritas e ateus.
28/09/2023 23h42
Imagem: PGL

“[…] a desonra, a infâmia, as censuras, as maldições só nos fazem mal quando queremos sentir: desde que não pensemos nisso, deixam de ser um mal.[…]”
Obra: Elogio da loucura. Declaração de Erasmo de Roterdã. Martin Claret, 2002, São Paulo. Tradução de Alex Marins. De Desidério Erasmo de Roterdã (Holanda/Roterdã, 1466-1536).
Houve um tempo em que gastava energia a rebater provocações, ofensas… Aprendi tomando lições com o pastor Abdoral que o silêncio e a autocrítica são prioridades, seguidas por eventuais anotações introspectivas sobre interações de fatos do cotidiano com experiências de leitura e, não menos importante, um saber para ignorar ruídos que revelam valores os quais não compartilho; permitir-se a escutar ruídos dpre ofensas é se abrir perigosamente a ações desprovidas de sentido para serem consideradas e isso não quer dizer que estou certo ou errado quando sou ofendido, pois vai depender da verdade apurada pelo conhecimento dos fatos enquanto não quer dizer que devo pagar com a mesma moeda.
Lembrei-me desta passagem (p. 45), lida em 2004, do espirituoso livro de Erasmo de Roterdã, quando tomei conhecimento, durante tempos pandêmicos (2021), de um “consultor” ávido por espalhar na direção do seu então novo cliente, minha condição de sujeito “difícil” e “inacessível”; o curioso é que mantenho uma agenda de atendimentos com colaboradores da empresa, via de regra por vídeo conferência com profissionais da contabilidade, da TI e do jurídico, e o mais curioso ainda se deu quando o “consultor” foi desmentido por colegas os quais presto atendimento.
Vivo uma era de conectividade (derivada da popularização da internet) muito avançada em comparação quando comecei minha carreira em 1989. Então, muitos confundem essa poderosa conectividade de smartphones, big data, aplicativos e redes sociais com o pretexto para ultrapassar determinados limites da privacidade, mediante o problema antigo do imediatismo de uma sociedade onde a auto promoção (outro problema antigo) percorre sob grande potencialidade (fator relacionado com a ampliação da conectividade). E eis que o “consultor” fez o tipo comum do sujeito determinado a se promover “custe o que custar”, onde pressa se confunde com agilidade, e planejamento de ações é algo mais para discurso vazio enquanto no mundo real perturba colaboradores e “parceiros” quando ignora horários de expediente, e sendo adepto de bugigangas tecnológicas dessa conectividade babilônica (que são devidamente neutralizadas em meus instrumentos de trabalho), não me causou surpresa que se caracterizou por constranger colegas, enquanto pensou que conseguiria fazer o mesmo comigo, mas descobriu dona Gioconda e esbarrou nas normas de atendimento que se baseiam em uma filosofia pessoal de trabalho que normalmente se chocam com quem, envolvido nesse mundo corrido e insano, não respeita certas delimitações básicas, que podem ser extraídas do livro da sabedoria, lá no capítulo das “boas maneiras”, apreendidas no seio familiar e/ou no jardim da infância (talvez, alguns marmanjos de terno e gravata careçam de voltar para lá).
Em suma, trabalho para ter o suficiente e poder me afastar desse ruído nocivo, dessa correria grotesca, “da desonra, da infâmia, das censuras e das maldições que só nos fazem mal quando queremos sentir”, produzidas por pessoas que fazem da linguagem ofensiva a forma de comunicação para “mostrar serviço”, e assim percebi grande benefício pessoal enquanto as deixo incapazes de me atingirem, seja pelo distanciamento que tomei, seja pela disciplina mental de ignorá-las, cuja decisão resulta em mais espaço disponível para inserir relacionamentos com o propósito de serem profissionalmente saudáveis enquanto me dedico a cada vez investir em algo que nenhum dinheiro pode comprar: reduzir a imensa ignorância que tenho acerca de minha personalidade e do mundo que me cerca, e esse empreendimento se dá mediante a busca constante pelo auto conhecimento, em formas cada vez mais aprimoradas pelo dom que todo humano dispõe: o intelecto.
Da experiência com o “consultor” criei a “Declaração de Incompetência”, confissão que entrego a quem acredita que o universo gravita em torno de suas exigências ansiolíticas e eis que percebi que o “contemplado” pode ir de um “não entendi nada” a ficar levemente desconfiado, com um “onde será que ele quer chegar com isso?”, ou até mesmo satisfeito; tudo vai depender do nível de distorção cognitiva que o acomete.
Mediante uma situação de ofensa como se dá em uma expressão de racismo ou outro tipo de discriminação, sendo meio para impedir a liberdade e o acesso a outros direitos naturais, ou tudo que venha a desumanizar relações pelas quais tenho disposição a desenvolver, de fato se caracteriza um problema que deve ser tratado, mas se for uma ofensa ou qualquer outra típica manifestação de quem está dominado por preconceitos e/ou por momentos de maldade no juízo, em termos de expressão ideológica, entendo que não merece ser pensada, apreciada, sentida, meditada; deve ser tratada como coisa que passa pelos esgotos, no subterrâneo das debilidades humanas. Em todos os casos, a toxina de uma ofensa só poderá me afetar se lhe for dado espaço em meu foro íntimo, de forma que me deixo envolver por uma dialética, uma forma intuitiva de discussão interna capaz de contaminar minha auto estima, além de que devo também ponderar que algumas agressões acabam por se traduzir em certificados de nobreza ou elogios quando me apetecem a um orgulho sadio; sinto isso quando tomo posição por algum valor essencial, e penso aqui na liberdade como exemplo, quando sou ofendido ou provocado por quem prefere legalizar formas de submissão travestidas de “boas intenções”, sobretudo em apelos ideológicos no sombrio mundo da política.
E entre situações diversas, uma ofensa ou reclamação se torna um valioso prêmio, penso, também quando tomo decisões baseadas na ética que inevitavelmente desagradam determinada parte, enquanto representam firmeza de conduta justa para outra, pois não é possível agradar, ao mesmo tempo, quem nos pede para fazer algo reprovável e quem espera que sejamos íntegros na conduta.
27/09/2023 23h00
Imagem: EM

“Ele passaria para a história como um dos maiores juristas brasileiros, defensor incondicional das liberdades civis, mas também como um financista ingênuo e desastrado […]”
Obra: 1889 : como um imperador cansado, um marechal vaidoso e um professor injustiçado contribuíram para o fim da monarquia e a proclamação da República no Brasil. 21. A RODA DA FORTUNA. Globo, 2013, São Paulo. De Laurentino Gomes (Brasil/Paraná/Maringá, 1956).
Meados dos anos 1990, nas aulas de História Econômica do Brasil, descobri que o grande Ruy Barbosa, como economista, foi um excelente advogado.
O capítulo 21 desta obra foi uma boa leitura para refletir como um notável brasileiro de saber jurídico fez o tipo intervencionista ingênuo ou “fragilista” (lembrei-me de Taleb); de boa índole, talvez iludido sobre pontos elementares do funcionamento da economia, fato é que promoveu um desastre econômico no ambiente mais propício: o político, onde as leis naturais do mercado são mais ignoradas. É o que se pode concluir de sua passagem pelo Ministério da Fazenda.
A concepção monetária da época soava rudimentar e Ruy Barbosa tinha estudado o modelo americano [178] sobre a emissão de títulos públicos; avaliou também o que vinha sendo feito na Europa e adotou uma grotesca expansão monetária. Em 1890, o notável pensador do direito implementou uma reforma para impulsionar a indústria e o comércio, envolvendo o sistema financeiro, dando aos bancos a permissão para emissão de papel-moeda, porém sem lastro (ouro), como se adotava à época, o que veio a gerar emissões acima da capacidade de circulação de bens e serviços, o que tecnicamente se chama “inflação”, ocasionando em uma bolha de crédito que provocou a falência de investidores e o caos monetário no comércio com a desvalorização da moeda. Era a “crise do encilhamento”, com empresas de fachada que foram criadas para obter crédito, muito facilitado com a desenfreada emissão de papel moeda por diversos bancos, tudo isso em um período onde os republicanos tentavam se impor frente aos monarquistas patrimonialistas que estavam ainda bem vivas nos porões da política.
178. Ver página 79 do Relatório do Ministro da Fazenda Ruy Barbosa em janeiro de 1891.
26/09/2023 22h31
Imagem: Mises Brasil

“The bureaucrat is not only a government employee. He is, under a democratic constitution, at the same time a voter and as such a part of the sovereign, his employer.”
Obra: Bureaucracy. V. THE SOCIAL AND POLITICAL IMPLICATIONS OF BUREAUCRATIZATION. 3. THE BUREAUCRAT AS A VOTER. Yale University Press, 1944, New Haven. De Ludwig Heinrich Edler von Mises (Áustria-Hungria/Leópolis, 1881-1973).
O burocrata é um consumidor de impostos, definição que li pela primeira em Hoppe e achei intrigante. Quanto à obra desta Leitura, de Mises em 1944, aponta-se uma peculiaridade sobre o funcionário dito “público”: é empregador e empregado. Faz parte de uma corporação que não produz e vive de arrecadar ou tomar recursos do meio produtivo, então seu interesse pecuniário como funcionário acaba por ficar acima de seu interesse como empregador (aqui penso que Mises raciocinou em comparação com a lógica de visar resultados operacionais que dão sentido econômico, como ocorre em uma empresa privada), enquanto recebe muito mais dos fundos públicos do que contribui para eles. O funcionário “público” atua para arrecadar em benefício próprio, embora utilize como argumento que o Estado redistribui, e quando se aponta que os impostos retornam aos mais vulneráveis da sociedade, esta meia verdade ajuda a camuflar o privilégio do funcionário “público”.
Penso no conflito de interesses quando se pesa o fato de o funcionário dito “público” ser também um eleitor; neste aspecto, torna-se mais latente, penso, o que Mises aponta como maior ansiedade (incentivo) de se obter aumento em seus rendimentos do que se interessar por equilíbrio orçamentário, contenção de gastos, sobretudo da folha de pagamentos, então, medito, sobre esse eleitor burocrata do Estado, que certamente prefere ser visto como “cidadão comum”, como analisará um candidato que tem como pauta a austeridade, o corte de privilégios do funcionalismo, a redução da folha de pagamentos? O funcionário “público” tem mais incentivos para votar em uma proposta liberal com austeridade no orçamento em geral, ou em políticos que produzem gastança e déficit primário? O que penso sobre o problema suscitado por Mises é que a perspectiva do funcionário “público” é diferente de um cidadão que trabalha no meio privado e que não tem laços ou incentivos derivados de privilégios políticos em torno do Estado.
Como verá o candidato que tem inclinação ao contrário, que deseja aumentar o quadro do funcionalismo, ampliar “benefícios”, “garantias” e mais “direitos” (que não passam de privilégios)? Mises cita como exemplos os casos da estrutura política da Alemanha e da França que “nos últimos anos anteriores à queda das suas constituições democráticas, foi em grande medida influenciada pelo fato de uma parte considerável do eleitorado ter o Estado como fonte de renda” (p. 80).
25/09/2023 00h05
Imagem: ALJAZEERA

“[…] in my conversation with the president [Vladimir Putin] I said perestroika wouldn’t have happened without glasnost, and he wouldn’t have been able to continue the process of change successfully without a free press. He said to me, ‘Yes, I agree. Without a free press, a responsible press, we would not be able to cope with our tasks.’”
Obra: Mikhail Gorbachev. The Road. We Traveled. The Challenges. We Face. The American and Russian People Don’t Want a New Confrontation. Newsweek. The Gorbachev Foundation, 2006, Moscow. De Mikhail Sergeevitch Gorbachev (URSS/Rússia/Privol’noe, 1931).
Obra consiste em uma coletânea de discursos e entrevistas do último premiê soviético, publicada em 2006, duas décadas após o início da Perestroika. O ex-agente da KGB, Vladimir Putin (1952), já tinha alcançado o vértice da Rússia desde 1999 (primeiro-ministro), sendo eleito presidente da federação no ano seguinte.
A leitura me fez perceber Gorbachev a repetir ideias sobre o ocidente não saber o que acontece na Rússia e que as coisas não são preocupantes quanto parecem, desta vez se esforçando para que Putin fosse visto com boas intenções, e no trecho, quando indagado sobre o impedimento da NTV e da revista Itogi, que faziam parte da mídia independente na Rússia, respondeu que em conversa com o presidente russo, argumentou que a Perestroika não poderia ter ocorrido sem a Glasnost (transparência), como se os dois termos fossem uma realidade no sentido de uma Rússia que teria dado continuidade ao processo, mesmo após o fim da União Soviética, tendo Putin concordado e respondido que “sem uma imprensa livre, uma imprensa responsável, não seríamos capazes de cumprir as nossas tarefas” (p. 105).
Então o jornalista perguntou: “Você acredita nele?“, e Gorbachev respondeu: “Sim, eu acredito nele. O ponto mais importante, que é subestimado na Rússia e simplesmente não é conhecido no exterior, este é o difícil legado que o presidente herdou. Certa vez, em uma conversa, ele me disse: ‘Eu herdei o caos – no economia, nos assuntos da federação, na área de leis e na tomada de decisões.’ Então uma das tarefas é tentar tirar o país do caos. O mais importante é que o Presidente Putin não deveria deslizar para um sistema autoritário” (p. 105).
Gorbachev defendeu a Perestroika como uma reforma do sistema soviético para torná-lo mais transparente e menos restritivo com os cidadãos, mais permissivo a pequenos negócios privados enquanto mais aberto ao mundo capitalista, sem abrir mão dos princípios do socialismo (como se tais coisas fossem compatíveis), enquanto o regime econômico estava falindo, panaceia no mesmo estilo quando defendeu Putin como um reformista moderno e defensor da imprensa livre, além da esperança revelada de vê-lo como um líder não pautado em um sistema autoritário.
Algo comum na história: surge um candidato a tirano de alcance mundial e junto vem quem faça o trabalho de fazer com que não o seja percebido assim.
24/09/2023 13h24
Imagem: AGENZIA ANSA

“La divisione dei poteri e tutta la discussione avvenuta per la sua realizzazione e la dogmatica giuridica nata dal suo avvento, sono il risultato della lotta tra la società civile e la società politica di un determinato periodo storico, con un certo equilibrio instabile delle classi, determinato dal fatto che certe categorie d’intellettuali (al diretto servizio dello Stato, specialmente burocrazia civile e militare) sono ancora troppo legate alle vecchie classi dominanti.”
Obra: Note sul Machiavelli sulla politica e sullo stato moderno. I. Il moderno principe. Egemonia (società civile) e divisione dei poteri (Q. 6). Editori Riuniti, 1996, Roma. De Antonio Sebastiano Francesco Gramsci (Italia/Ales, 1891-1937).
A leitura da professora Chaui me remeteu a esta obra de Gramsci.
No trecho, aponta que a luta entre a sociedade civil e a sociedade política, em um determinado período histórico, define a divisão do poder e toda a discussão em torno de sua realização, assim como a dogmática jurídica que dela se origina, mediante um certo “equilíbrio instável” das classes pelo fato de que certas categorias de intelectuais (atuante no Estado, sobretudo nas burocracias civil e militar), estão ainda muito ligadas às velhas classes dominantes, aponta o filósofo italiano (p. 61) que está entre os comunistas mais citados, pelo menos em minhas experiências de leitura, não apenas entre progressistas e demais esquerdistas, mas também por muitos que se consideram “conservadores”.
Cita Benedetto Croce (1866-1952) e o que foi chamado de “perpétuo conflito entre a Igreja e o Estado” para discorrer como exemplo desse embate quando um grupo (laico) privilegiado se alia a Igreja em apoio ao seu monopólio para tomar proveito da sociedade civil que a Igreja representa. Em seguida, menciona de forma generalizada uma característica da “ideologia liberal” que, entende, “com os seus pontos fortes e fracos, está contida no princípio da divisão de poderes” (p. 61). Aparentemente, a burocracia é o ponto fraco do liberalismo, pois é onde se dá a “cristalização do pessoal de gestão que exerce poder coercitivo e que a certa altura se torna casta” e deste ponto se origina a demanda popular da elegibilidade de todos os cargos, reivindicação que é de “extremo liberalismo” junto com a previsão de sua dissolução para dar “uma satisfação ilusória a esta exigência popular elementar”. E entre os três poderes (parlamentar, judiciário e governamental), o segundo é o mais sensível, pois “sua falha administrativa é desastrosa” (p. 62).
Penso aqui que Gramsci viu no princípio da divisão dos poderes no liberalismo uma oportunidade para enfraquecê-lo diante de suas aspirações comunistas (talvez seja nesse sentido que possa ter visto o liberalismo como um “instrumento”), visto que as maiores referências autoritárias de sua época (o nazismo alemão, o fascismo italiano e o stalinismo soviético), onde estava evidente a fortíssima blindagem desses regimes a flexibilidade comum em modelos liberais mediante o clamor popular pela periódica renovação na ocupação de cargos “públicos” (e na ocupação de indivíduos em prol de determinada ideologia), o que obviamente causava maior resistência na dialética ou no conflito entre a sociedade civil e a sociedade política.
23/09/2023 16h42
Imagem: USP

“[…] a hegemonia é a criação da vontade coletiva para uma nova direção política e também a reforma intelectual e moral para uma nova direção cultural.”
Obra: Cidadania Cultural: O Direito à Cultura . Sobre o nacional e o popular na cultura. Gramsci: O nacional-popular e a hegemonia. Fundação Perseu Abramo, 2021, São Paulo. De Marilena de Souza Chauí (Brasil/São Paulo/São Paulo, 1941).
No trecho, a filósofa brasileira se refere a como se apresenta o conceito de hegemonia nos textos de Antonio Gramsci (1891-1937) sobre Maquiavel (p. 27). Distingue-se do governo (dominium como instituição política, p. 27), da ideologia (sistema abstrato de representações), ultrapassa os conceitos de cultura “porque indaga sobre as relações de poder e a origem da obediência e da subordinação voluntárias” e o de ideologia “porque envolve todo o processo social vivo como práxis”; não se trata de um sistema e sim de “um complexo de experiências, relações e atividades cujos limites estão socialmente fixados e interiorizados”, nem é forma de controle sociopolítico, manipulação ou doutrinação, “mas uma direção geral (política e cultural) da sociedade”, sendo sinônimo de cultura em “sentido amplo e sobretudo de cultura em sociedade de classes” (p. 28).
Hegemonia como cultura em sentido amplo “determina o modo como os sujeitos sociais se representam
a si mesmos e uns aos outros” (p. 28), “balizas invisíveis” de uma “visão de mundo” da classe dominante, mas também é um “processo” de “determinações contraditórias” por necessitar de ser “continuamente modificada, renovada, alterada e desafiada sob a ação de lutas, oposições e pressões sociais” (p. 29). E nesse “processo” que, penso (a autora não aplica os termos que considero a seguir), é dialético, de conflitos e novas sínteses, e eis que surge, torno à explicação da professora, uma “contra-hegemonia” ou “outra visão de mundo”, e foi em uma perspectiva de contra-hegemonia que Gramsci elaborou o conceito de “nacional-popular”, como reação revolucionária em forma de “resposta determinada pela forma histórica particular que essa hegemonia assume em um momento determinado” (p. 30).
Parece-me muito difícil de desvincular a “direção geral”, apontada pela professora em relação à hegemonia, da instrumentalização da cultura para fins políticos; neste aspecto penso na curiosa questão que apresenta na Apresentação, quando afirma ser “paradoxal a constante dificuldade dos dirigentes petistas em relação à cultura”, quando a concebem sob três aspectos ou “chaves” – saber de especialistas, belas-artes e instrumento de agitação política – enquanto simplesmente a aderem “à concepção instrumental” que indica como “própria da sociedade capitalista” (p. 10). Quando surge algo desconcertante no lado canhoto da história, o peso da culpa se aponta sempre aos adeptos do capital, mas isso não deixa de fazer sentido, pois tal apego nunca deixou de ser ambidestro.
Contudo, considero oportuna a interpretação da professora ao pensamento de Gramsci, sobretudo quanto ao “paradoxo” (tomo por empréstimo a base do termo adotado) de conceber a sociedade em dialética contínua enquanto se pauta por “direção geral” derivada da realpolitik, onde a hegemonia se traduz por determinações de grupos dominantes onde o lado faz a diferença para se ter ciência sobre quem está no poder e a cultura é tratada como mero recurso de manipulação.
22/09/2023 20h12
Imagem: Renovatio Imperii

“E, certamente, nada é pior do que nos acomodarmos ao clamor da maioria, convencidos de que o melhor é aquilo a que todos se submetem, considerar bons os exemplos numerosos e não viver racionalmente, mas sim por imitação.”
Obra: Da Felicidade. I. LPM, 2009, Porto Alegre. Tradução de Lúcia Sá Rebello e Ellen Itanajara Neves Vranas. De Lúcio Aneu Séneca (Império Romano/Espanha/Córdoba, 5-65).
Lembrei-me do Décimo Grande Axioma de Zurique; “fuja da opinião da maioria, pois provavelmente está errada” [177].
O pensamento de Sêneca atravessa dois mil anos e segue atual quando ilustra o que aprendi no mercado financeiro a chamar de “manada”, comportamento usual quando se segue a maioria sem reflexão e, como ilustra o sábio da antiguidade, torna-se dramaticamente compreendido quando vem uma catástrofe coletiva onde a manda encontra a perdição e seus seguidores se esmagam entre si; “ninguém cai sem arrastar a outro, e os primeiros são a perdição dos que os seguem”, sintetiza.
Para Sêneca, a “voz do povo” não tem nada de sábia ou de divina, pelo contrário; nada é pior do que viver por imitação e não de forma racional, crer, em vez de analisar as coisas, julgar por si mesmo; “morremos seguindo o exemplo dos demais. A saída é nos separarmos da massa e ficarmos a salvo”, aponta (I, p. 45).
Os políticos romanos foram mestres em explorar o sentimento da massa, seja nos programas sociais, nos espetáculos de carnificina na Arena do Colosseo, nas festas religiosas para entreter e distrair o povo diante dos problemas mais sérios da sociedade; imperadores sabiam que o gosto popular, embora bestial, serve de parâmetro para, pela força midiática da maioria, iludir e manipular a própria fonte dos sentimentos: o povo, ora. No Novo Testamento, essa demagogia tem um momento dramático, decisivo, no “Cristo ou Barrabás” (Mateus 27.17) usado pelo procurador romano Pontius Pilatus (?-38-39).
O conceito enganoso de que o sentimento de uma determinada maioria indica a direção a tomar pode ser verificado em situações mais práticas e, neste aspecto, pensei em um entusiasmado jovem sobre a ideia de tentar a vida como contador em Portugal pois, argumentou, “tem muita gente falando em ir para lá e deve estar bom então”; eis o tipo de pensamento de manada que pode arruinar uma vida quando dispensa acurada avaliação, no caso com forte peso de conhecimento de economia sobre o mercado onde se pretende atuar, questão negligenciada em favor de um “achismo” mediante o que uma quantidade razoável pensa em fazer atraída por expectativas que soam mais no campo da rasa especulação do que qualquer outra coisa.
Em outro caso, a frustração de quem abriu uma pequena farmácia, incentivado pelo aparente sucesso de amigos no mesmo ramo, e descobriu que mais quatro pessoas tiveram a mesma ideia no bairro. Outra situação de manada se deu em uma desastrosa decisão de se investir em um fundo atrelado a empresas de varejo, que passaram por crises (uma vive em um escândalo), o que torrou economias de anos apenas pela fé em recomendações comuns que se escutou em vários especialistas do mercado, com o argumento apelativo à maioria, de que todos não poderiam estar errados.
Um jovem portador de CRC que, sem melhor percepção do que ocorre no mercado de serviços de burocracia, desistiu da profissão contábil, pois vive como taxmaker (elaborador de guias de impostos), enquanto segue a se perguntar porque a “classe” está tão desvalorizada… Primeiro, “classe” indica uma confusão entre o que consegue ver e a amplitude do mercado, onde há contadores que são muito bem pagos, pois exercem de fato a profissão (produzem legítimos trabalhos em contabilidade); segundo, a falta de percepção de que se está em uma manada ou seja, na massa de elaboradores de guias de recolhimento de tributos, serviço de farta oferta que se encontra em qualquer esquina (e por isso se tornaram tão baratos).
Em síntese, no caso do jovem contador no muro das lamentações, se há algo a ser feito, consiste em fugir da manada, tornar-se raro, ou contador de verdade, para ser valorizado e entender o porquê de profissionais que encerram balanços, apuram e analisam resultados serem tão bem pagos e os que se limitam a fazer DARF se tornam tão baratos.
Contudo, nada é mais danoso socialmente, no comportamento de manada, do que um indivíduo munido de título de eleitor que decide em favor de quem está à frente em pesquisas para “não perder o voto” ou simplesmente se deixa levar pela percepção do sentimento que prevalece na maioria que o cerca. Neste ponto, torno à Sêneca quando, mais uma vez moderníssimo, adverte que “as pessoas entram em conflito com a razão em defesa de sua própria desgraça. A mesma coisa acontece nas eleições. Aqueles que foram eleitos para o cargo de pretores[1] são admirados pelos que os elegeram. O beneplácito popular é volúvel. Aprovamos algo que logo depois é condenado. Este é o resultado de toda decisão com base no parecer da maioria” (I, p. 46).
Torna a pensar que há cerca de dois mil anos isso foi escrito, e parece ter sido especialmente endereçado à nossa geração…
1. Pretor era um magistrado romano, hierarquicamente subordinado ao cônsul, modernamente equivalendo ao juiz ordinário ou de primeira instância. (N.T.)
177. Obra: Os Axiomas de Zurique. O 10o. Grande Axioma: Do Consenso. Best bussines, Rio de Janeiro, 2019. Tradução de Isaac Piltcher. De Max Gunther (Inglaterra, 1927-1998)
21/09/2023 20h25
Imagem: Voltaire Fundation

“O corporativismo predispõe maravilhosamente para o entusiasmo. Não há facção que não possua os seus energúmenos.
Especialmente, o entusiasmo é a herança da devoção mal compreendida.”
Obra: Dicionário Filosófico. Capítulo 47. Entusiasmo. Martin Claret, 2002, São Paulo. Tradução de Pietro Nassetti. De François-Marie Arouet (France/Paris, 1694-1778), pseudônimo Voltaire.
Entusiasmo é um precioso insumo para quem se ocupa em produzir conteúdo para energúmenos, onde se canalizam sentimentos e anseios de uma “devoção mal compreendida”.
Diz Voltaire que o significado do termo em grego é “emoção das entranhas”, “agitação interior”, e indaga se não fora inventada na língua helênica “para exprimir os abalos que experimentam os nervos” (p. 182). Lembrei-me de um pastor que ficou viciado em pregar prosperidade e entorpecer suas ovelhas com ilusões de uma antropocêntrica teologia de coaching, que lota auditórios de ateus em busca de auto ajuda e ainda não se descobriram como tais, e crentes que não conseguem deixar de usar fraudas metafísicas, quando um dia descobriu tragicamente o que São Paulo avisa nas epístolas sobre a realidade de se viver pela fé. Torno ao tópico na obra de Voltaire que diz coisa rara de se ver é quem consiga aliar razão ao entusiasmo e então sai com uma ironia fina quando argumenta que a razão “consiste sempre em ver as coisas como elas são. É como aquele que, durante a bebedeira, vê as coisas a dobrar, pois nesse momento está com a razão entorpecida” (p. 183).
Recordo-me de alguns momentos de entusiasmo pessoal… nas ideias revolucionárias de meu herói de adolescência, Marx, abaladas com o fim da URSS e sepultadas com a assessoria literária do distinto senhor Mises, nos tempos em que fui um fiscal mirim do Sarney, devidamente alienado de uma educação econômica pelo tabelamento de preços dos anos 1980, quando pensei em me tornar um “apologeta da fé” no final dos anos 1990 (que livramento!), quando votava (quanto tempo!), especialmente em políticos de esquerda, crente nas boas intenções do mundo político e nos tempos em que tinha a capacidade de assistir a uma partida de futebol do meu sofrido Tricolor do Arruda,
20/09/2023 22h08
Imagem: Luciana Amorim

“La trasformazione della Città profana nella Città santa, del Monarcato imperiale nel Papato, dello Stato romano nella Chiesa romana, è il fenomeno forse più meraviglioso che si riscontri nella storia.”
Obra: Storia della città di Roma. Nel médio evo sal secolo V al XVI. Venezia e Torino. Giuseppe Antonelli e L. Basadonna Edit. M DCCC LXVI. Prima versione italiana di Renato Manzato.De Ferdinando Gregorovius (Polônia/Nidzica, 1821-1891).
De um certo modo, parte da essência do Império Romano continuou, por adaptação da organização de um sistema político para um “ordenamento eclesiástico” o qual está no centro o imperador, sendo pontífice e vigário de Cristo uma versão de monarca religioso e político na mesma cátedra; o antigo senado de Roma como modelo para o conselho dos cardeais e dos bispos, o princípio do governo constitucional, não adotado pelos césares, introduzido através dos concílios e sínodos, e a figura do governador de província que é lembrada com a do bispo (vescovo) consagrado por Roma, dentro de um sistema de hierarquia, além dos “claustros fundados em todas as partes que lembravam as antigas colônias romanas”, aponta o autor (p. 29)
Caminhado no último recesso, diante das ruínas na Via dei Fori Imperiali, pensei nas palavras da guia italiana em minha primeira visita ao museu do Vaticano (2018), quando mencionou esse legado vasto e riquíssimo; meditei como a instituição romana segue na história onde a Igreja Católica se tornou sua maior herdeira, mestra em atravessar os séculos, assim como o judaísmo, donde nasceu a fé cristã. Pensei em tantos elementos culturais que me cercam, a começar pela língua nativa, a madre lusitana que veio de um braço por onde passou por “mutações”, do galego português até se chegar ao latim do povo ou uma versão “vulgar” nesse DNA imenso que pode ser encontrado no ordenamento jurídico e, de uma forma mais enfática, na geopolítica que parece seguir o drama do “eterno retorno” quando se vê ao longo da história projetos imperialistas que me fazem pensar na tese de O jardim das aflições, de Olavo de Carvalho, bem como pensei nas festas religiosas, sobretudo dos antepassados que se associam à veneração aos santos, em relação ao que se tinha no sistema estatal (paganismo), em uma rede de tradições incorporadas à fé cristã em modo de catolicismo que não poderia ter outro sobrenome a não ser “romano”.
19/09/2023 23h34
Imagem: Vaticano

No acto conjugal é imprescindível a finalidade unitiva e procriativa
11 de julho de 1984
Obra: Teologia do Corpo. Lições de 04/07/1984, 11/07/1984, 18/07/1984, 25/07/1984, 01/08/1984, 08/08/1984, 22/08/1984, 29/08/1984, 02/09/1984, 03/10/1984, 10/10/1984 e 24/10/1984. Alêtheia Editores, 2013, Várzea da Rainha Impressores, Óbidos, Portugal, eBook Kindle. Tradução a partir da edição portuguesa do Observatório Romano. De Karol Józef Wojtyła (Polônia/Wadowice, 1920-2005), S. Ioannes Paulus PP. II (1978-2005), São João Paulo II.
Resumo das lições de São João Paulo II de 04/07/1984 a 24/10/1984, a começar pela Carta aos Efésios onde aponta seu referimento ao matrimônio como “um grande mistério” (5, 32), na união Cristo-Igreja em analogia ao sinal sacramental do pacto esponsal homem-mulher (5,21).
A lógica do texto nos liberta dos elementos do maniqueísmo, aproxima a “linguagem do corpo” no sinal sacramental do matrimônio, à dimensão da santidade real, cuja liturgia eleva o pacto conjugal, embasado na “linguagem do corpo” relida na verdade, às dimensões do “mistério” a confiar ao homem e à mulher, o amor, a fidelidade e a honestidade, a unidade e a indissolubilidade, como dever do “sacrum“, no ethos (conforme Romanos 8, 23) radicado na libertação do corpo. A “linguagem do corpo” exprime não somente o fascínio e o prazer recíproco no Cântico dos Cânticos, cujo “temor de Cristo” é uma forma espiritualmente madura deste fascínio, o frutificar do dom falado por São Paulo na Primeira Carta aos Tessalonicenses (4, 4-7), que se revela pela primeira vez no Gênesis (23-25), assim como se vê em concisa e concentrada expressão no Livro de Tobias. Por outro lado, há a castidade como dom do Espírito Santo (Gálatas 5,25) e virtude, no centro da espiritualidade conjugal.
A Igreja ensina os dois significados do ato conjugal: o unitivo e o procriativo, e segundo a expressão bíblica, os cônjuges se tornam “uma só carne”. Por meio da encíclica Humanae Vitae, derivada da lei natural, aponta-se este fundamento que determina a moralidade das ações do homem e da mulher na esfera da sexualidade pela sua estrutura íntima, como releitura da “linguagem do corpo”. A Encíclica de Paulo VI faz referência ao “acordo humano com o respeito pela vida” onde se pode ler na Gaudium et Spes (51) que “a Igreja recorda que não pode haver verdadeira contradição entre as leis divinas que regem a transmissão da vida e as que favorecem o amor conjugal autêntico”. Na busca do verdadeiro bem ao ser humano, a Encíclica e o Concílio Vaticano II intentam na descoberta cada vez mais clara do desígnio de Deus sobre o amor humano na possibilidade de observância da lei divina.
O documento pontifício Humanae Vitae indica a virtude da castidade conjugal como meio que possibilita o verdadeiro amor da mútua doação e da procriação. No Concílio Vaticano II se ensina que os cônjuges devem cumprir sua missão com plena responsabilidade humana e cristã e com dócil reverência para com Deus (Gaudium et Spes, 51), o que significa em mútuo acordo, em juízo reto, em última análise diante de Deus, atendendo ao bem próprio e dos filhos, os nascidos e os a nascer, dando o caráter moral da paternidade e da maternidade responsáveis, o que também inclui a possibilidade de se evitar um “novo nascimento” (Humanae Vitae, 10) sem a moralmente ilícita da interrupção direta do processo generativo já iniciado (“aborto”, Humanae Vitae, 14), a “esterilização direta” e “toda a ação que, ou em previsão do ato conjugal, ou durante sua realização, ou durante o desenvolvimento das suas consequências naturais, se proponha, como fim ou como meio, tornar impossível a criação” (Humanae Vitae 14). ou seja, todos os meios contraceptivos, sendo lícito “o recurso aos períodos infecundos” (Humanae Vitae, 16), em continência periódica como domínio de si, o que regula a natalidade sem impedir os processos naturais, o que não ofende os princípios morais (Humanae Vitae, 16), embora Paulo Vi afirme que métodos não naturais (contraceptivos) e naturais (períodos infecundos) possam ser adotados por “razões plausíveis”, isto não muda a qualificação moral do ato conjugal que consiste em manter a adequada relação entre o que é definido sobre o domínio das forças da natureza e o domínio de si. A regulação da natalidade exige dos esposos sólidas convicções acerca dos verdadeiros valores da vida e da família, a exigir comportamento familiar e procriativo.
O homem contemporâneo manifesta a tendência de transferir os métodos próprios de transmissão das forças naturezas para o domínio de si, questão abordada na Humanae Vitae (2). A transposição dos meios artificiais infringe a dimensão constitutiva da pessoa, faz do ser humano um objeto de manipulação. O corpo humano é meio de expressão do homem integral através da “linguagem do corpo” na dimensão sacramental e da personalística, não apenas um campo de caráter sexual. O homem e a mulher desenvolvem na “linguagem do corpo” o diálogo de Gênesis 2-24-25, que iniciou no dia da criação, subordinados às exigências da verdade., onde estão o ato de amor e a potencial fecundidade; no ato conjugal não é lícito separar artificialmente o significado unitivo do significado procriativo, pois se realizam um com o outro e em certo sentido, um através do outro (Humanae Vitae, 12) para corresponder à verdade interior e à dignidade da comunhão ao nível próprio das pessoas (communio personarum) cuja violação constitui o mal essencial do ato contraceptivo e não pode ser entendida, de modo teologicamente adequado, sem as reflexões sobre o tema da “concupiscência da carne”.
A vida humana é sagrada, como recordou João XXIII (Mater et Magistra), e desde a partir de sua origem, empenha diretamente para ação criadora de Deus (AAS 53, 1961; cf Humanae Vitae, 13), cuja motivação imediata quer que, “para distanciar os nascimentos, existam motivos sérios que derivem ou das condições físicas ou psicológicas dos cônjuges, ou de circunstâncias exteriores…” (Humanae Vitae, 16). O homem, como racional e livre, pode e deve reler com perspicácia o ritmo biológico da ordem natural; a regulação natural da natalidade, pela continência periódica mediante castidade conjugal, é atitude ética que, na linguagem bíblica, se trata de viver segundo o Espírito (Gálatas 5, 25), para assegurar a integral verdade da “linguagem do corpo”, extirpar o egoísmo, favorecer a atenção dos cônjuges um para com o outro, influenciar de forma mais profunda e eficaz na educação dos filhos nos valores humanos em harmonia com as faculdades espirituais (e sensitivas (Humanae Vitae, 21), a aprofundar o sentido de responsabilidade em um justo nível em conta não apenas do bem da própria família, mas a considerar as possibilidades do casal, o bem da sociedade, da Igreja e até da humanidade inteira.
A paternidade responsável no controle da natalidade, por meios naturais, não se trata apenas de uma “técnica” e sim na integral maturidade moral das pessoas; a redução à mera regularidade biológica, separada do “plano do Criador” ou da “ordem da natureza”, deforma o autêntico pensamento da Humanae Vitae (14). É preciso entender que o “corpo fala” não apenas com a expressão externa na masculinidade e na feminilidade, mas também nas estruturas internas do organismo, na reação somática e psicossomática e estes elementos devem estar em diálogo com os cônjuges em comunhão, com o sacramento do matrimônio a fortalecer e, de certo modo, os consagrar para alcançar “a própria vocação para a perfeição” (Humanae Vitae, 25). Nesse processo, onde o casal passa por dificuldades, por vezes graves, o amor infundido no coração é a força essencial para participar do amor de Deus, que “rejubila com a verdade” (I Coríntios 13, 6), “derramado nos corações” (Romanos 5,5), e nesse fundamento os cônjuges devem implorar tal “força” essencial e todo o “auxílio divino” com a oração, na Eucaristia, para superar “com humilde perseverança” as próprias faltas e os próprios pecados no sacramento da Penitência. Tais meios são infalíveis e indispensáveis para formar a espiritualidade na vida conjugal e familiar.
Se as forças de concupiscência tentam afastar a “linguagem do corpo” da verdade, da paternidade e da maternidade responsáveis, pela continência periódica, mediante os dois significados do ato conjugal (Humanae Vitae, 12); em suma, tentam falsificá-la, é a “força do amor” que corrobora para que o mistério da redenção do corpo posso frutificar nela, como ordem moral da vida dos cônjuges (Gaudium et Spes) para que se tenha uma progressiva educação do autocontrole para o domínio sobre a concupiscência, a envolver a continência periódica para o controle natural da natalidade, o que remete ao Autor da Carta aos Efésios sobre os esposos “sujeitarem-se uns aos outros no temor de Cristo” (5, 21). A virtude da castidade com vistas a responsabilidade dos cônjuges está em conexão (nexus virtutum) com a prudência, a fortaleza e, sobretudo, a caridade, por valores mais profundos e mais maduros que surgem do amor e constituem a verdade interior em uma autêntica liberdade do dom de recíproca relação das pessoas, onde as manifestações afetivas se enriquecem pela espiritualidade; não há contradição entre os significados do atos unitivo e procriativo e sim uma “dificuldade” no íntimo do homem da concupiscência e nessa situação é confiada e esse homem interior, a verdadeira ordem da convivência conjugal, mediante a necessidade de um empenho em um vasto terreno onde se matura a decisão de um ato conjugal, em vista de que os esposos são “fortalecidos e como que consagrados” (Humanae Vitae, 25) pelo sacramento do matrimônio.
18/09/2023 00h08
Imagem: Alchetron

“Como o estado e a doença estatista podem ser detidos? Darei início agora às minhas considerações estratégicas. Em primeiro lugar, três princípios norteadores ou insights fundamentais devem ser identificados. Primeiro: que a proteção da propriedade privada e a lei, justiça e a imposição da lei, são essenciais para qualquer sociedade humana.[…]”
Obra: O que deve ser feito. Estratégia: deter a doença estatal. Mises Brasil, 2013, São Paulo. Tradução de Fernando Fiori Chiocca. De Hans-Hermann Hoppe (Alemanha/Baixa Saxônia, 1949).
Em 1902 Lênin publicou “Que fazer?” sobre como implantar o comunismo. Em 1997, Hoppe apresentou a palestra What Must Be Bone, que parece ser uma curiosa provocação, uma versão austro-libertária.
Encontrei quem confundisse austro-libertário com “comunista”; notei por conta da aversão comum ao estado e, principalmente, por desconhecimento do básico sobre esta ala da Escola Austríaca (EA). O pilar da propriedade privada, convenhamos, não combina com comunismo (quanto aos meios de produção), contudo, insere-se o conceito de “auto governo” que se relaciona com o tema de “leis privadas” onde, quando se fala em “lei”, uma mente educada no escopo do estado moderno vem com a compreensão automática como sinônimo de “legislação” o que, na visão austro-libertária, é um entendimento diverso, que não se concebe.
Será possível uma sociedade sob propriedade privada de meios produtivos e sem estado? Acredito que a maior contribuição dessa linha da EA consiste em apontar problemas éticos em torno do arranjo estatal. Ignorá-los não me parece coisa inteligente. A questão pode ser melhor avaliada quando se pondera a crítica austro-libertária sobre os monopólios do estado, no entanto, uma coisa é apresentar uma crítica, outra é fazer proposição e, neste último ponto, o austro-libertarianismo parece travado ou carente de depuração e assim é normalmente associado a utopia.
Afirma o filósofo alemão, na segunda “consideração estratégica”, que “toda centralização política deve ser rejeitada por uma questão de princípios. Por sua vez, toda tentativa de descentralização política – separação, secessão etc. – deve ser apoiada” (p. 25). Será usual então ver austro-libertário na defesa por separação, secessão ou, no termo popular, “independência” de unidades federativas. Um austro-libertário está mais próximo dos cantões suíços do que da União Europeia. Na visão austro-libertária, a prefeitura tem certo apreço enquanto o governo federal é o que deve ser logo desmantelado. Por conta dessa concepção, repudia-se todo esquema que aumente a concentração de poder.
O terceiro ponto é, certamente, o mais polêmico a não versados e consiste na visão sobre a democracia; “a ideia da democracia deve ser ridicularizada: ela não é nada além da dominação de uma turba posando como justiça. Ser chamado de democrata deve ser considerado a pior de todas as ofensas!” (pp 25-26) e não ficaria surpreso se o mesmo que confunde “austro-libertário” com comunista, ao perceber que o seu pré-conceito não combina com a descoberta de que esse tipo tão estranho não abre mão da propriedade privada (e que comunista em uma sociedade austro-libertária seria removido fisicamente), passar a acreditar que esse tal tão diferente é na verdade um “fascista”, mas também será frustrado, porque na visão política do austro-libertarianismo, ditador, tirano e demais tipos autoritários não são suportados, não importa a ideologia, não faz diferença o lado; figuras como Stalin, Hitler e Mussolini são aberrações nessa visão de sociedade, bem como tipos como a família Fidel, Maduro, Putin e o gordinho atômico da Coréia do Norte são monstruosidades; qualquer forma de governo que seja baseada em coerção e implique em monopólio é antítese para a concepção de austro-libertarianismo cuja pauta consiste em desmonopolizar a proteção e a justiça (p. 26), o que só é compatível em uma sociedade onde os serviços são totalmente privados, o que significa que é uma visão de sociedade baseada na lei e na ordem, cuja relação enseja em adesão. Hoppe indica a adoção de companhias de seguros na oferta de tais serviços como parte do que fazer para implementação de uma sociedade austro-libertária.
17/09/2023 14h21
Imagem: verafelicidade.com/sobre

“Como saber se o que se percebe é o existente ou é extrapolado, encontrado em função de distorções e parcializações?”
Obra: Como perceber e transformar a neurose. Trabalho psicoterápico. Evidência e causalidade. Labrador, 2017, São Paulo. De Vera Felicidade de Almeida Campos (Brasil/Bahia/irará, 1942)
Obra muito interessante sobre a neurose, da psicóloga Vera Felicidade, fundadora da Psicologia da Gestalt, que compõe a série (pessoal e imaginária) Intelectuais que enobrecem o Brasil.
Quanto ao trecho, no hábito de tentar extrair de leituras o que possa ser edificante, não apenas na vida pessoal, permito-me fazer uma “relação reflexiva” com o meu cotidiano profissional.
Diante de uma situação problemática, o que consigo perceber é suficiente para uma precisa boa compreensão da realidade? Não há um dia sequer que não penso nesta pergunta em diversos momentos.
Hoje, em muitas ocasiões o “não” é a resposta, enquanto penso que em outros tempos seria um retumbante e orgulhoso “sim”; lembro-me do tempo em que eu sabia de tantas coisas, tinha muitas certezas na vida, das questões mais filosóficas, passando por problemas políticos, sociais e econômicos até as mais simples, do cotidiano profissional. Perguntaram-me por que não faço parte de grupos políticos e não entro em discussões do tipo, e a resposta está na minha ignorância; ora, ora, grupos políticos estão repletos de certezas as quais meu espírito cognitivo é incapaz de acompanhar. Esse meu eu de outrora tão pleno de certezas foi morrendo para que germinasse um “decepcionante” eu confesso do “não sei”, enquanto motivador, a cada dia tenta melhor se relacionar no tratamento da própria ignorância com o (inconveniente) ato de questionar, definido pela autora “como atitude que permite ultrapassar dúvidas e impasses, é o que possibilita acesso a horizontes relacionais que ampliam o evidenciado” (p. 59).
Convocado a um parecer, o interlocutor parecia decepcionado com a conversa inicial quando fui perguntado acerca de “causas” das dificuldades enfrentadas em um determinado contexto. “Por que você acha que está acontecendo isso ou aquilo?”, e o meu eu, ignorante confesso, respondia: “não sei, vamos apurar”, e este repetido “não sei” o incomodou a ponto de indagar (de forma indelicada) se eu tinha certeza de alguma coisa sobre o assunto que tratávamos. Nos tempos atuais é comum encontrar pessoas um tanto ávidas, ansiosas, munidas de imediatismos e crenças em “soluções mágicas”, e ao se depararem com alguém tão desinteressante intelectualmente, que prefere reconhecer que não sabe de muitas coisas, que não tem respostas acabadas como se fossem produtos de uma prateleira de conveniência, tal suporte é inconcebível, enquanto frustrante, sobretudo para quem lida no mundo onde o “céu de brigadeiro” de uma boa propaganda, muitas vezes, não se confirma quando as soluções anunciadas entram na dura realidade da prática. Foi então que expliquei ao jovem que diante de um ambiente desconhecido, preciso compreendê-lo bem e para isso evito pré-julgamentos, faço da dúvida um meio de segurança e investigação para construção de possíveis respostas para que sejam encontradas soluções propositivas.
A percepção “é um processo editado segundo nossas limitações, necessidades e possibilidades” (p. 61), afirma a autora, e sobre isso medito acerca de outra situação prática, tão comum durante atendimentos de suporte, quando surge um problema relativamente complexo e, ao iniciar a verificação se repete o tal do “não sei”, não raramente percebo um tanto de frustração, sobretudo quando se espera por soluções rápidas munidas de um “deve ser isso” ou ” acho que é aquilo”, e a situação se agrava quando, no achismo, o cliente tomou procedimentos sem conhecimento do suporte (às vezes inspirado em centros de “ansiosos por soluções breves”, mais conhecidos por “grupos de WhatsApp”) que pioraram o quadro, muitas vezes provocando outros problemas. Uma percepção insuficiente tem enorme potencial de provocar estragos, e na falta de processos investigativos mais depurados, munido pelo que se pensa, deseja, teme ou imagina (p. 62), “sem dados empíricos, resultantes de experiências satisfatórias/insatisfatórias” (p. 60), prevalecem distorções perceptivas, debilidades inerentes ao ser humano e para tentar neutralizá-las, torno ao meu “não sei”, sistematizo dúvidas, faço relacionamentos dos problemas com bases de conhecimento, adoto checklist como processos observados (p. 63) para depurar possibilidades entre erros e acertos identificados, na medida em que referencio fatos, até que seja percebida uma evidência capaz de possibilitar a mudança (p. 61), tenha-se a melhor percepção e, finalmente, seja possível apontar uma solução.
Há raras situações em que, mesmo após ter aplicado todo o processo sucintamente descrito no parágrafo anterior, em questões mais complexas ocorrem a negação do cliente quanto às evidências e aos procedimentos recomendados; é quando a crença sobre o que se pensa prevalece e então chego a um determinado limite (o suporte necessário, talvez, seja outro, quem sabe psicoterápico), o que me faz refletir sobre a possibilidade de estar diante de um caso tocante ao termo que compõe o título deste bom livro (p. 37).
16/09/2023 14h56
Imagem: Antígona

“[…] la première raison de la servitude volontaire, c’est l’habitude ; comme il arrive aux plus braves courtauds [30] qui d’abord mordent leur frein et puis après s’en jouent; qui, regimbent naguère sous la selle, se présentent maintenant d’eux-mêmes, sous le briallant harnais, et, tout fiers, se rengorgent et se pavanent sous l’armure qui les couvre. […]”
30. Cheval qui a crin et oreilles coupés.
Obra: Discours de la servitude volontaire. Édition électronique a été réalisée par Claude Ovtcharenko, 2006, Québec. De Étienne de La Boétie (France/Sarlat-la-Canéda, 1530-1563).
Edição em francês moderno, do século XIX. Manuscrito de 1549, quando tinha 19 anos, publicado em 1576 (p. 6), sendo uma das reflexões sobre a liberdade mais impactantes que apreciei.
Sobre o trecho, “a primeira razão da servidão voluntária é o hábito” (p. 27), pensei em São Tomás de Aquino, o qual diria “vício”, e assim, em relação à nota, penso, o homem no caminho da servidão (aqui prefiro pensar em Hayek) acaba por achar graça do jugo que lhe é imposto, como um cavalo bastardo sob freios que se acostuma com a dor de quem o doma depois de resistir um tanto, segue bestializado, assim são os homens que não conseguem enxergar o valor da liberdade, “hesitantes sob a sela e o arreio reluzente, todos orgulhosos que se incham e se pavoneiam sob a armadura que os cobre”.
A vida está repleta de pessoas que preferem a submissão a ter que defender a própria liberdade, muitas vezes em troca de “vantagens” imediatas que, aparentemente, compensam, sendo a modernidade estatizante, em torno do “cidadão”, o mais notório caso. O estado “tutela”, “cuida”, “presta serviços” (a maior das dissonâncias cognitivas se dá quando a coerção se torna camuflada) enquanto é necessário impor meticulosos controles sociais que privam as pessoas de muitas liberdades de escolha e ridiculariza sua privacidade. Quantas vezes ouvi argumentos de que os controles sociais do estado são legítimos, extremamente importantes, indispensáveis, nas crenças da gestão eficiente do aparato e da boa cessão de “benefícios” para o bem estar, evitar fraudes e uso indevido de recursos… Quanta vezes ouvi apaixonadas explanações apologéticas para o Big Brother Fiscal e mais taxações para que a tal “justiça” e a “segurança” dos “contribuintes” (termo deboche) sejam alcançadas…
A força coercitiva que induz ao hábito faz com que a servidão passe a ser normalmente aceita e até louvada; com o tempo, a sujeição forma indivíduos que passam a ter desprezo da defesa da liberdade, que chega a soar até como coisa subversiva. Os poucos defensores da liberdade que resistem são evitados, marginalizados, enquanto estão no mesmo lado produtivo onde se situam os “súditos” ou os “cavalos” do estado moderno; trabalham, produzem riqueza e se deparam com uma super estrutura que cada vez mais os aliena da autonomia, e enquanto chicoteados pelo guia da carroça, entram em um estado bestial como se essa mesma super estrutura fosse uma coisa intocável, santificada, e não estivesse baseada em um jogo de cretinices que os explora pela concentração de poder e privilégios que formam castas de políticos, correligionários profissionais e funcionários ditos “públicos”, todos consumidores de tributos, bancados pelos que dela esperam, multiplicando escravizados que entendem que não podem fazer por si mesmos, e sendo tratados como “incapazes” de cuidarem de muitas de suas próprias demandas, são tratados como “capazes” para elegerem seus “tutores”.
Na servidão voluntária, crenças religiosas são úteis para a manutenção do sujeição, da manipulação, do controle social; no caso do contexto de monarquia, em que se situa o jovem genial autor, refere-se à monarquia. Outro aspecto dessa servidão voluntária me faz pensar em meu contexto, e diz respeito a um efeito que compreendo na alienação face ao que sucede pelo operacional ou pela dificuldades criadas pelo aparato do estado que passam a ser concebidas como “oportunidades” para que sejam oferecidas “facilidades”. Essa relação sinistra reforça a ideia da sujeição como coisa necessária, para os que vivem dela, obviamente, e quanto mais se passa a impressão de que muitos dela necessitam, maior será o seu poder. O ambiente de maior destaque deste vício, em minhas experiências, é o de contadores e profissionais afins que se tornam adestrados por entidades que servem como linhas auxiliares para que o aparato do estado aprofunde o regime de servidão por seus controles sociais enquanto o público alvo é imbecilizado e os que apresentam críticas, desqualificados, quando não expulsos, silenciados. Aos 38-40 anos como observador de fóruns de contadores com o fisco (2013/2014/2015), pude observar tais debilidades de servidão voluntária o que, em uma visão abrangente, em 2007 notava o quanto pesa essa patologia coletiva na sociedade brasileira, tão bem “educada” para viver em torno do estado e assim se acostumou com a servidão a ponto de até defendê-la o que, na essência, Étienne de La Boétie tinha plena consciência no século XVI, aos 19 anos de idade.
15/09/2023 20h45
Imagem: Biblioteca Nacional de Portugal

“Quem havia de crer que em uma colônia chamada de portugueses se visse a Igreja sem obediência, as censuras sem temor, o sacerdócio sem respeito, e as pessoas e os lugares sagrados sem imunidade? […] Mas que será dos pobres e miseráveis índios, que são a presa e os despojos de toda esta guerra? Que será dos cristãos? Que será dos catecúmenos? Que será dos gentios? […]”
Obra: Sermão da Epifânia ou do Evangelho. Em Sermões Escolhidos. Martin Claret, 2004, São Paulo. De Padre António Vieira (Portugal/Lisboa, 1608-1697).
Este sermão é de uma eloquência extraordinária, repleto de referências históricas de pensadores da Igreja, além de analogias provocantes que inspiram releituras e novas experiências literárias. Foi pregado em Lisboa na capela Real à rainha D. Luiza, regente do menor D. Afonso VI, no ano de 1662.
O contexto é de um retorno atribulado de missionários da Companhia de Jesus, expulsos da capitania do Maranhão “pela fúria do povo por defenderem os injustos cativeiros e liberdade dos índios que tinham a seu cargo” (p. 141, nota 1). Um caso “tão feio, tão horrendo, tão atroz, e tão sacrílego que não se pode dizer, é tão público e tão notório que não se deve calar” (p. 149), onde os perseguidores da fé pregada pelos missionários não foram os infiéis e gentios, mas os cristãos (p. 153) ou seja, os colonizadores incomodados com a resistência de pregadores aos planos de servidão dos nativos; “Querem que tragamos os gentios à fé, e que os entreguemos à cobiça; querem que tragamos as ovelhas ao rebanho, e que as entreguemos ao cutelo”, após fazer uma interessante analogia com a providencia divina sobre os Magos que vieram adorar a Cristo e foram livrados das mãos de Herodes (p. 165).
“E porque encontramos esta sem razão, nós somos os desarrazoados; porque resistimos a esta injustiça, nós somos os injustos, porque contradizemos esta impiedade, nós somos os ímpios” (p. 165).
Então admoesta que não pode haver Cristandade sem que os ministros do Evangelho tragam os gentios à adoração bem como os livre da tirania; não existe evangelização com privação da liberdade. É uma crítica devastadora a cristãos metidos nos poderes do Estado que se pautam pelo poder em “os fins justificam os meios” (aproveito a citação de ontem). À mon avis, não vejo uma proto ideologia da teologia da libertação; percebo que rejeita categoricamente a ideia de pregação do Evangelho da Igreja quando, em parceria com o aparato estatal (contexto da colonização), este em comum conluio com interesses de empreendedores aliados (amigos do rei), cultiva-se a opressão sobre quem os missionários buscam alcançar pela fé. Penso que ficou bem claro no sermão que o objetivo é a fé no Evangelho e não em propósitos políticos, sem dissociar a missão espiritual da dignidade social humana.
14/09/2023 21h53
Imagem: military-history

“[…] e nelle azioni di tutti gli uomini, e massime de’ Principi, dove non è iudizio da reclamare, si guarda al fine. Facci dunque uno Principe conto di vincere e mantenere lo stato; e’ mezzi saranno sempre iudicati onorevoli, e da ciascuno laudati; […]”
Obra: Il Principe. CAP.18, In chi modo e´principi abbino a mantenere la fede Luigi Firpo, Einaudi, 1961, Torino. De Niccolò di Bernardo dei Machiavelli (Repubblica di Firenze, 1469-1527).
Ao ouvir a citação famosa atribuída a Maquiavel (após breve confusão com um outro príncipe, Le petit, da obra-prima de Antoine-Marie-Roger de Saint-Exupéry) de que “os fins justificam os meios”, feita no STF pelo advogado de um dos réus do processo relativo aos fatos ocorridos em Brasília (DF) no último 8 de janeiro, lembrei-me desta passagem de Il Principe.
Em meu primeiro contato com a obra (2003), pela edição em português da Martin Claret de 2002, consta assim a tradução:
“[…] Na conduta dos homens, especialmente dos príncipes, contra a qual não há recurso, os fins justificam os meios. Portanto, se um príncipe pretende conquistar e manter o poder, os meios que empregue serão sempre tidos como honrosos e elogiados por todos […]
Ao ler a edição que disponho em italiano, não vejo a frase exatamente na forma como se tornou popular, e talvez seja por isso que se possa apontar falsa atribuição, mas aprendi que “ler é interpretar”, e embora não consiga encontrar a expressão na forma direta, ao considerar o contexto onde Maquiavel aponta que o governante lida com governados que se pautam por aparências, penso na relação do “si guarda al fine” (olhar para a finalidade, os fins) com “ i mezzi saranno sempre iudicati onorevoli” (os meios serão sempre julgados honrosos), e então a expressão “os fins justificam os meios” pode ser considerada como uma interpretação, mas também é importante ponderar que se trata de uma síntese não utilizada por Maquiavel no referido texto em italiano.
13/09/2023 23h06
Imagem: Estrategistas

“[…] é impossível que a autorrealização seja o fim último da vida ou o objetivo último do ser humano – ao contrário, quanto mais se guia rumo a ela, menos a encontra. […]”
Obra: A psicoterapia na prática. Parte teórica. Fundamentos da análise existencial e da logoterapia. Vozes, 2019, Petrópolis. Tradução de Vilmar Schneider. De Viktor Emil Frankl (Áustria/Viena, 1905-1997).
No parágrafo anterior menciona como “interpretação equivocada da psiquê humana como algo dominado essencialmente por um princípio de compensação e de equilíbrio” em relação à homeostase como um princípio de regulação, o que não tem validade absoluta nem no âmbito da biologia, tampouco na psicologia. O problema está na concepção antropológica que vê a alma humana como um sistema fechado como se o próprio ser humano atuasse para “estabelecer ou restabelecer estado intrapsíquicos” em uma antropologia a se deslizar para uma monadologia, o que confinaria o ser humano ao “espaço interior do psíquico” (p. 75).
Se a autorrealização não deve ser vista como um fim em si mesma, o que importa então? Realizar um sentido e concretizar valores, aponta (p. 75) e, neste aspecto, penso, em um sentido para o “esvaziar-se a si mesmo”, em pessoas que dedicam suas vidas para servir a causas de maneira que a própria vida está abaixo e conseguem seguir adiante diante de dificuldades onde uma concepção egoísta não poderia suportar, por depende de sempre algo em troca em forma utilitária, sendo o que verdadeiramente define a força da vontade de viver na realização de determinados valores, o que não deixa de ser uma forma da existência se realizar em si mesma, porém pelo que Frankl indica, esse processo se dá per effectum em um mundo que o aguarda por uma missão, onde o ser humano está junto às coisas do mundo e em si (p. 76).
Entendo, em outras palavras, não me cabe ser uma ilha, isolado de propósitos, sem valores a celebrar e, em um sentido mais forte, sem vocação; jamais poderei ser realizável no vazio de estar voltado para mim mesmo enquanto penso na busca de sentido à minha própria existência.
12/09/2023 22h29
Imagem: Diocese de Taubaté

“[…] Sacrificar o que não nos edifica é renovar o pacto com a vida, é estancar a sangria que nos sequestra a vitalidade. […]”
Obra: A hora da essência. Morrer requer liturgia. De verdade. Planeta, 2021, São Paulo. De Fábio José de Melo Silva (Brasil/Minas Gerais/Formiga, 1971).
Celebração dos tempos – por pastor Abdoral
O tempo é o imponderável que traz a conta de minhas decisões na forma de consequências, clama para saber se levarei a minha cruz ou se cairei naquela sedutora máscara que me esconde de verdades que desisti de enfrentar.
Kairós, quando sinto os momentos e me apego a um bom silêncio do espírito que caminha na singeleza de versos, enquanto limitado ao Chronos quando no vulgar de minhas fraquezas sou vencido pela brutalidade do ego.
Tempos passam e não ensinam o que na vida só encontra sentido em uma sabedoria dialética em bem aventuranças e desilusões, quando cessam todos os anseios do velho homem, movido pela mente que se esvazia no mito da terra e se renova no eterno retorno para celebrar a plenitude do homem transcendente, renascido da consciência que paira sobre a existência e se curva mediante o tempo a ser vencido pela eternidade.
11/09/2023 00h02
Imagem: DW
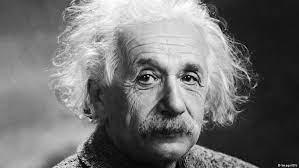
“Senhor e mui digno colega,
Dois homens, dos mais notáveis e mais afamados dentre os cientistas italianos, dirigem-se a mim em sua angústia moral e rogam-me que vos escreva a fim de evitar a cruel iniquidade que ameaça os sábios da Itália. De fato, deveriam prestar um juramento em que se exalta a fidelidade ao sistema fascista. Eu vos peço, portanto, que aconselheis o Senhor Mussolini no sentido de que se evite esta humilhação para a nata da inteligência italiana.
[…]”
Obra: Como vejo o mundo. Capítulo 1. Fascismo e Ciência. Nova Fronteira, 1981, Rio de Janeiro. Tradução de H. P. de Andrade. De Albert Einstein (Alemanha/Ulm, 1879-1955).
Nesta carta ao ministro Rocco, afirma Einstein que “a luta pela verdade deve ter precedência sobre todas as outras lutas”. A verdade é um “Bem Supremo, pago pelo sangue dos mártires” que fez florescer a civilização na Grécia e renasceu na Itália, lembra, sem querer entrar no mérito da discussão política face à liberdade liberdade humana diante de “possibilidades de justificação pela razão de Estado”; a verdade científica deve ser “intocável” ao poder político, defende (p. 15).
Na parte final (A respeito da degradação do homem de ciência), alerta sobre a apropriação de pesquisas científicas por representantes do poder político, “homens moralmente cegos”, e da “concentração econômica engendrada pelos métodos técnicos provindos de suas pesquisas”, e que o poder político, sobre esta base, pertence a “ínfimas minorias que governam à vontade, e completamente, uma multidão anônima, cada vez mais privada de qualquer reação”, e que esta concentração de poder ameaça o homem de ciência em sua “existência profunda” (p. 88).
Curiosamente enquanto alerta sobre essa concentração de poder de estado nação, com suas implicações militares, sugere “uma ordem jurídica supranacional” que “pode ainda salvar a humanidade” (p. 88), no entanto, medito, como esse poder seria desprovido das debilidades de seu exercício se ambos são produzidos por agentes humanos munidos pelo desejo de domínio que enseja força de coerção? Lembrou-me o idealismo do governo dos filósofos em A República, assim como também me lembrou a ácida ironia dos anjos a planejar em governos, por Milton Friedman.
10/09/2023 13h26
Imagem: wikipedia

“[…] O golpe militar, levado a cabo em nome da guerra ao comunismo internacional, tinha posto um oficial da chamada linha “americana” no poder: o marechal Castelo Branco. Isso quer dizer que ele, diferentemente dos chamados “prussianos” (que seriam nacionalistas estatizantes), queria limpar o Brasil do esquerdismo e da corrupção para poder entregá-lo às modernidades do livre mercado. […]”
Obra: Verdade Tropical. Parte 2. Domingo no parque. Companha das Letras, 1997, São Paulo. De Caetano Emanuel Viana Teles Veloso (Brasil/Bahia/Santo Amaro, 1942).
Na dialética que faz o espírito de Uma leitura ao dia, nada como inserir recordações onde Olavo de Carvalho acaba por ficar junto a Caetano Veloso, o que me faz também lembrar de outra idiotice minha nos anos 1990, quando apenas lia o que estava em uma lista de autores que combinavam com minhas crenças, onde se insere o primeiro contato com Verdade Tropical, obra deste notável pensador, compositor e cantor brasileiro, que merece ser apreciado pelo que representa para a esquerda brasileira.
Somente foi possível quebrar a idiotice de ler o que me é agradável quando me afastei do tal “ambiente acadêmico” (2007), período marcante por reflexões mais intensas, enquanto passei a estudar melhor os liberais, sobretudo os clássicos, bem como debutei como leitor dos austríacos em economia (2007), para logo em seguida ter meu primeiro encontro com livros do filósofo Olavo de Carvalho (2008), onde até então tinha lido alguns artigos em jornais.
Passados 25 anos após a primeira leitura de Verdade Tropical, meu eu após os austríacos e Olavo de Carvalho, evidentemente, tem outro olhar, no entanto, o grande legado de ter me livrado da idiotice de me ater à bolha literária (típica de grupinhos que policiam o que pode ou não ser lido a reviver, muitos sem o saber, um traço peculiar nazi-stalin-fascista e em grupo de fundamentalistas religiosos) é poder reler Caetano Veloso e conseguir aprender mais na medida em que deixo o autor “falar”, o que era impossível com a mentalidade que eu tinha nos anos 1990 (quando, ironicamente, tinha mentalidade socialista).
Quanto ao trecho, a priori Caetano Veloso me fez lembrar de um discurso de Castelo Branco:
“Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema-esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária, mas o das reformas que se fizerem necessárias. Creio, firmemente, na compatibilidade do desenvolvimento com os processos democráticos, mas não creio em desenvolvimento à sombra da orgia inflacionária, ilusão e flagelo dos menos favorecidos pela fortuna. E ninguém pode esperar destruí-los sem dar a sua parte no trabalho e no sacrifício, fonte única donde poderá fluir o bem-estar e a prosperidade de todos. Portanto, que cada um faça a sua parte e carregue a sua pedra nesta tarefa de soerguimento nacional.” [176]
Apenas um discurso, prevaleceu no Brasil um regime que rumou ao autoritarismo combinado com um capitalismo de laços, para atender às elites que estavam apavoradas com a hipótese de uma sovietização do Brasil, cujo modelo de desenvolvimento econômico aumentou a carga tributária, os controles sociais, o endividamento de estatais, gerando forte pressão inflacionária que explodiu nos anos 1980, e enquanto longe de ser “liberal”, o modelo agravou o problema da desigualdade de renda, pauta clássica da esquerda que se aproveitou das mazelas sociais, mais nítidas no final do regime, para aperfeiçoar a narrativa anticapitalista sobre a população.
Quanto a pauta das desigualdades, destaco o que aponta Caetano Veloso como síntese de como o golpe de 1964 foi concebido na esquerda; “decisão de sustar o processo de superação das horríveis desigualdades sociais brasileiras e, ao mesmo tempo, de manter a dominação norte-americana no hemisfério”. Destaco o que diz o autor sobre a hegemonia da esquerda no “mundo dos espetáculos”, apesar da censura na imprensa e repressão nas universidades, o que teria sido viabilizado pelas pretensões de uma “arte política, esboçadas em 63 pelos Centros Populares de Cultura da UNE” (p.121) e, neste ponto, enquanto o regime que caminhava para consolidar uma ditadura e jocosamente, indica Veloso, chamava as manifestações de “esquerda festiva”, penso, foi diferente dos modelos fascistas e nazistas nos anos 1930-1940 na Europa, onde as manifestações culturais entraram nos controles políticos sob visão totalitária. Neste contexto, explica Veloso que o tropicalismo pretendia se situar além da esquerda (p.122), por isso não se incomodava com certos juízos, neste aspecto, penso quando menciona “as várias tendências da esquerda se acusavam mutuamente de “festivas” – isto é, irresponsáveis, exibicionistas”, o que denota um cenário de polêmicas entre os próprios esquerdistas ao caráter “despudoradamente festivo”, contudo Veloso cita que fora “um epíteto que nos sentiríamos felizes em poder aplicar literalmente, por exemplo, ao socialismo cubano. Infelizmente a dura realidade nunca nos autorizou a fazê-lo” (p. 122).
Domingo no parte conta curiosidades dos bastidores do programa musical de mesmo nome da TV Record, sobretudo em relação a temores de Gilberto Gil, em relação às possíveis associações políticas não toleradas pelo regime, face ao peso do que se passava na música popular, em meio a problemas pessoais que os fez resistir a adentrar no palco, mas ao consegui fazê-lo, proporcionou uma “apresentação deslumbrante” (p.123).
176. Discurso em 15 de abril de 1964 – Perante o Congresso Nacional, ao tomar posse no cargo de Presidente da República. ver em http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/castello-branco/discursos/1964-1/02.pdf/view
09/09/2023 16h54
Imagem: flickr oficial

“Em grego, idios quer dizer ‘o mesmo’. Idiotes, de onde veio o nosso termo ‘idiota’, é o sujeito que nada enxerga além dele mesmo, que julga tudo pela sua própria pequenez.”
Obra: O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. 4. Moralidade & Inversão. Intelligentzia (mas pode me chamar de MÁFIA). Professores da corrupção. Record, 2017, São Paulo. De Olavo Luiz Pimentel de Carvalho (Brasil/São Paulo, 1947-2022).
Este trecho de Professores da corrupção (p. 283) também é reproduzido na abertura de A idiotice, a apresentação da obra (p. 19).
Em Professores da corrupção, logo após suscitar o problema de uma alma corrompida se tornar medida social de referência em moralidade, Olavo de Carvalho cita Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), certamente um dos mais considerados pensadores da modernidade sob o pano de fundo das “justiças sociais”, mas que “abandonou os filhos num orfanato, mentia mais que um cabo eleitoral, ia regularmente para a cama com as mulheres de seus benfeitores e ainda saia falando mal deles” e em seguida menciona Paulo Moreira Leite (1952) que em um artigo, segundo o processor, tratou sobre a falsidade de todo discurso moralizante e destaca que o autor defendeu que há pessoas de caráter límpido, incapazes de terem “segredos inconfessáveis e ambições que condenam em público mas cultivam na vida privada” (p. 282). Neste aspecto, vejo que Olavo de Carvalho me ajudou a destrinchar um inconciliável conflito (um tanto comum no cotidiano) apresentado como se fosse coisa harmônica; uma crença na concomitância de se ter o “caráter límpido” sem afeição pela ética quando se realizam coisas no privado que as reprova em público, o que também indica a mais grave forma de degeneração moral por parte de quem nela se estabelece.
Sobre a idiotice, penso nela em momentos de minha vida, pois é um problema que cabe de ser rigorosamente tratado a partir de minhas experiências, em vez de me pautar em juízo sobre os outros:
Recordo-me da juventude (anos 1990), quando acreditei que votar apenas em candidatos de esquerda, sobretudo do partido comunista, era uma forma de fazer minhas crenças melhorarem o mundo; partia do pressuposto de que as coisas em que acreditava até então, era a medida de todas as outras, não somente para explicar o mundo, mas a base para torná-lo mais justo, sem perceber os equívocos da crença em si, por pressupostos limitadíssimos, e em seus desdobramentos que caiam inevitavelmente em formas de coerção; refiro-me ao aparato político estatal. Dessa idiotice se derivam muitas crenças em intervenções de estado na sociedade e na economia. Quando a descobri no início dos anos 2000, consegui identificar outras, e uma delas foi a perigosa inclinação à fé religiosa exclusivista, onde residia uma degenerada crença em monopólio da salvação ou no que chamo de sintomas da “síndrome do crente insuportável” (poderia ter sido um), mas esse mal apenas experimentei um pouco, pois caiu por terra quando fui para o seminário e aprendi o valor de cosmovisões diversas para uma melhor compreensão do mundo e, sobretudo, dos textos sagrados.
Outra idiotice que destaco em mim mesmo se relacionou com a primeira, quando não percebia a confusão que fazia entre legalidade e moralidade, um problema seríssimo que tinha ainda no ano 2000 e que tornava impossível questionar problemas éticos mais sofisticados. Se é uma “lei” (na mente que tinha só fazia sentido a estatal) então é o correto indiscutivelmente a ser feito. O meu eu de 2000 não conseguia compreender que as “leis” que dão privilégios a políticos e funcionários ditos “públicos” são legais, mas não necessariamente morais (muitas são indecentes), ou estaria enganado em relação às mordomias, jetons, auxílios diversos, foro privilegiado, tempo menor para aposentadoria, bem como de salários e ordenados vultosos sem referência pelas leis de mercado? A confusão entre o legal e o moral escondia o problema da falsa ligação da coerção com o “bem”, e isso se torna gravíssimo no âmbito coletivo, quando se insere a variável “comum”. Tais debilidades de entendimento não tinham relevância no meu eu de 2000, deficiência que começou a ser melhor tratada em 2007, quando comecei a ler autores da Escola Austríaca. O problema dessa minha idiotice foi de que dela dava chancela de referência para algo que é naturalmente disperso e que exige contínuo esforço por melhorias de interpretação: o mundo real, e isso se torna mais danoso quando entendo que minhas crenças devam ser impostas, disfarçadas de legalidade por meio de algum aparato coletivo institucional de compulsão e coerção; é quando a idiotice ganha a maior dimensão possível como força autoritária.
Mais adiante percebi outra idiotice que me envolvia, foi em 2010 quando acreditava que a corrupção, mais afamada no aparato estatal, seria superada com privatização. Não se trata de defender a volta da estatização (seria uma idiotice maior), mas da crença de que a cultura da maracutaia pode ser derrotada pelas “melhores práticas” do meio privado, o que é, no mínimo, infantil. Às vezes se alega que o meio privado não tolera a corrupção, em relação ao estatal, porque as pessoas cuidam melhor quando a coisa afeta o próprio bolso, o que, entre outros, esconde um problema maior: a corrupção é um fenômeno humano, bem mais abrangente que o estado e o mercado, e o que ocorre é que sua manifestação no âmago estatal tem efeitos socializantes amplos, refiro-me aos “pagadores de impostos”, bem como a todos os cidadãos que, por razões práticas, buscam assistência em entidades estatais com este problema. A corrupção no privado tem efeitos limitados em alguns aspectos, a começar sobre acionistas, investidores, fornecedores, clientes e colaboradores da entidade corrompida, mas também atinge a sociedade de uma forma geral, na medida em trata de uma entidade que preste serviços ou produza bens de extrema necessidade.
Ainda em 2014 me vi na idiotice de (ainda) crer na eficácia de boas intenções de políticos, se bem que eram pouquíssimos àquela altura. Não é que só há políticos desonestos (outra idiotice, pois há gente bem intencionada, mas o problema é no que esbarra a boa intenção), mas o fato de que a honestidade de um político é insuficiente para lidar com derivações do jogo de interesses no corporativismo estatal. Não conseguia perceber que o aparato estatal tem uma força sedutora (mediante o que possibilita legalmente para gastar a riqueza dos outros) maior do que todos os simples mortais e que revela a verdadeira pauta de quem nela se envereda no intento de fazer carreira: lutar pela auto preservação no tabuleiro do poder, o que, não raramente, entra em conflito com necessidades legítimas do bem comum. Por conta dessa idiotice, não conseguia entende como um político “mudava” em comparação na condição de candidato e no que efetivamente passava a fazer no exercício do poder.
Sigo então na busca de outras idiotices em mim, e se não posso salvar o mundo (não há idiotice maior, esta que vivi na adolescência lendo Marx), posso dar minha contribuição na medida em que reedito um eu melhor conhecedor de mim mesmo e menos ignorante, face à amplitude da dispersão dos saberes que fazem o mundo muito além do que consigo enxergar e compreender.
08/09/2023 00h01
Imagem: UAI

“De repente, os idiotas descobriram que são em maior número. Sempre foram em maior número e não percebiam o óbvio ululante. […] E, certo dia, um idiota resolveu testar o poder numérico: — trepou num caixote e fez um discurso. Logo se improvisou uma multidão. O orador teve a solidariedade fulminante dos outros idiotas. A multidão crescia como num pesadelo. Em quinze minutos, mugia, ali, uma massa de meio milhão.”
Obra: A cabra vadia. Os idiotas confessos. Seleção Ruy Castro. Companhia das Letras, 1995, São Paulo. De Nelson Falcão Rodrigues (Brasil/Pernambuco/Recife, 1912-1980).
E segue Nelson Rodrigues a afirmar que “se o orador fosse Cristo, ou Buda, ou Maomé, não teria a audiência de um vira-lata, de um gato vadio”, pois “hoje, só há platéia para o idiota. É preciso ser idiota indubitável para se ter emprego, salários, atuação, influência, amantes, carros, jóias etc. etc.”, e esse “hoje” se refere ao que foi escrito em 19 de agosto de 1968, então, pensei: O que Nelson Rodrigues diria se tivesse vivo para ver a vasta produção direcionada para idiotas hoje disseminada?
Roberto Campos chama de “marteladas datilográficas” (orelhas do livro) os escritos nesta obra e aqui me lembrei de um dito a “Bobby Fields” atribuído sobre a burrice no Brasil ter um passado glorioso e um futuro promissor. E se há quem se queixe da burrice nacional, há os que se aproveitam para ganha a vida explorando-a, para isso basta ver os conteúdos de maiores alcances em redes sociais, carregados de “teorias da conspiração”, “negacionismos” e demais crendices, de política a religiosa, para os mais variados gostos; a idiotice é bem democrática e militante neste aspecto, vai da esquerda que acredita no socialismo, à direita que pensa ser mais esclarecida mediante certas concessões que faz no relacionamento com as leis de mercado, enquanto todos são crentes nas “boas intenções” de seus políticos de estimação. O mercado para vender produtos para idiotas é então vasto, poderoso; o idiota se tornou um tipo de consumidor valioso por formar currais disputados por políticos, líderes religiosos, escritores, artistas, influencers e demais personalidades cultuadas.
A ignorância que supre a idiotice se celebra do ingênuo iletrado ao canalha que opera no ápice dessa patologia, enquanto se rejeita o “gênio, santo, herói ou simplesmente homem de bem”, neste ponto torno ao texto de Rodrigues; a idiotice massificada é um fenômeno global, longe de ser um artigo para orgulho nacional, o espírito de vira-lata não a explica; faz parte dela, penso. A Igreja é lembrada pela hierarquia de 2 mil anos que a preserva da degeneração dos idiotas, porém “no dia em que um coroinha começar a questionar o papa, ou Jesus, ou Virgem Maria, será exatamente o fim”, adverte.
O inglês Wells é lembrado por ter profetizado muita coisa, só não foi capaz de antever a “invasão dos idiotas” e na constatação dessa força irresistível, ninguém escapa: “são professores, sociólogos, poetas, magistrados, cineastas, industriais. O dinheiro, a fé, a ciência, as artes, a tecnologia, a moral, tudo, tudo está nas mãos dos patetas”, aponta.
Este texto me demonstra como Nelson Rodrigues hoje seria insuportável, cancelado, quando penso que os idiotas em sua época não tinham a internet e as redes sociais para potencializarem de forma exponencial um poder de maioria que em 1968 tanto o impressionou.
07/09/2023 15h38
Imagem: EBC

“O retrato do príncipe está me deixando meio transtornada, é tão lindo como um Adônis […]”
Obra: D. Leopoldina. A história não contada. A mulher que arquitetou a independência do Brasil. Parte II. Destino. A embaixada portuguesa à Áustria. A grande entrada de Marialva. Edição da Casa da Palavra, 2017, Rio de Janeiro, eBook Kindle. De Paulo Rezzutti (Brasil/São Paulo/São Paulo, 1972).
A princesa austríaca não podia escolher o marido, como ocorria normalmente na realeza à época (e por que não nos dias atuais, até mesmo além dos nobres?), os casamentos eram todos arranjados, negócios entre nobres onde os filhos eram moedas de trocas; herdeiros tinham que se submeter aos interesses dos pais e a adolescente Leopoldine Caroline Josepha von Habsburg-Lothringen não teria como sair dessa prática e acabou por se tornar prometida ao príncipe português, d. Pedro, após um processo que parecia inviável em uma tentativa inicial quando d. João enviou o marquês de Marialva para tratar com o imperador Napoleão, que tinha o controle dos austríacos, e o plano falhou (p. 66).
Estabelecido no Brasil estava o d. João VI e eis que vou até a obra de Eduardo Bueno [175] e vejo que, enquanto o adolescente Pedro se divertia sexualmente com as escravas, apreciava um banho nu de praia e aprendia a tocar instrumentos em lugares mal adamados do Rio de Janeiro, o rei de Portugal retomou o negócio em 1816 no intento de arrumar uma esposa para o seu sucessor, e encaminhou o marquês de Marialva para tratar do assunto em Viena, onde Navarro de Andrade já tinha acerto com os austríacos, após perceber que não poderia fechar negócio para ter como nora a grã-duquesa russa (p. 66).
Leopoldine Caroline, com o casamento em vias de ser acertado, por interesses econômicos e comerciais (p. 70) onde o caráter da família e do futuro genro não foram questionados, foi logo tratando de estudar a minha amada madre língua e a considerou de “boa sonoridade”, embora “difícil de entender, meio árabe, italiano e francês” (p. 69)., enquanto nutria uma visão curiosa sobre o Brasil, como um lugar “magnífico” (p. 67), e até começou a se interessar pela música brasileira. Tamanho fascínio ilusório da princesa austríaca pelo Brasil, penso, fez Rezzutti mencionar que ela parecia entretida com o mito do “Bom Selvagem”, de Jean-Jacques Rousseau (p. 67, 1712-1778).
Fato é que Leopoldine Caroline parecia um tanto cansada do ambiente político europeu enquanto estava empolgada com a vida que poderia ter no novo mundo, e seguiu nos preparativos ao ponto de impressionar os diplomatas portugueses nas reuniões em que os recebia para tomar conhecimento sobre o Brasil e aproveitava para ler textos em português e os verter para o francês. Culta, inteligente e determinada a dominar a língua tão difícil em sua cultura nativa de língua alemã.
Iludida com o Brasil, maior ilusão se daria com o marido, não por conta da epilepsia que o acometia, e sim pela sua moral degenerada como esposo. O casamento foi confirmado e se deu por procuração (p. 83), em Viena, com um pomposa cerimônia e um banquete farto (p. 87) no entanto, ao ver o retrato do príncipe português, enviado como parte do processo de apresentação, a coerção de se casar para cumprir os negócios da família ganhou um ingrediente quando confessou estar “completamente apaixonada” (p. 81) pelo futuro marido que se tornaria o primeiro imperador do Brasil enquanto se revelava um pesadelo matrimonial, por conta de suas aventuras extra conjugais.
06/09/2023 20h45
Imagem: The Economist

“Fui acusado de tentar aplicar métodos totalitários a uma comunidade livre. Crítica alguma poderia ser mais mal dirigida. Num estado totalitário não existe o problema da distribuição do sacrifício.”
Obra: Como pagar a Guerra (1940). Keynes. Coletânea. Tradução de Miriam Moreira Leite. Editora Ática, 1978, São Paulo. De John Maynard Keynes (Reino Unido/Cambridge, 1883-1946).
Em outros tempos, diria o meu eu de 1997 amante de “coerção do bem”, na ocasião da primeira leitura, “que injustiça com o lorde!”. Hoje, meu eu medita…
O que o lorde quis dizer com “distribuição” do sacrifício está no contexto de 1940, de um texto que consiste nas duas primeiras partes de um livro publicado em fevereiro daquele ano (p. 189), sobre o problema de “adaptar o sistema distributivo de uma comunidade livre às limitações da guerra” onde propunha a oferta de uma recompensa maior mediante o esforço reconhecido e do risco aumentados, a oferta da máxima liberdade de escolha a cada indivíduo e, para os menos capazes, a mitigação do sacrifício necessário (p. 193).
O lorde faz parte de minha formação, o que há um tempo entrava em conflito com o meu lado austríaco em economia, mas hoje percebo que se trata de uma dialética ou um conflito válido à minha superação cotidiana (Hegel manda lembranças) em um eterno retorno nietzschiano adaptado ao pensamento econômico. E eis que aponta em um cenário pautado por conflito bélico mundial, o problema da oferta de bens para consumo diminuir em meio a maior quantidade de dinheiro disponível para gasto dos consumidores, o que “vai se deparar com uma quantidade de bens que não é aumentada” (p. 194); neste reencontro como o texto, penso, neste ponto elementar, que economistas desenvolvimentistas e “liberais de discurso” nos governos, ignoraram este problema durante a pandemia (2020-2021), e o que temos é o efeito da inflação tratada atualmente com um longo ciclo de alta nas taxas de juros pelos bancos centrais, na tentativa de ajustar o que corroboraram com os mesmos governos quando promoveram o processo inflacionista análogo ao que Keynes apontou como a ser evitado durante a Segunda Guerra.
No caráter geral sugere desviar parte dos dispêndios das remunerações acrescidas (p. 194) enquanto “prover esse consumo adiado sem aumentar a dívida nacional” (p. 195), uso de poupanças voluntárias (p. 194), apesar de reconhecer “quão improvável” que possam ser suficientes (p. 195), aplicação de renda mínima isenta de impostos de escala progressiva para proteger (entendo, compensar) de “quaisquer reduções no seu consumo corrente aqueles cujo padrão de vida não oferece suficiente margem para tanto” (p. 195), vincular mudanças adicionais nas taxas nominais de salários, pensões e outros subsídios a “mudanças no custo de uma gama limitada de artigos de consumo relacionados” (p. 196), o que seria, à mon avis, uma forma de gatilho. Por fim reconhece que o esquema que propõe é “mais abrangente” em comparação com o que tinha apontado em colunas do Times, havia três meses e que requer “adesão de todos” (p. 196), o que me faz pensar, novamente no meu eu de 1997 que leu essas proposições e as considerou legítimas, em contraste com o meu eu desta releitura que, em meio à consciência mais rigorosa da sedução das ideias e do manejo das palavras, enxerga o grave problema em se impor regras sob apelos de um suposto, estimado, “bem comum” enquanto serve de porta para os que desejam camuflar seus anseios totalitários.
05/09/2023 22h52
Imagem: PSYCIENCIA

“A experiência é, para mim, a suprema autoridade.”
Obra: Tornar-se pessoa. Primeira Parte. Notas pessoais. Capítulo 1. “Este sou eu”. Algumas coisas fundamentais que aprendi. WMF Martins Fontes, 2009, São Paulo. Tradução de Manuel José do Carmo Ferreira e Alvamar Lamparelli. De Carl Ransom Rogers (EUA/Illinois/Oak Park, 1902-1987).
Esta afirmação se relaciona intimamente com o que descreve um pouco antes neste belo capítulo de apresentação. Dar saltos de inovação pode ser algo até romanceado, mas o processo real, imagino, deve ser bem desgastante, tenso, assim penso quando Carl Rogers conta que ficou perturbado quando percebeu que alguns o viam como “impostor”, bem como se sentiu preocupado com os elogios, “que também eram exagerados” (p. 27). Em seguida, afirma que não se sentiu demasiadamente afetado porque entendeu que apenas uma pessoa pode saber se é honesto ou não com o que faz: ele mesmo (p. 27).
Então chego ao trecho desta Leitura (p. 28) onde aponta para um ponto de referência em seu pensamento que desenvolveu a Terapia Centrada na Pessoa, na autoridade da experiência. A priori pode chocar o leitor, não versado em sua terapia, quando neste capítulo afirma que “nem a Bíblia, nem os profetas – nem Freud, nem a investigação, nem as revelações de Deus ou dos homens – podem ganhar procedência à minha própria experiência direta” (p. 28), contudo, é preciso bem ponderar o que adverte, para não ser mal compreendido, que não tem “uma visão ingenuamente otimista da natureza humana”, pois para isso basta ver, penso, a capacidade de nossa espécie como vetor de problemas de comportamento.
Carl Rogers aponta que um dos aspectos mais animadores e revigorantes de sua experiência consiste no trabalho de ajudar indivíduos a descobrirem tendências orientadas muito positivamente nos níveis mais profundos; relaciona ao ponto em que menciona sobre a fluidez na vida, um processo (p. 32) que demanda compreensão e então vejo onde a experiência tem o seu peso para a interpretação e, à mon avis, compreendo a profundidade de sua afirmação que destaquei, o que pode, a desavisados, ser inadequadamente entendida como apenas ênfase exagerada na subjetividade quando na verdade envolve o desafio do conhecimento do processo de identificação do sentido para se lidar cada vez melhor com a própria existência.
04/09/2023 00h05
Imagem: Cultura Animi
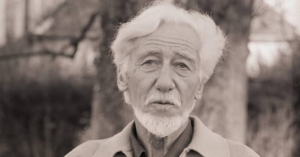
“Não precisamos lembrar que, embora o escalonamento das rendas para fins de tributação fosse desejável, sua consecução, através de legislação que discrimina cidadãos, tende a corromper as instituições políticas. Mesmo que tal legislação resulte numa sociedade melhor, os meios para atingi-la, através do apoio de uma maioria que se beneficia, contrariamente a uma minoria que se submete contra sua vontade, ferem o espírito político do estado democrático.”
Obra: A ética da redistribuição. A redistribuição como incentivo à tolerância do crescimento dos gastos públicos. Mises Brasil, 2012, São Paulo. Tradução de Rosélis Pereira. De Bertrand de Jouvenel des Ursins (France/Paris, 1903-1987).
Lembra Jouvenel que “está implícito na definição de cidadão que ele não imporá aos seus concidadãos obrigações que ele próprio não assumir” (p. 75) e sendo ignorado este ponto, findando o tratamento igualitário em tributação pela criação de grupos subsidiados, penso, as relações entre beneficiados pelo regime tributário discriminatório e os que elaboram as leis, tende a se converter em pautas que girarão em estímulos derivados dos próprios interesses e que se chocarão inevitavelmente com o espírito da busca pelo bem comum.
Neste capítulo, Jouvenel destaca o que observou (a obra deriva de palestras, no outono de 1949) nas políticas de redistribuição que têm “tornado possível um tremendo crescimento da tributação e dos gastos públicos” (p. 73), o que se relaciona com o que penso acerca do “clientelismo”, à mon avis, em função de incentivos de legisladores voltados a atender a um eleitorado que se beneficia das leis tributárias que estabelecem, em detrimento de outras partes, menos determinantes ou interessantes no processo relacional de poder, contudo, os mesmos legisladores são os que mais se aproveitam e, penso, esta questão se relaciona ao problema do aumento do orçamento suscitado por Jouvenel e, evidentemente, o próprio poderio político na execução de gasto “público”; Jouvenel então sugere que o maior beneficiado nesse processo não é o cidadão de renda menor (contemplado com a taxação progressiva) e sim o próprio Estado em oposição ao cidadão (p. 73), questão que se agrava quando aponta que “os contribuintes, porém, têm mostrado, através dos séculos, compreender muito pouco a capacidade superior de seus governantes de gastar os ganhos do cidadão, e têm obstinadamente mantido seu direito de gastar suas rendas à sua própria maneira”, bem como a resistência (front) dos pagadores de impostos como “baluarte da liberdade individual e a pedra fundamental da liberdade política” se desintegrou, aponta (p. 74).
A tese central desta obra, entendo, é de que quanto mais se promove a redistribuição da riqueza, processo analisado pelo autor mediante, até então, o imposto de renda progressivo, que começou a ser promovido na primeira década do século passado (1909/1910, por Lloyd George, chefe do primeiro governo trabalhista britânico (Labour Party), tanto mais se reforça o poder do estado e daqueles que possuem o seu controle, questão se relaciona com o que apresenta em relação ao aumento progressivo bem mais abrangente, ao longo do tempo, do poder exercido por meio da ampliação do escopo do Estado, o que pode ser verificado na obra ON POWER: The Natural History of Its Growth.
03/09/2023 13h19
Imagem: philogalichet.fr

“Vou conseguir outro encontro, mas só poderá vir comigo quem for capaz de amar os ingleses.”
Obra: Aprenda a viver o agora. Manifestações. Planeta do Brasil, 2019, São Paulo. De Monja Coen, Cláudia Dias Baptista de Souza (Brasil/São Paulo/São Paulo, 1947).
Agradável ironia ver Salvini junto a Gandhi neste espaço.
Frase de Mahatma Gandhi (1869-1948) reproduzida na obra desta Leitura, da monja zen budista Coen Roshi, que me fez rememorar imagens de três momentos distintos de minha vida:
A primeira me veio quando aos 9 anos fui com meu pai (in memoriam, 1947-2007) ao cinema São Luiz (belíssimo, uma das melhores recordações dos anos 1980 onde fui criado) assistir ao filme Gandhi e fiquei acordado com 3 horas e 10 minutos de duração.
Após 12 anos me veio a segunda imagem quando lia sobre a independência da Índia para uma atividade cujo professor parecia um tanto frustrado com Gandhi em função da filosofia de não-violência, bem diversa dos revolucionários os quais falava com certa empolgação. Foi então que percebi a forte influência de Gandhi sobre Martin Luther King Jr. na luta pelos direitos civis nos EUA, uma leitura que se tornaria mais intensa na terceira imagem, em 2004 no seminário, quando passei a estudar um pouco mais o pensamento teológico do pastor batista.
A criança de 1983 não poderia e o estudante de economia em 1995 não seria também capaz de perceber o aspecto mais profundo no pensamento de uma das figuras mais importantes do século XX, no entanto, o seminarista de 2004 pôde apreciar que Gandhi foi um caso raríssimo de liderança na política que aplicou o mesmo conceito de amar os inimigos, descrito no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, nos versos 43 e 44, parte integrante do Sermão da Montanha:
“43. Ouvistes que foi dito: Amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo.
44 Eu, porém, vos digo: Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus;”
Bíblia Apologética, 2000, Almeida, Corrigida, Fiel, ACF, p. 1051.
O seminarista de 2004 também pôde perceber que o conceito de amar os inimigos permanece desafiador, complexo demais no seu tempo de liberdade, no início do século XXI, e imaginou então o quanto esse ensinamento foi poderoso, impactante, no contexto das comunidades primitivas que o escutaram (tradição auricular veio antes do cânon) cerca de 40 anos depois da crucificação de Jesus Cristo, ainda na segunda metade do século I, ou seja, em um tempo de duríssimas perseguições religiosas onde se assumir como cristão poderia resultar em pena de morte, em um mundo controlado pelo Império Romano onde a vida humana (tirando a dos nobres e demais privilegiados) tinha o mesmo significado de uma mercadoria. Como deve ter sido impactante para um cristão, vítima de tanto ódio, ouvir “Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem”.
O ódio potencializa ações destrutivas, é um vetor da maldade; nutri-lo dentro de nós significa que estamos abertos à natureza do rancor, da violência em formas diversas, da vingança, e assim nos impulsiona para o mal, enquanto tentamos justificá-lo quando somos vítimas de violência, injustiças, perseguições. Deixar-se levar pelo ódio é consumir uma toxina que vai envenenar o nosso espírito e nos afastar do “Bem Supremo” (aqui faço uso de uma teologia agostiniana). A fé cristã nasceu no Oriente, não sendo uma sabedoria do Ocidente à época, ainda hoje, marcado pelo utilitarismo onde fins justificam os meios cujo ódio pode servir como instrumento para busca de resultados do que se apregoa como “bem”, uma concepção que é incompatível com a sabedoria raiz da fé cristã para que não se consumisse as comunidades com ódio como resposta ao ódio que recebiam do mundo.
Pois bem, aquele seminarista de 2004 entendeu a base teológica do pastor Luther King Jr. ao decidir aplicar a mesma sabedoria no seu plano de ação política na luta contra o racismo nos EUA. Nada de se envenenar com violência, nada de ofensas, nada de quebradeiras; é na base do diálogo, do protesto sem armas, sem agressões, regado a reflexões bem embasadas e orações, inclusive por aqueles que infligem a dor, o sofrimento, que se vai lidar com a situação. É a crença no amor de Cristo em ação para nos blindar das toxinas do rancor, da ira e do ódio. Não há retórica de discursos e sim o poder do amor na preservação da vida e da bondade, mesmo que o mal esteja a agir, a crença na bondade é a base desse amor praxis, isso posto, Luther King aprendeu com a experiência de Gandhi que aplicou o mesmo conceito vinte anos atrás quando foi negociar com os ingleses, o que foi uma ironia impressionante, quando havia de um lado colonizadores de uma cultura ocidental que se dizia “cristã”, marcada com histórico de um império (Reino Unido) que cresceu escravizando povos, explorando vulneráveis, produzindo morte para enriquecer, e do outro um líder sábio que não era cristão e aplicou o ensinamento mais profundo do amor de Cristo.
Não por acaso a sabedoria cristã nasceu no Oriente.
Torno ao livro da monja Coen que discorre lições de Gandhi, no tópico dedicado a manifestações, a quem deseja tratar ideias publicamente. Foi pelo diálogo e espírito pacifista que se logrou êxito na independência da Índia. Não foi pela exaltação e ofensas de seus amigos contra os colonizadores, sendo este o contexto em que decidiu marcar um novo encontro, mas antes seus compatriotas teriam que aprender a amar os ingleses (p. 111). “Acordos só podem ser feitos entre pessoas que se respeitam”, “violência só gera violência” e “manifeste-se sem se tornar o mal que você está questionando”, não rejeite a realidade, procure transformá-la por meio do diálogo e ações pacíficas, são pontos que destaco, na maravilhosa sabedoria externada pela monja para que estejamos protegidos do rancor, da mágoa e da vingança (p. 112), de um mundo que desde sempre fez da truculência uma forma de afirmação social, a sabedoria da monja reverbera a de Gandhi, que reverbera a de Cristo, um santo remédio.
Penso finalmente em grupos que se dizem “cristãos”, pautados com o que entendem ser a “defesa do bem”, entenda-se seus valores, devotados aos “bons costumes”, facilmente encontrados nos porões da política, e que disseminam ódio na sociedade contra opositores, tentam justificar a violência verbal, e até mesmo física, em torno da ideia de se preservar as tais “coisas do bem”, talvez seja o momento de aprender uma sabedoria genuinamente cristã, celebrada pela igreja primitiva, onde provavelmente não a encontrarão dentro do espectro religioso atual, e sim com aqueles que não são declarados cristãos, mas estão voltados ás origens orientais e demonstram que entenderam melhor o Evangelho.
02/09/2023 14h17
Imagem: Lega

“I migranti? Basta con questa storia. In fondo migrante è solo un gerundio.”
Obra: Il cazzaro verde. Ritratto scorretto di Matteo Salvini. Migrante è un gerundio. PaperFIRST, Roma, 2019. De Andrea Scanzi (Italia/Arezzo, 1974).
Torno ao “cazzaro verde” de Andrea Scanzi. Aspas a enaltecer o que pensa o jornalista italiano do político de direita mais notório da Itália que “não faz medo, faz rir” (p. 11).
O trecho desta Leitura é de uma sequência de frases de Salvini sobre o tema dos imigrantes com pinceladas grotescas sobre gays e ciganos, cuja (in)sensibilidade lembra a de um certo político idolatrado no Brasil, um tanto carismático enquanto especialista em disseminar conteúdo para idiotas (do lado destro da truculência). A xenofobia de Salvini vem com uma pesada ironia em um italiano quando na história se registra como seus compatriotas ganharam o mundo, sobretudo nas Américas, acolhidos enquanto, não raramente, a terra madre Itália não poderia suportá-los mediante crises políticas e econômicas no século XIX e no início do século XX.
O problema dos refugiados derivado de crises humanitárias na África, no Oriente Médio, nos confins da Europa (principalmente na guerra mediante a invasão da Ucrânia pelos russos) e na Ásia, mediante o curso migratório, sobretudo pelo Mediterrâneo, está em um cenário de horrores, com desastres em travessias que resultam em dezenas ou centenas de mortos que ficam ao mar ou encontrados em praias; idosos, crianças, jovens, vidas perdidas que tentam escapar de conflitos oriundos da geopolítica onde os causadores assistem a tudo de camarote enquanto aperfeiçoam a demagogia. Se alguns parecem ver os apelos do papa Francesco como inúteis, apenas retórica, acredito que é preciso trazer à luz determinadas causas no tabuleiro geopolítico, de governos que defendem democracia enquanto financiam terroristas e ditadores pelo mundo, e se fossem julgados os verdadeiros responsáveis por certos fluxos migratórios, estariam à altura de um “Nuremberg”.
Salvini, como o típico populista bem sucedido, sabe que seu público é bestializado, está no senso comum do idiotes massa que se acha mais “lúcido” que os de esquerda, e assim explora sentimentos rasos pelo viés isolacionista e indiferente com o mundo além de seus quintais, dos que se sentem receosos e/ou ameaçados com o volume de refugiados que chegam diariamente a gerar um custo imenso de acomodação; neste aspecto, eis um ponto que é verdadeiro, mas há outro, também real, e muito triste de ser contado, com seres humanos desesperados, trazendo consigo traumas diversos, que chegam todos os dias tentando recomeçar a vida na Europa.
Enxergo a Europa atualmente como palco de uma dialética imbecilizante: de um lado estão os produtores de narrativas em currais do tipo Salvini, que defendem a “cultura ocidental”, carregam espantalhos, mas também temores legítimos quanto aos custos para manter a conta de todo esse acolhimento, além de problemas de segurança “pública”, queda na qualidade de vida em centros mais afamados e o incômodo de uma convivência social forçada com pessoas de culturas distintas e, muitas vezes com doses de preconceitos quando tratadas como “inferiores”, produtos de forças nefastas da geopolítica que seus políticos de estimação se aliam. Do outro lado estão os progressistas que parecem ávidos pela hipocrisia de um humanismo de socialismo nos olhos dos outros, ignorantes da escassez que estimula cada vez mais a integração forçada e ilimitada; são populistas de esquerda que se aproveitam do sofrimento de indivíduos carentes e que certamente serão influenciados para serem seus eleitores mais adiante, enquanto celebram a utopia de uma comunidade internacional sob uma concepção de ordem do (fadado à falência) estado moderno de bem estar social, a promover um anseio planejado por uma agenda global apregoada no atual arranjo da União Europeia.
O que consigo perceber é que ambos estão apenas interessados nos seus próprios interesses de poder enquanto a Europa segue se deteriorando.
01/09/2023 23h44
Imagem: Metodistas

“‘Pensar e deixar pensar’
Esta expressão de Wesley tem sido muito mal compreendida. Na realidade, ela era muito mais um estímulo ao uso da razão do que da flexibilidade doutrinária.”
Obra: Pequena História do Povo Chamado Metodista. UNIMEP, 2002, Piracicaba. De João Wesley Dornellas (1932-2012).
Ganhei um exemplar desta obra de um seminarista da igreja metodista, nos tempos do seminário batista (2003-2007).
Dornellas menciona o entendimento de que “pensar e deixar pensar” não é uma abertura para se justificar posições doutrinárias diversas na igreja (contexto metodista), pois, liberdade para pensar não é a mesma coisa da “liberdade de cátedra” e que “nunca existiu essa liberalidade” (p. 20) por parte do precursor do metodismo, John Benjamin Wesley (UK/Epworth, 1703-1791). Em seguida, Dornellas menciona trabalhos de Wesley que atestam o rigor da estrutura doutrinária e a relevância do conhecimento na confissão (pp 21-24).
O encontro da fé com a razão foi o tema mais provocante nos anos em que fui seminarista e, obviamente, o “pensar e deixar pensar” de Wesley está longe de ser uma questão apenas de metodistas. Eu tinha certeza, desde o primeiro dia de aula, em agosto de 2003, de que não seria pastor e, concomitantemente, esforçava-me para que meu senso de espírito livre, não saísse de um certo “controle” diante da experiência com a fé quando conversava com colegas mais “contundentes” e, por conta disso, mergulhei em aspectos doutrinários da confissão batista tradicional que abracei pela percepção que tinha, à época, de que por ela o tal encontro seria menos traumático (descobriria, com menos de um ano, de que se tratava de uma ilusão), enquanto percebia, ao longo daqueles quatro anos, a mesma tensão em alguns colegas e professores, muitos pastores que tinham, alguns, uma forma de expor o pensamento crítico em sala de aula e outra no púlpito. Então, quando tive a experiência de trabalhar como seminarista (2004-2005) no preparo de aulas, sermões, boletins e programas de culto, tive que aprender a lidar com o mesmo problema. e demarcar com segurança os ambientes.
Percebi que o meu jeito um tanto independente de pensar poderia provocar um estresse maior que o necessário no ambiente religioso, naturalmente mais propício à defesa doutrinária do que a certos questionamentos, sobretudo acerca da própria fé, e assim senti que tinha chegado o momento de encerrar a experiência (antes de qualquer evento que pudesse ser visto como polêmico); notei que alguns não entenderam minha saída a pedido, em 2005, e talvez pensassem que eu poderia até mesmo rever a posição que tomei em 2003.
É tênue a linha que separa o comprometimento com uma doutrina (algo que pode ser legítimo) do fundamentalismo religioso. Durante os quatro anos de seminário, vi como a natureza do ambiente eclesiástico é vulnerável pelo pensamento de quem lidera a igreja e como a indisposição ao diálogo com a sociedade e o senso de apologética podem abrir vias ao extremismo ou ao desprezo pela razão, quando não, a flexibilização não bem meditada por quem pastoreia pode converter uma igreja em algo político e/ou de consumo/mercado/entretenimento, por uma forma camuflada de “fundamentalismo laico” travestido de fé religiosa (talvez um problema maior que o extremismo religioso assumido).
Foram anos de crescimento quando pensei em temas provocantes sobre o relacionamento das doutrinas com questões de homossexualidade, além da visão “tradicional” que há sobre a mulher, não raramente tratada como “submissa” ao homem, sobretudo no ambiente evangélico não católico, o que me sinalizou um espectro patriarcal, bem como pude observar visões alternativas de igreja e casos em que resultou em movimento político “militante”, na defesa de pautas feministas e de LGBT. Meditei sobre como é explorada a repulsa por um diálogo mais aberto e amistoso com as ciências e demais saberes, onde o terraplanismo, para dar um exemplo, encontra ambiente favorável para se desenvolver, incluindo concepções literais da interpretação bíblica que fazem emergir a infantilização de frequentadores, o que contrasta com esforços, até certo ponto interessantes, por um liberalismo, no entanto, como a dosagem é um complexo desafio teológico, vi a rejeição de pilares da fé e a entronização do ser humano no lugar do divino, enquanto progressistas, comunistas, agnósticos, ateus e afins eram agradados (cada qual conforme suas conveniências), abdicando da razão de existir do ato de fé: o culto a Deus.
Comentário