31/10/2023 23h37
Imagem: AGNI

“We wear the cape of civilization
But our souls live in the stone age.”
Obra: Footnotes in Setback’s Notebook. Em The 1967 Arab-Israeli war: origins and consequences. Cambridge University Pres, 2012, Cambridge. Editado por Wm. Roger Louis e Avi Shlaim. Poema de Nizar Tawfiq Qabbani (Síria/Damasco, 1923-1998).
Vestimos a capa da civilização
Mas as nossas almas vivem na idade da pedra.
Tocaram-me estes versos de 1967, do grande poeta sírio Nizar Qabbani, escrito no contexto da guerra de 1967.
Fizeram-me meditar na atual barbárie que ocorre na Palestina, catástrofes de múltiplas dimensões, do terror indescritível que devastou kibutzim de comunidades pacíficas de Israel, de crianças, idosos, mulheres, indefesos, brutalmente assassinados, dos reféns do HAMAS e do sofrimento que não consigo imaginar de seus entes, às crianças, jovens, mulheres e idosos, milhares de civis mortos nos escombros de Gaza pelos mísseis de Israel, com o patológico cinismo do governo judaico, cuja “inteligência” é reverenciada enquanto mata inocentes para “pegar” terroristas, até a sociopatia de líderes ocidentais, que negaram o corredor humanitário e mostraram a força da indiferença aos crimes de guerra cometidos na batuta do primeiro-ministro israelense.
Aprendi que poesia no universo árabe tem uma força popular como o futebol possui na cultura brasileira. Qabbani teve seus versos censurados, e assim foram secretamente copiados e distribuídos no Egito a proclamar o fim da ordem árabe e o desejo de uma mudança profunda (pp 293-294) contra um estado de coisas entranhados nos fundamentos sociais sob o colapso do sistema político (diga-se de passagem, espelhado no Alcorão) a produzir atraso e opressão.
E do drama dos árabes derrotados por Israel nas ruínas de 1967, penso nas tragédias que são tratadas com a indiferença do mundo político que joga pelo poder na “capa da nossa civilização”; não se indignar com a hipocrisia, não repudiar o mal, não resistir à sua banalização, não se entristecer com o que acontece é estar “com a alma na idade da pedra”.
30/10/2023 00h06
Imagem: State of Palestine

“”I say to [Israel]: Every stone you have built on our land and every house you have built on our land – there is no escaping that they will disappear, Allah willing. And the more they announce houses here or settlements there – they will all disappear, Allah willing, and will be in the garbage dump of history . And [Israelis] will remember that this land belongs to its people; this land belongs to its inhabitants; this land belongs to the Canaanites who were here 5,000 years ago – and we are the Canaanites! […]”
Obra: Speech at the Jalazone refugee camp. Palestinian Media Watch, ago 10, 2019. Consultado em 29/10/2023 23h28. De Mahmoud Zeidan Abbas (Mandato Britânico da Palestina/Safad, 1935).
O presidente do Estado da Palestina, neste discurso, fez uma reivindicação com base na antiguidade: “esta terra pertence aos cananeus que estiveram aqui há 5.000 anos – e nós somos os cananeus!”. O problema dessa afirmação é a falta de amparo científico.
A ciência é um saber muito humilde enquanto muito mais seguro em comparação com o que advém da política e eis que um estudo com DNA publicado pela American Journal of Human Genetics [179] sugere que, com base em restos mortais de 3.700 anos, o genoma sequenciado é encontrado atualmente em residentes do Líbano e que a ascendência dos cananeus é uma mistura de populações nativas, o que corrobora para se considerar a hipótese de que os israelitas (que surgiram por volta do início da Idade do Ferro) podem ter sido originalmente cananeus.
“[…] amonitas, moabitas, israelitas e fenícios, cada um alcançou suas próprias identidades culturais, mas todos compartilharam uma raiz genética e étnica comum com os cananeus.[…]” (p. 4 da publicação em PDF, nota 179).
Este trecho me fez pensar no terceiro modelo de explicação da conquista de Canaã, indicado na obra de Norman K. Gottwald [180], que sustenta a formação de Israel, em grande parte, por nativos de Canaã (p. 251) e não como se verifica na narrativas do Antigo Testamento.
Obra: Continuity and Admixture in the Last Five Millennia of Levantine History from Ancient Canaanite and Present-Day Lebanese Genome Sequences. VOLUME 101, ISSUE 2, P274-282, AUGUST 03, 2017.
179. https://www.cell.com/ajhg/pdfExtended/S0002-9297(17)30276-8 e https://www.cell.com/ajhg/fulltext/S0002-9297(17)30276-8
180. Ver em Uma leitura do dia de 11/10/2023 21h14
29/10/2023 00h05
Imagem: CSPII

“[…] All Muslims, whether from Mecca, Medina or anywhere else, were part of a community, umma, that excluded others. There was one set of ethics for the Muslims and another set for the Kafirs. Duality was established as a fundamental principle of Islamic ethics.”
Obra: A Simple Koran. The Islamic Trilogy Volume 3. Chapter 7. Politic Power. CSPI, 2006. Editado por Bill Warner (USA/Tennessee, 1941).
A Simple Koran é uma reconstrução do Alcorão histórico da época de Maomé, feito pelo método analítico CCC:
Contexto – considera a vida de Maomé para dar as circunstâncias e ambiente do texto.
Cronologia – colocando os versículos na ordem histórica original e;
Categoria—o método de agrupar versículos em torno do mesmo assunto.
O objetivo do CCC é possibilitar clareza e simplicidade na análise de um texto, defende o doutor que enfatiza: “Nenhum outro método produz clareza, portanto, o CCC é o método superior de organização do Alcorão” (p. 392).
Quanto ao trecho selecionado, um importante aspecto da ética islâmica: a dualidade em uma visão de mundo onde religião e política estão sob a mesma ordem de valores e controle. Nessa mentalidade não há separação entre civil e religioso no exercício do poder. Penso então que neste ponto se pode verificar fatores que fazem regimes, sob o viés islâmico, serem caracterizados por um sistema de poder que não é compatível com a diversidade de pensamentos e credos.
O Islã tem um sistema político com poder para ser exercido sobre os de fora da mesquita enquanto estabelece a visão de comunidade para todos os muçulmanos, não importa se de Meca, Medina ou qualquer outro lugar. Os de fora são tratados sob um conjunto de ética, enquanto outro conjunto atua sobre os da fé islâmica. Neste ponto reside a dualidade como um princípio fundamental de Ética islâmica.
Os muçulmanos devem se opor a qualquer um que semeia a discórdia entre outros muçulmanos; um muçulmano não deve matar outro muçulmano, nem deve ajudar um Kafir (infiel, que não segue a fé) contra um muçulmano. Os muçulmanos são amigos uns dos outros e devem excluir os infiéis dessa relação. A jihad é para vingar o sangue derramado de outro muçulmano e ao incrédulo não cabe intervir. Judeus devem ser tratados com justiça se estiverem alinhados com Maomé, em suma, devem ser honrados se observarem o profeta (p. 225).
Interessante a proposta do autor. Também penso que estudar o Islã exige um esforço especial para desarmar preconcepções enquanto sua grande relevância não restringe os problemas dos conflitos na Palestina ao crivo do embate religioso, mesmo quando há o fenômeno do extremismo que impulsiona o terrorismo. As questões na Palestina, à mon avis, dizem mais respeito a um povo que sofreu violações por conta da criação de um Estado (Israel).
28/10/2023 15h16
Imagem: vanleer.org

“During the 1948 war Israel was born and the Palestinian refugee issue was created. A minority of the stricken population stayed in their country, particularly in Haifa and the Galilee.”
Obra: Nakba and Survival. The Story of Palestinians Who Remained in Haifa and the Galilee, 1948-1956 Introduction A Story of Catastrophe and Survival. Who are the palestinians who remained? University of California Press, 2022, JSTOR. De Adel Manna (Palestina, 1947).
Obra do historiador palestino com detalhes sobre a nakba (“catástrofe”, em árabe), cujo marco inicial é 1948 e cobre até 1956 em relação a um processo de limpeza étnica com a expulsão de palestinos, por força de tropas a serviço do sionismo que esvaziaram aldeias, destruíram casas, mataram milhares e produziram refugiados em massa onde o autor menciona que, por estimativa, foram 400.000 ou mais no início do verão de 1948 (p. 42). É no contexto de guerra que nasceu nasceu o Estado de Israel e emergiu a questão dos refugiados que perderam a pátria onde viveram durante séculos (p. 7).
Os que conseguiram permanecer se tornaram sujeitos ao governo do responsável pela catástrofe e também serviram de referência para historiadores israelenses que sustentam afirmação de que não existiu um plano israelense de expulsão (p. 42), bem como foram promovidos a uma cidadania que culminou na participação das primeiras eleições parlamentares no início de 1949, fato que deu legitimidade à natureza democrática do Estado judeu, que acabou por ser usado para minimizar o entendimento das graves violações feita pelo aparato estatal judeu que se expandia territorialmente além das zonas do plano de partição (p. 8). Aqui me parece o caso da democracia servir para camuflar, no olhar da massa bestializada, violações típicas de aparatos estatais. Acabei por atualizar o antigo da deusa servir como caminho para a tirania.
Há um consenso entre estudos de que a minoria que ficou totalizou cerca de 156 mil, “dominados por uma sensação de perda, confusão e raiva incapacitante, bem como uma sensação de traição e humilhação”, afirma o autor. A grande maioria era composta por camponeses (fellahin) que tiveram que se adaptar à realidade em meio a língua diferente, leis e demais normas do Estado judeu que se traduziram em regulações que os restringiu ainda mais, confiscou mais terras e propriedades restantes. Insatisfeitos, os mandatários do novo governo desenvolveram meios para se livrarem da minoria remanescente, explica o autor (p. 7).
Nos anos 1950 o governo de Israel consentiu no regresso de milhares de refugiados pelo programa de reagrupamento familiar; números oficiais estimam em 20 mil. O retorno continuou a ser concedido em em paralelo a política de expulsão pelo menos até 1956. O autor menciona o caso de expulsão de milhares de residentes da cidade de al-Majdal-Asqalan no final de 1950, como “bem conhecido” (p. 10).
27/10/2023 23h08
Imagem: unigre.it

“La terra che fu teatro degli avvenimenti bibblici ha recevuto vari nomi nel corso della storia: essa fu detta in origine ‘terra di Canaan’, nome che ritroviamo in testi cuneiformi già la del III millenio a. C. […] La stessa regione, definita dalla Bibblia simplecimente ‘la terra’ o la terra d’Israele, fu poi chiamata dai romani Palestina, in seguito alla rivolta giudaica del 135 d.C. […]”
Obra: Storia d’Israele dalle origini al periodo romano. Introduzione: La Terra della Bibbia. Centro editoriale dehoniano, 2007, Bologna. De Luca Mazzinghi (1960).
Esta obra tem edição em português, pela Vozes, sob o título História de Israel das origens ao período romano.
E sobre a mudança de nome imposta pelos romanos, à mon avis certamente como penalidade por conta da resistência judaica desde a primeira revolta (66-74 d.C, p. 165) quando metade da população judaica foi exterminada (p. 167), segue o padre e professor da Pontificia Università Gregoriana di Roma a indicar que “lembra um dos povos que antigamente habitava a região, os filisteus” (p. 10).
O que o professor Mazzinghi explica sobre o contexto da segunda revolta judaica, entre 132-135 d.C., envolve a alta carga tributária imposta pelos romanos aos provincianos da Palestina, o que também é apontado por Theodor Mommsen em Storia di Roma. Mazzinghi salienta que os impostos recolhidos no Templo (servia como espécie de coletoria central, assim entendi) eram repassados a Roma no templo de Júpiter Capitolino, “um verdadeiro insulto a todo judeu piedoso” (p. 167).
Roma tentava superar resistências dos nativos provincianos com pontuais concessões, o que formava grupos que se enfraqueciam em capacidade de articulação a um possível enfrentamento, enquanto os dividia para imperar, quando necessário, fazia uso da brutal força militar, implacável com os traidores.
A mudança de nome de Judéia (claramente associada aos judeus) para “Palestina”, penso, em referência aos antigos filisteus, fez então parte de uma invenção do plano político romano para desvincular nativos de linhagem judaica das origens da terra conquistada pelo Império.
Quando se fala em “Palestina”, fala-se de um legado político do imperialismo romano, o que não abranda, penso, de forma alguma, as violações cometidas sobre os habitantes não judeus desta região, chamados de “palestinos”, no advento do Estado de Israel.
26/10/2023 21h24
Imagem: palquest.org

[…] Indeed, my real argument is that Orientalism is-and does not simply represent-a considerable dimension of modern political-intellectual culture, and as such has less to do with the Orient than it does with ‘our’ world.[…]”
Obra: Orientalism. Introduction. Vintage Books, 1979, New York. De Edward Wadie Said (Jerusalém, 1935-2003).
Um motorista nativo em Malpensa ao centro di Milano, um distinto senhor turco que puxou conversa no código inglês enquanto apreciávamos “Angels Unawares” na Piazza di San Pietro, um imigrante sírio (um olhar triste de quem ainda não tinha encontrado trabalho e um louvável esforço para falar em italiano) na stazione di Pisa e um taxista muçulmano em Paris (que me ensinou pronúncias em francês com sotaque árabe), ao dizer-lhes “sou brasileiro”, enveredaram a conversa para algo relacionado a futebol. Se não fossem meus visíveis problemas com as leis de Newton, quem sabe me resumiriam a um talento nas quatro linhas. Nem vou pensar sobre o carnaval, tampouco em outras generalizações…
Foi um teste de estereótipos nas minhas andanças enquanto percebia o grande fluxo de falantes do idioma árabe, principalmente em Milão, Paris e Madrid; em um restaurante lotado perto do Duomo di Milano, notei que tinha mais pessoas falando árabe do que italiano; percebi como são diversos, diferentes, nas formas de se expressar, vestir e pensei no orientalismo sob a crítica do professor Said, como preconcepções comprometem um melhor entendimento da diversidade. Com o estouro da guerra Israel x HAMAS, o tema voltou à baila quando percebi o festival de narrativas generalizantes feitas em meu mundo com manias de superioridade cultural sobre os árabes, em especial os muçulmanos, muitas vezes, e, infelizmente, associados automaticamente ao extremismo, ao fanatismo religioso, até se chegar ao terrorista, quando não em preconceitos em relação a como seriam rudes (na verdade vi muitos se portarem com rara discrição e elegância) além do tratamento que lhes atribuem face ao que dispensam às mulheres.
Na crítica de Said as generalizações têm um aspecto relevante quando o intelectual palestino analisa as narrativas ocidentais, dos discursos políticos às artes em geral mas, obviamente, é apenas um traço de um conceito; não se trata de um “mero assunto político ou campo que é refletido passivamente pela cultura, estudos ou instituições; nem é uma grande e difusa coleção de textos sobre o Oriente”. Adverte Said que o conceito não representa a expressão de “alguma nefasta conspiração imperialista ‘ocidental’ para dominar o mundo ‘oriental’ […] é – e não representa simplesmente – uma dimensão considerável da cultura político-intelectual moderna, e como isso tem menos a ver com o Oriente do que com o “nosso” mundo (p. 12); tem como premissa a exterioridade (p. 20), sendo melhor compreendido como um conjunto de restrições e limitações de pensamento do que simplesmente como uma “doutrina positiva”. Se a essência do orientalismo é a distinção imutável entre a superioridade ocidental e a inferioridade oriental, então se deve estar preparado para observar como, em seu desenvolvimento e subsequente história, o orientalismo aprofundou e até endureceu a distinção (p. 42), argumenta.
Conhecer o conceito ajuda a identificar os vícios peculiares das narrativas no Ocidente, sobretudo no mundo da política.
25/10/2023 23h31

“Se o conflito Israel-Palestina não for resolvido, um acordo de paz regional será improvável. Esse fracasso tem implicações bem mais amplas – em particular para o que a mídia dos EUA chama de “a maior e mais grave ameaça à paz mundial”: os programas nucleares iranianos.[…]”
Obra: Quem manda no mundo? Capítulo 11. Israel-Palestina: as opções concretas. Planeta, 2017, São Paulo. Tradução de Renato Marques. De Avram Noam Chomsky (EUA/Pensilvânia/Filadélfia, 1928).
E o que a mídia destaca, penso, considero suspeito quanto à proporção de sentido de realidade. Chomsky – leitura obrigatória sobre as questões da Palestina – indaga sobre quem pensa nessa ameaça de “proporções tão cósmicas” e qual seria a percepção que se tem dela; primeiro, vê como “obsessão” no Ocidente esse entendimento do perigo que representa o Irã face ao seu programa de enriquecimento de urânio e o entendimento do que seria um direito dos iranianos fazê-lo aos olhos dos governos não alinhados com os EUA que atuam sob um conceito associado a “comunidade internacional”, que não aprova os posicionamentos do Irã, mas não passa de uma minoria sujeita ao poderio americano (p. 180).
Sobre a percepção da ameaça, Chomsky aponta que periodicamente os serviços de inteligência dos EUA e o Pentágono entendem que o Irã não é uma ameaça militar; doutrina defensiva, mobilização bélica limitada e gastos militares baixos até mesmo se comparados com os padrões da região. Seria o suposto programa militar “parte da estratégia iraniana de intimidação” (p. 180). Lembra que os iranianos sofreram o golpe militar de 1953 “orquestrado por EUA e Inglaterra”, seguido do cruel e brutal regime do xá, e depois sofreram as investidas de Saddam Hussein “com respaldo ocidental” com engenheiros nucleares iraquianos que receberam “treinamento avançado em produção de armamentos” nos EUA ( p. 181), quando o sanguinário Saddam Hussein vivia os tempos de aliado da Casa Branca.
Onde estaria o grande perigo do Irã então? Nos apelos clericais ao fundamentalismo, certamente, mas Chomsky pondera que a repressão interna não é uma preocupação para as grandes potências, pois, de fato, EUA têm um histórico de apoiar regimes autoritários no entanto, penso, esse perigo do Irã me parece mais evidente na articulação da liderança político-religiosa daquele país em favor de grupos externos como o HAMAS e o Hezbollah.
Um contraponto de Chomsky está na posição armamentista de Israel, sob forte apoio dos EUA, que atrapalha esforços por uma zona livre de armas nucleares no Oriente Médio. Seria mesmo ingenuidade, como eufemismo, esperar que os vizinhos árabes aceitassem uma zona livre com Israel sem sinal de abdicar de estar armado com ogivas nucleares (p. 182).
Ler Chomsky é perceber que o mocinho não é o que diz ser e está mais para aquilo que acusa.
24/10/2023 22h47
Imagem: LSE

“In the late 1930s British policy had oscillated between favouring partition into Jewish and Arab zones, in the Peel Commission Report of 1937, and envisaging an independent Palestine with an Arab majority within ten years, in the White Paper of 1939. […]”
Obra: The Middle East in International Relations. Power, Politics and Ideology. 3. The modern Middle East: state formation and world war. World War II and its consequences. Cambridge University Press, 2005, New York. De Simon Frederick Peter Halliday (Irlanda/Dublin, 1946-2010).
Obra do professor que foi um importante expert em Oriente Médio. Trecho se reporta ao conturbado mandato dos britânicos na Palestina (1920-1948) e o peso da Segunda Guerra.
Na leitura fiquei com a impressão de que os ingleses talvez tivessem deixado aos palestinos a sinalização confusa em uma promessa que não foi cumprida, em termos de um estado árabe, o que acabou por ficar nas mãos dos judeus.
Segundo o autor, a política dos ingleses na região, durante a década de 1930, “oscilou entre favorecer a divisão em Zonas judaica e árabe, no Relatório da Comissão Peel de 1937, e uma Palestina independente com uma maioria árabe dentro de dez anos, no Livro Branco de 1939”. A segunda opção teria ganho força por conta do temor entre ingleses de que “a Alemanha e a Itália mobilizassem a opinião árabe contra a Grã-Bretanha e os seus aliados na Segunda Guerra Mundial”, contudo, o final da guerra foi marcado por uma mudança de equilíbrio com “conhecimento tardio do destino da população judaica nas regiões ocupadas pelos nazistas Europa, com seis milhões de mortos, o maior envolvimento dos EUA e a URSS ao lado do sionismo, a eclosão de uma campanha de guerrilha judaica contra as forças britânicas em 1946 e o cansaço geral da Grã-Bretanha com império após uma exaustiva guerra global”, a formar um cenário em 1947 onde os britânicos decidiram, pela retirada sem realizar acordos entre as partes (p. 94).
A desastrada gestão dos ingleses tem peso considerável na crise que se prolonga até então onde a criação do Estado de Israel marcou um ponto crítico longe de ter sido solução, após o conflito entre judeus e árabes em 1947, com a prevalência judaica, uma divisão da Palestina com Israel formalizando seu estado, a Jordânia tomando a Cisjordânia e parte de Jerusalém, o Egito inicialmente ficou com a Faixa de Gaza e cerca de um milhão dos 1,4 milhão de palestinos árabes se tornando refugiados em meio aos conflitos (p. 94).
23/10/2023 00h03
Imagem: University of Exeter

“Founded in 1901, the JNF was the principal Zionist tool for the colonization of Palestine. It served as the agency the Zionist movement used to buy Palestinian land upon which it then settled Jewish immigrants. […]”
Obra: The Ethnic Cleansing of Palestine. The Village Files. Oneworld Publications, 2006, Oxford. De Avram Noam Chomsky (EUA/Pensilvânia/Filadélfia, 1928) e Ilan Pappé (Israel/Haifa, 1954).
A leitura desta obra tem alguns detalhes interessantes indicados pelo autor acerca do processo de retomada da Palestina, por parte dos Judeus, deflagrado quase dois mil anos após a diáspora forçada pelos romanos.
Sionistas adotaram o Jewish National Fund (JNF), que lembra bastante o plano de uma corporação judaica para atuar na aquisição de terras na Palestina, traçado por Theodor Herzl em O Estado Judeu. Pappé aponta que o JNF, fundado em 1901, atuou produzindo um inventário das aldeias árabes na região. Funcionou também como um meio de mapeamento para aquisições sistemáticas. Assim, o JNF acabou por ser a principal ferramenta para a colonização da Palestina por aquisições de terras para imigrantes judeus que tinham o fundo como “guardião” e que continuou a operar após a formalização do Estado de Israel em 1948 (p. 41).
Dispor de uma empresa com expertise financeira e imobiliária para concentrar fundos não seria suficiente. Torno à obra de Herzl onde se argumenta que indivíduos unidos pela soberania se dão pela constituição de um Estado e não por extensão de terras (p. 54). Não adiante ser dono de terra sem o controle do Estado e os judeus teriam que tomar às rédeas do monopólio territorial e dos meios regulatórios, o que é possível através do comando do aparato estatal. Aqui penso penso em Adam Smith sobre o poder econômico ser inferior ao político e assim, torno à obra de Pappé, penso no que o autor menciona com as dificuldades com a resistência palestina e a restritiva política britânica (que tinha o mandato no região) em meio a natural escassez de recursos financeiros do JNF a considerar que, no final da gestão dos ingleses em 1948, os judeus tinham cerca de 5,8% das terras na Palestina (p. 42).
O mapeamento das propriedades rurais acabou se tornando algo de grande utilidade após a formalização do Estado de Israel pois, segundo Pappé, os britânicos tinham destruído a liderança palestina e suas capacidades de defesa em 1936, o risco de uma invasão nazista tinha sido neutralizado em 1942 e restava aos sionistas superar a barreira política em uma aproximação com os ingleses, o que teria ocorrido, segundo o autor, em uma reunião no Biltmore Hotel em Nova Iorque em 1942. À medida em que a Segunda Guerra Mundial se aproximava do fim, corriam articulações para a finalização do mandato britânico, tudo isso a compor um cenário favorável para o aparato estatal judeu executar uma limpeza étnica na região (p. 47).
Um ponto intrigante na obra, à mon avis, se deu quando o autor indicou uma expropriação de recursos financeiros de 1.300.000 palestinos cujas finanças foram investidas em bancos e instituições que foram todas apreendidas pelas autoridades israelitas depois de Maio de 1948 (p. 247). Então, a tomada do controle israelense se tornou ainda mais grave para os palestinos, não apenas pelo deslocamento forçado, uma vez que suas propriedades passaram ao controle regulatório de um Estado sob a batuta judaica.
22/10/2023 11h36
Imagem: anne frank house

“Nossa liberdade foi gravemente restringida com uma série de decretos antissemitas: os judeus deveriam usar uma estrela amarela, os judeus eram proibidos de andar nos bondes[…]”
Obra: O Diário de Anne Frank. Sábado, 20 de junho de 1942. Record, 2019, Rio de Janeiro. Tradução de Alves Calado. De Annelies Marie Frank (Alemanha/Frankfurt, 1929-1945).
A recordação deste trecho me veio à mente quando um fidalgo antissemita praticante, do tipo comum que não se reconhece assim enquanto seus argumentos o revelam, minimizou como “exagero das narrativas judaicas” sobre as restrições impostas aos judeus, de horários para realizarem compras, para andarem nas ruas e tomarem serviços prestados apenas de judeus, proibições para andarem em seus próprios carros, irem a cinemas, teatros, piscinas, quadras de tênis, campos de hóquei ou qualquer outra atividade esportiva, além da proibição de irem a casas de cristãos e de ficarem nos seus próprios jardins em determinados horários, de modo que havia receio de se fazer alguma coisa por medo de ser proibido (pp. 27-28).
O antissemitismo que Anne Frank descreve aos 13 anos de idade (1942), na “inauguração solene” de seu diário (p. 28) fora implementado pelo regime alemão do Nacional Socialismo (nazismo) cujas tropas ocuparam a Holanda. Intervenções políticas funcionam como uma espiral na medida em que os efeitos não atendem às expectativas dos interventores e, assim foram se aprofundando até chegarem na “solução final”, no genocídio que atingiu brutalmente a família de Anne Frank de maneira que somente seu pai sobreviveu, Otto H. Frank (1889-1980).
Um viés ideológico pode comprometer consciências sobre perseguições e tragédias humanitárias, quando há um lado que emite juízo sobre um outro que não se tem apreço, e então crimes são minimizados ou até mesmo ignorados. Isso ocorre porque o viés delimita preferências políticas e descarta a razão onde ignorar a gravidade de fatos faz parte dos propósitos. Infelizmente isso ocorre até hoje com as perseguições aos judeus que atravessam os séculos e o holocausto, um dos fatos mais bem documentados da história e que jamais deve ser esquecido como um dos momentos mais sombrios da humanidade.
Enquanto Anne Frank escrevia seu precioso diário, o processo de retorno mais intenso dos judeus havia se iniciado desde o Mandato Britânico da Palestina em 1918, e o aumento da pressão antissemita na Europa, durante os tempos de Hitler, aceleraram esse processo enquanto indicariam o reforço da tese de um Estado sionista onde um espaço territorial teria a soberania judaica respeitada. Se por um lado, a ocupação judaica se deu envolta ao incômodo dos que perceberam o afluxo, as polêmicas eclodiram na instituição do Estado de Israel em 1948 onde populações não judaicas foram severamente prejudicadas na medida em que a ocupação desse espaço foi se expandindo. Por outro lado, há intenções políticas movidas pelo antissemitismo onde a presença judaica não é aceita. A palestina é de judeus e não judeus, penso, e falar sobre seus conflitos sem considerar a realidade do antissemitismo, à mon avis, é esvaziar o tema.
Ao ouvir comentários de experts, independente de serem do Brasil, da Europa, dos EUA ou do Oriente Médio, não é raro perceber a sedução do viés ideológico que compromete a análise; quando o expert enfatiza aos direitos dos palestinos, entenda-se não judeus, minimiza os laços dos judeus com a região, e quando se enfatiza a história milenar de Israel na região, deprecia-se a conta que recaiu sobre os não judeus prejudicados com a soberania judaica na forma de um Estado. O viés se torna ainda mais tóxico quando se analisam os conflitos e os ataques do HAMAS, cuja barbárie beira o indescritível, são enfatizados enquanto se minimiza a carnificina dos mísseis de Israel sobre inocentes na Faixa de Gaza sob o argumento de que “Israel tem o direito de se defender”, enquanto se finge que milhares de inocentes são mortos nos ataques ou o contrário, quando o analista destaca a destruição do poderio bélico israelense e minimiza a gravidade dos ataques do HAMAS, e ainda tem o tipo que prefere deixar aberta uma interpretação que equipara os dois lados, sem diferenciar categorias quando de uma parte há claramente uma organização terrorista, por isso sem limites em relação ao que normalmente se aplica a uma organização militar, que atua na outra, cujo Estado se encontra, desde sua fundação, envolto a uma grave polêmica quanto à devastação social que provocou com seu monopólio territorial em relação aos habitantes “indesejados” não pertencentes ao seu grupo preferencial e que assim, sob o pretexto de ataques para neutralizar o lado terrorista que o atacou, esse aparato militar acaba por dizimar milhares de vidas civis inocentes, enquanto é sabedor que o inimigo usa camuflagem ocupando espaços entre civis. Não enfatizar a gravidade do que o Estado de Israel está a fazer com os civis da Faixa de Gaza é de um cinismo tão patológico quanto não enfatizar a barbárie dos ataques terroristas do HAMAS, bem como a situação dos reféns além de seus familiares e amigos.
21/10/2023 12h57
Imagem: palquest.org

“The conflict over Palestine is unusual in many different ways,principally of course because Palestine is not an ordinary place. An almost mythological territory saturated with religious ideology and endowed with overwhelming cultural significance, Palestine has been weighed down with historical as well as political meanings for many generations, peoples, and traditions.”
Obra: Blaming the Victims. Spurious Scholarship and the Palestinian Question. Introduction. Verso, 1988, London/New York. Editada por Edward Wadie Said (Jerusalém, 1935-2003) e Christopher Eric Hitchen (UK/Portsmouth, 1949-2011).
Edward Said, penso, crítico fundamental para melhor compreensão das questões palestinas.
A Palestina é um “território quase mitológico saturado de ideologia religiosa e dotado de um significado cultural esmagador, sobrecarregado de significados históricos e políticos ao longo de muitas gerações, povos e tradições” (p. 1). O autor abre a introdução da obra com esta importante síntese, o que me faz pensar que às vezes fico com a impressão que o termo “Palestina”, surgido no contexto do domínio do Império Romano em substituição ao antigo nome de “Judéia”, é usado em narrativas antissemitas como se os judeus não fizessem parte de sua composição histórica. Said não tem essa visão excludente, enquanto milita ao lado dos excluídos não judeus varridos de seus lares, o que o tornou um grande crítico das ações do Estado sionista; em seus textos vejo a forma lúcida e desimpedida como aborda a questão como um exemplo de honestidade intelectual.
O conflito atual tem um cenário além da região, alcança o universo das narrativas; o sionismo travou e venceu uma batalha no campo das ideias, é o que entendi quando Said aponta que “não é de forma alguma um exagero afirmar que o estabelecimento do estado de Israel em 1948 se deu, em parte, porque os sionistas adquiriram o controle da maior parte do território da Palestina, bem como porque venceram a batalha política pela Palestina no mundo internacional” (p. 1), o que me lembra, mais uma vez, a concepção de ocupação e controle dos espaços onde as ideias são debatidas à semelhança da supremacia do pensamento progressista em escolas, universidades e, sobretudo, em tribunais e na imprensa convencional. Torno ao autor que lembra que antes da Segunda Guerra, residia na Europa a “arena externa” na luta pela Palestina, mas após o término do conflito mundial, essa arena se mudou para os EUA onde o apoio a Israel se tornou crucial e, após apresentar alguns números, aponta: “Proporcionalmente à sua população, Israel recebe mais ajuda dos EUA do que qualquer estado estrangeiro na história” (p. 2).
Outro ponto importante é que Said é bem objetivo no problema; não se trata de ser contrário a presença de judeus e sim do que o Estado de Israel significou para os palestinos não-judeus nas duas primeiras décadas após sua fundação (p. 3):
“Depois que Israel foi estabelecido como Estado para “o povo judeu” e não como Estado para os seus cidadãos, os palestinos foram juridicamente relegados ao estatuto de “não-judeus”. Assim, ser palestino durante as duas primeiras décadas da existência de Israel significou o exílio para os 780 mil que foram expulsos em 1948, ou significaria uma existência subalterna indecente dentro de Israel para o remanescente de 120 mil que conseguiram permanecer. Os detalhes horríveis daquela vida foram revelados pela primeira vez ao mundo no pioneiro The Arabs in Israel (1976), de Sabri Jiryis, que foi complementado em 1979 por The Palestinians in Israel: A Study in Internal Colonialism (1976), de Elia Zurayk. Ambos valem a pena observando que eles próprios são produtos da vida como membros da minoria palestina. Um análogo pessoal comovente de ambas as obras é To Be an Arab in Israel (1975), de Fouzi al-Asmar”.
Falar sobre a Palestina, à mon avis, é pensar sobre uma região de disputas de todos os tipos que consigo imaginar, de destino de peregrinações épicas antes mesmo de assim ser chamada há 2000 anos; é meditar no Antigo Testamento e sentir seu significado espiritual enquanto também penso que se trata de uma estratégica passagem terrestre da África à Ásia, relativamente próxima da Europa pelo Mediterrâneo, um centro de negócios intermodais a compor um contexto maior, o Oriente Médio, hub da energia dos derivados do petróleo e berço das três grandes religiões monoteístas da atualidade, onde as paixões se misturam com interesses políticos e econômicos a compor a fórmula de um barril pólvora que habitualmente explode para o deleite de uns e o desespero de quem apenas deseja viver em paz na região.
Então, ao considerar a poderosa metáfora que me sinaliza a Palestina, sinto-me de alguma forma atingido quando os mísseis caem na Faixa de Gaza; penso na agonia de um povo sitiado, humilhado, encurralado, de crianças, mulheres, idosos e jovens desesperados em um estado de coisas sobre muitos interesses obscuros, onde se situam diversos movimentos políticos assim como penso como os conflitos na região são explorados por quem não tem a menor empatia pelos inocentes em meio a quem, na geopolítica, pensa tão-somente em conservar o próprio poder.
A importância que dou à Palestina, e ao Oriente Médio, aqui torno a um olhar mais abrangente, reside na concepção de que seus dilemas, conflitos, avanços, retrocessos, tradições, milagres e tragédias formam uma síntese profunda da humanidade. Há momentos que me sinto mais judeu, quando tento imaginar a dor das vítimas dos ataques terroristas deflagrados no último dia 7, e há momentos que me sinto mais palestino seja não judeu, árabe, cristão, não importa, ao ver os mísseis de Israel destruir vidas inocentes usadas como escudos infiltrados pelo HAMAS em uma situação onde aqueles que possam intentar o extermínio dos indesejáveis, enquanto pensam que não serão notados, não por serem terroristas, mas pessoas comuns, cuja vida no Talmud vale imensamente quanto a de um judeu.
20/10/2023 22h14
Imagem: Prêmio Nobel

“In conseguenza di questa sollevazione fu abolita la monarchia teocratica e il paese giudaico diviso, come la Macedonia, in cinque parti indipendenti, amministrate da collegi di ottimati;”
Obra: Storia di Roma. 7. La monarchia militare (Parte prima) Dalla morte di Silla alla dittatura di Pompeo. Terzo capitolo. L’Asia dopo Pompeo. Edição de Greenbook, 2020, Roma. De Christian Matthias Theodor Mommsen (Alemanha/Garding, 1817-1903).
Do vigésimo século da era corrente torno ao primeiro. Reza o dito de que “Rome ne fu pas faite toute en un jour”. Retrocedo mais cinco séculos para pensar nas guerras de conquista da República de Roma (forjada após o golpe que derrubou a monarquia em 509 a.C., marcado pela trágica história de Lucrécia) que seguiram um roteiro militar até a formação do império; expandiu-se o estado romano com base na humilhação de seus vizinhos na península itálica.
No século primeiro se repetia na monarquia militar imperialista a receita dos tempos de república no princípio Lebensraum ou seja, o “espaço vital”, onde para viver e respirar é necessário anexar territórios continuamente, e assim Roma conquistou a Judéia, com a estratégia do Divide et Impera; dividia-se politicamente os potenciais inimigos, representados pelas cidades invadidas, para enfraquece-los em termos de articulação e assim imperar sobre eles enquanto se distraiam com concessões.
Aponta Theodor Mommsen que a monarquia teocrática judaica foi abolida e a região por ela até então controlada dividida em cinco partes, semelhantemente ao ocorrido na Macedônia (p. 2.425). Pompeu tinha chegado à Síria em 61 a.C. e sinalizado aos judeus o que deveriam fazer; submissão em uma “reforma política”, assim penso, na restauração de uma antiga constituição sumo-sacerdotal reconhecida pelo Senado em 61. d.C., enquanto deveriam renunciar também às conquistas dos príncipes Asmoneus, cuja dinastia governou Israel (140 – 37 a.C.). Dois anos depois a resistência judaica sofreu um duro golpe (não tinha a menor chance diante do poderio romano) em uma operação imperial que se aproveitou do repouso hebraico do sábado para dizimar líderes que ainda resistiam na ocasião (p. 2.404).
19/10/2023 22h24
Imagem: Senado Federal

“The creation of Israel was an outstanding achievement of the UN You cannot have a people without a country, or you have a fragmentary, not a complete world. The current struggle in the Middle East was necessary, because it was unavoidable. There you have a part of the world, which once contributed powerfully to world civilization and culture. Now, thanks to the United Nations, it is awakening from colonial sleep and nomadic retrogression to full independence. […]”
Obra: Oswaldo Aranha: um estadista brasileiro. DEZ ANOS NAS NAÇÕES UNIDAS (1957). Entrevista concedida à repórter Kathleen Teltsch, do New York Times, no final de 1957. FUNAG, 2017, Brasília. De Sérgio Eduardo Moreira Lima, Paulo Roberto de Almeida e Rogério de Souza Farias (organizadores).
Da província romana da Judéia, no século I, às Nações Unidas do século XX com o protagonismo do brasileiro Osvaldo Euclides de Sousa Aranha (Rio Grande do Sul/Alegrete, 1894-1960) na criação do Estado de Israel.
Se o Brasil talvez seja mais conhecido no mundo por causa do futebol, embora há certo tempo se tornou de segunda categoria indo para a terceira, na diplomacia há muito tempo faz parte da “série A” com sua imensa tradição, como se deu na presidência de Oswaldo Aranha na sessão da ONU em 1947 que aprovou a Resolução 181 com o Plano de Partilha da Palestina e o estabelecimento da criação do Estado de Israel, que seria concretizado na auto declaração sionista de independência, no ano seguinte.
No trecho, parte inicial da resposta (p. 528) sobre qual a visão que Aranha tinha da situação após 10 anos da Resolução. Mais adiante externa sua fé na paz para o Oriente Médio; “tem tudo para ser uma região próspera e feliz”, afirma, e no último parágrafo lembra que no Brasil “os povos atualmente envolvidos na luta no Oriente Médio vivem lado a lado, não como inimigos, mas como amigos” (p. 529).
Na obra, traços do intrigante Oswaldo Aranha, do romântico sobre o Brasil, com direito a citação de Gilberto Freyre (p. 48), passando pelo articulista do golpe de 1930, na reunião de 25 de março daquele ano com Batista Lusardo, Neves da Fontoura, Flores da Cunha, Maurício Cardoso, Lindolfo Collor e outros (p. 31), ao amigo de Getúlio Vargas que em 1937, por discordância, deixa a embaixada nos EUA (p. 95) após mais um golpe do ditador “pai dos pobres” mais amado do Brasil, para no ano seguinte tomar posse no cargo de ministro das Relações Exteriores (p. 157).
18/10/2023 23h38
Imagem: Storia Verità
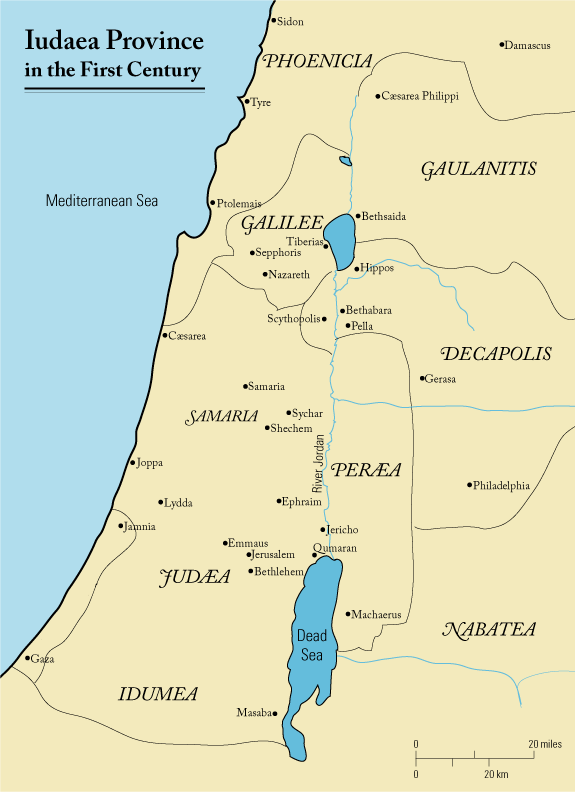
“I Romani temevano i Giudei, è indiscutibile; Ia loro grande diffusione, lo esclusivismo con cui si erano imposti, Ia facilità con Ia quale per ragioni religiose si abbandonavano a rivolte e sedizioni sanguinose, Ia loro tenace solidarietà […]”
Obra: Religione e Politica Nell’Impero Romano. Appendice. Roma e i Giudei. Fratelli Bocca Editore, 1923, Torino. De Giovanni Costa.
Obra de 1923, cuja leitura combinou bem com um amigo de infância estudante de italiano.
Então o poderoso Império Romano tinha certo temor aos judeus da província da Judeia, que passaria a ser chamada de “Palestina” preferencialmente após as revoltas do século primeiro ao segundo; esse temor “é indiscutível”, aponta o autor, pela grande difusão, pelo exclusivismo, pela tenaz solidariedade dos judeus entre si (pp 162-163).
Penso que certos valores cultivados por judeus ao longo dos séculos se chocam com grandes arranjos de poder que tenham como intento profundas intervenções, sobretudo as de teor ideológico e cultural e, neste ponto, adiciona a com a inveja a um tipo que prospera economicamente, e com esse sentimento tão peculiar a humanos, forma um bojo onde reside considerável parte das raízes que alimentam o ódio e as perseguições aos judeus.
Após 70 D.C., diz o autor, que os romanos procuraram impedir com todos os meios, a reconstituição nacional dos judeus (p. 152), que, aos olhos imperialistas, eram “incendiários” (as sucessivas revoltas confirmaram essa concepção), “anárquicos” (p. 108), entendo, nacionalistas no sentido de apegados a uma identidade cultural que é avessa ao estilo romano; judeus foram descobertos como tipos resistentes a certas regulações estatais, o que na época envolvia até mesmo normas para religião, uma marca do império que tentou uma convivência com concessões pontuais que se mostraram pouco úteis quando as rebeliões eclodiram.
17/10/2023 22h58
Imagem: CIE

PALESTINA OU ARGENTINA?
A qual das duas deve-se dar preferência? A Society aceitará o que lhe derem e aquela em direção à qual se incline a opinião geral do povo judeu. A Society averiguará as duas.
Obra: O Estado Judeu. Parte II. Palestina ou Argentina? Poeteiro Editor Digital, 2015, São Paulo. Tradução de Dagoberto Mensch. De Theodor Herzl (Império Austro-Húngaro/Budapeste, 1860-1904).
Obra icônica do movimento sionista moderno que aflorou no século XIX.
E eis que a terra dos hermanos chegou a ser cogitada para hospedar o Estado judeu. Argentina, “um dos países mais ricos da Terra, de imensa superfície, população escassa e clima temperado”, aponta o autor (p. 24); aqui um parêntesis onde penso que, ao meditar sobre nosso vizinho nos dias atuais, vejo mais um caso onde o socialismo se notabilizou como a forma mais eficiente de empobrecer uma sociedade.
Para Theodor Herzl, o Estado judeu possibilita a garantia da soberania visto que o princípio da infiltração paulatina, argumenta, nas duas experiências que menciona, Palestina e Argentina, resultaram em problemas na medida em que a população local se sentiu ameaçada com a ocupação judaica (p. 24); são por indivíduos unidos pela soberania que se constitui um Estado e não a extensão de terras (p. 54).
Desta obra, o ponto que considerei mais interessante, na primeira leitura, se deu ao verificar a explicação do autor sobre o fato dos judeus serem tão bons em negócios financeiros; “na Idade Média, nos empurraram para isto” (p. 18). Ao pensar na era medieval em que a usura foi mais mal amaldiçoada no predomínio da Igreja Católica Romana, o politica e teologicamente reprovável papel social do financista credor teria sobrado para os não sujeitos à fé papal, mais desprezíveis aos olhos do antissemitismo, e assim judeus marginalizados das profissões mais bem vistas à época foram para o ramo dos empréstimos, dos juros e dos investimentos, onde se tornariam mestres, algo que se repetiu no surgimento das bolsas, e nesse processo contínuo de exclusão, tornaram-se experts em bancos e afins enquanto os “cultos e sem bens” aderiram ao socialismo, na visão do autor (p. 18).
16/10/2023 00h05
Imagem: IPS

“[…] the Jordanian-Israeli peace agreement was signed on October, 26, 1994, representing a marked turning point in the relationship between Jordan and Hamas.”
Obra: Jordanian Policy and the Hamas Challenge: Exploring Grey Areas and Bridging the Gap in Mutual Interests. The ‘Gentlemen’s Agreement’: Defining the Framework for the Movement’s Presence in Jordan. Friedrich-Ebert-Stiftung, 2009, Amman. De Mohammad Abu Rumman (Jordânia/Amã, 1974).
Nesta obra do cientista político jordaniano, detalhes do nascimento do “Movimento de Resistência Islâmico” cujo acrônimo em árabe é HAMAS.
Pelos idos de 1986 a Organização Global da Irmandade Muçulmana estabeleceu o “Ramo Palestina”, para promover atividades islâmicas na região com enfoque em obras de caridade, educacionais e missionárias, no entanto o lado “jihadista” ficou evidente na Intifada de 1987 onde foi lançado o movimento de resistência islâmica, o HAMAS (p. 36).
Apesar das raízes com a Irmandade Muçulmana na Jordânia, indica o autor que o verdadeiro corpo de liderança do grupo se originou de expatriados, especialmente do Kuwait, que militaram para que o trabalho voluntário beneficente da Irmandade tivesse o ativismo jihadista (p. 37). Ainda na Jordânia, membros da Irmandade Muçulmana acabaram presos, acusados de conspirarem com o braço político-militar HAMAS no armazenamento de armas para realizar operações militares (p. 38). A tensão com o governo da Jordânia seguiu e um dos líderes do HAMAS, Ibrahim Ghosheh, alegou que o movimento não visava a segurança nacional da Jordânia e sim a alocação de armas destinadas à resistência palestina.
Um acordo foi realizado, mas o massacre da Mesquita Ibrahimi (al-Haram al-Ibrahimi) (Hebron, no dia 2 de fevereiro de 1994, na Cisjordânia), quando um judeu atirou sobre fiéis enquanto realizavam as orações da madrugada, matou 29 pessoas e gerou a reação do HAMAS com operações militares contra Israel em meio ao Acordo de Oslo entre o Partido de Libertação da Palestina Organização (OLP) e o Estado judeu (pp 40-41). Então, em 26 de outubro de 1994, signatários da Jordânia e Israel firmaram um acordo e aumentou a pressão interna contra o HAMAS, hospedado no país, enquanto realizava operações militares a ponto de se chegar a um confronto com a Autoridade Palestina na Cisjordânia e na Faixa de Gaza (p. 42). Combates entre palestinos, um lado aberto a negociações de paz com Israel, outro radicalmente determinado ao conflito com o Estado judeu.
O HAMAS encontrou mais espaço na política ao explorar precariedades dos palestinos e os terá como alvos se desejarem paz com Israel. Ao perder espaço na Jordânia, notadamente aberta à convivência com o Estado judeu, o grupo terrorista se estabeleceu na Faixa de Gaza, ganhou força pelas obras assistenciais e em 2006 ganhou as eleições legislativas vindo a assumir o controle da área desocupada por forças de Israel.
15/10/2023 11h17
Imagem: University of Exeter

“People in Gaza and elsewhere in Palestine feel disappointed at the lack of any significant international reaction to the carnage and destruction the Israeli assault has so far left behind in the Strip. […]”
Obra: On Palestine. Chapter Eight: A Brief History of Israel’s Incremental Genocide. Edited by Frank Barat. Haymarket Book, 2015, Chicago. De Avram Noam Chomsky (EUA/Pensilvânia/Filadélfia, 1928) e Ilan Pappé (Israel/Haifa, 1954).
Capítulo oito desta obra com Noam Chomsky é assinado pelo historiador israelense, crítico das ações do Estado de Israel na Palestina.
Penso em mais um trágico eterno retorno quando vejo o autor a lembrar um artigo que produziu para a publicação Electronic Intifada (EI), em setembro de 2006 a tratar do mesmo tema, enquanto se reporta ao Estado de Israel no conflito na Faixa de Gaza de 2014, para indicar que a política de “genocídio incremental” continua a mesma (p. 137). Em seguida, desenvolve uma reflexão (pp 138-144) com base em um histórico das ações do Estado de Israel que marcaram o que entende acerca da política de extermínio que classificou.
Quanto ao contexto de 2014, Pappé indica a desilusão dos palestinos em Gaza com falta de reação da comunidade internacional à “carnificina e destruição” do ataque israelita e a aceitação da “narrativa” para a crise que se baseia no direito de defesa do Estado judeu, após ser provocado com mísseis do HAMAS. Penso que a justificativa israelense permanece na atual crise e soa ainda mais contundente, bem como o apoio incondicional dos EUA com o coro dos líderes europeus, visto a matança de civis em Israel, por parte de terroristas do mesmo HAMAS, somada ao sequestro de mais de 100 civis, incluindo até bebês. O cenário complexo é de maneira que o HAMAS usa os civis palestinos como escudos ou camuflagem; esconde-se em locais onde residem civis que são atingidos por mísseis israelenses que têm como alvo os depósitos de armas do HAMAS.
A lógica militar de Israel poderia funcionar se o HAMAS fosse uma organização militar convencional, de um Estado com áreas militares, mas perde o sentido quando se trata de uma guerrilha que se mistura com civis. Então, penso, a tática de mistura e camuflagem adotada pelo HAMAS pode não ser apenas de interesse do movimento terrorista em Gaza; pode ser conveniente também para quem deseja exterminar os civis palestinos sob o pretexto de legítima defesa em ações letais contra o agente agressor enquanto esse mesmo agente, o HAMAS, ao se misturar com o povo palestino, mediante seus milicianos, quando neutralizados (mortos), levarão muitos civis em Gaza. Talvez o autor se refira ao termo “genocídio incremental” operacionalmente neste ponto.
Pappé também menciona que no Ocidente há até “reservas sobre a proporcionalidade da força utilizada por Israel”, isso em relação ao contexto de 2014, no entanto, vejo que esse uso desproporcional da força militar se repete com o aceite da essência do argumento israelense na guerra atual. O autor vê como “estratégia global de Israel” (p. 138) para a Palestina, a matança em massa de palestinos de forma que aparente ser “menos o produto de uma intenção insensível”, o que me fez pensar novamente em algo um tanto velado, talvez com a cumplicidade de diversos agentes de peso na geopolítica.
14/10/2023 15h58
Imagem: palquest.org

“To write critically about Zionism in Palestine has therefore never meant, and does not mean now, being anti-Semitic; conversely, the struggle for Palestinian rights and self-determination does not mean support for the Saudi royal family, nor for the antiquated and oppressive state structures of most of the Arab nations.”
Obra: The Question of Palestine. Two. Zionism from the standpoint of its victims. Vintage Books, 1980, New York. De Edward Wadie Said (Jerusalém, 1935-2003).
Ter uma visão crítica sobre o sionismo, em relação ao que ocorre na Palestina, não significa que se é antissemita (p. 59), da mesma forma que, parafraseando o renomado autor palestino-americano, ser crítico ao termo “palestino”, a considerar que se trata de uma invenção promovida pelo imperador Adriano em 135 d.C. para descaracterizar o vínculo dos judeus na região da então província da Judéia, não significa que se é sionista, bem como contrário hoje a ocupação na região, desde que pacífica, dos que não são judeus e/ou não desejam a cidadania israelense, assim como a defesa dos assim chamados “palestinos” não significa que se está alinhado com os arranjos árabes de poder, nem que se é antissemita, tampouco que se tem alguma simpatia por grupos extremistas islâmicos, nem pela visão russa ou qualquer outra que tenha aversão ao Ocidente.
Com base no exercício crítico do autor, penso, que o fato de um governo reconhecer (o óbvio) que a ala militar do HAMAS se trata de uma organização terrorista, criminosa, cujos membros devem responder por seus atos de barbárie, não significa que se está alinhado com a política dos EUA na região, por sinal uma das influências mais nefastas para os povos envolvidos e a geopolítica.
No mundo da política há a especialidade de se promover uma confusão proposital entre os discursos e os interesses obscuros, um cinismo peculiar como se pode verificar o que discorre o autor sobre “liberais, judeus americanos pacíficos, líderes dos direitos civis, indivíduos de moral e autoridade” mas que foram incapazes de assumir publicamente uma posição sobre a questão dos direitos dos povos palestinos, como se fossem “uma figura de linguagem a ser evitada”, como se não fossem os mesmos civis que foram “deslocados e despossuídos por uma invasão do sionismo que ainda buscava colonizar seus últimos remanescentes” (p. 194), neste ponto, uma das raízes do conflito: a revolta dos palestinos que perderam a terra em posse de seus antepassados na ocupação israelense, que reivindica o mesmo em um contexto de maior antiguidade somado ao legalismo do Estado criado em 1948.
A questão dos “palestinos” diz respeito a pessoas em estado de vulnerabilidade que tentam sobreviver em torno do Estado de Israel, de seus antepassados que foram usurpados enquanto estão subjugadas por interesses diversos, de extremistas islâmicos a sionistas, conforme comprometimentos com grupos de poder, muitos dos quais preferem a camuflagem, o anonimato, alguém que lhes preste o “serviço sujo”, onde a dignidade dos mais carentes não tem qualquer importância. O conflito entre israelenses e palestinos está longe de ser restrito aos dois termos; há interesses com impactos diversos pelo mundo, dos choques de oferta de energia a entrada de outros grupos terroristas e do Irã, em tensões que fluem enquanto a escalada de crimes contra civis proporciona um potencial incalculável de consequências globais.
13/10/2023 00h08
Imagem: C-SPAN

“O professor Hafiz Mohammad Saed, o líder do Markaz, salientou que ‘a jihad não é terrorismo, é antes a garantia de paz no mundo. Judeus e cristãos estão impondo [as] as piores brutalidades aos muçulmanos. A jihad é a única solução para todos os problemas que os muçulmanos enfrentam’ […]”
Obra: Bin Laden: O Homem que Declarou Guerra à América. Capítulo 12: Os planos de Bin Laden. Ediouro, 2001, São Paulo. Tradução de Helena Luiz. De Yossef Bodansky (Israel, 1954-2021).
Torno ao best-seller de Bodansky. No trecho, o pensamento do paquistanês Mohammad Saed que resume a visão de mundo comum em terroristas islâmicos: a “guerra santa” por extermínio dos inimigos da concepção que se tem sobre a fé islâmica. Não há possibilidade de paz no sentido que a cultura ocidental costuma dar. Os líderes políticos cristãos, judeus e muçulmanos não extremistas, predominantemente, atuam pelo mundo em um parâmetro de diplomacia, relativo respeito por ideias divergentes e coexistência, enquanto o parâmetro do extremismo islâmico da jihad é o do extermínio de tudo o que não se enquadre na ideia que se tem de governo por “teocracia”, entenda-se um regime totalitário onde se fundem Estado e religião sob um sistema de poder baseado em uma interpretação radical da fé islâmica.
Saed foi condenado em 2020 no Paquistão em um tribunal antiterrorista, no entanto, segue procurado com prêmio de US$ 10 milhões por informações que levem à sua captura ao considerar que a justiça do Paquistão tem um sistema que não garante sua prisão, sendo considerado o mentor do atentado de 2008 em Mumbai, com 166 mortos [180], tendo como alvo mais conhecido o Hotel Taj Mahal Palace.
Segundo descreve Bodansky nesta obra, Saed falou do papel da jihad em reuniões no Paquistão, que antecederam ao atentado de 11 de setembro de 2001, entre diversos grupos extremistas onde o participou a liderança do HAMAS chefiando a delegação de terroristas (p. 416). No final dos anos 1990, antes mesmo de tomar o controle da Faixa de Gaza (2006), o HAMAS tinha papel de destaque entre grupos terroristas islâmicos.
180. https://rewardsforjustice.net/pt-br/rewards/hafiz-saeed/
12/10/2023 13h12
Imagem: Mitchell Bard Site

MYTH
The Palestinians are descendants of the Canaanites
Obra: Myths And Facts: A Guide to the Arab-Israeli Conflict. Chapter 1: Israel’s Roots. AICE, 2017, Chevy Chase. De Mitchell G. Bard.
O exercício da leitura tem diversas frentes e a mais importante, entendo, consiste em permitir ao meu juízo simplesmente ler o que autor escreveu, de maneira que minhas ideias e crenças não interfiram a distorcer o conteúdo, tarefa por sinal dificílima. Enquanto me policio para deixar o autor “falar”, anoto eventuais pontos identificados como críticos para análise mais acurada, algo que será realizado somente após a leitura integral.
O currículo do dr. Mitchell Bard indica uma extraordinária expertise no tema do conflito entre Israel e palestinos. Com mais de duas dezenas de livros, há outra obra que considero muito interessante a partir do provocante título: The Complete Idiot’s Guide To Middle East Conflict, de 1999. Com o vasto currículo também se verifica a forte relação do autor com interesses da parte judaica nas questões do Oriente Médio, aliás, no site do autor se informa que ele foi considerado uma das “100 pessoas que mais influenciam positivamente a vida judaica pelo jornal Algemeiner” [179], um viés que não devo ignorar, enquanto também procuro guiar meu espírito pelo “exercício da leitura” que mencionei.
A edição que disponho no Kindle tem ligeiras variações em relação a outras que apreciei. O mito, conforme entendimento do autor, destacado nesta Leitura, trata sobre a ideia de que os palestinos são descendentes dos cananeus, para justificar a presença anterior a dos filhos de Israel, o que é classificado como “sem evidência histórica” (p. 3) a apontar que os cananeus desapareceram há três milênios; cita a afirmação de Hussein bin Ali al-Hashim (1854-1931), “guardião dos lugares sagrados do Islã na Arábia” (p. 4), de que “os ancestrais dos palestinos só estiveram na região por mil anos” [11], e que os palestinos reivindicaram, em reunião de 1948 com o comitê Anglo-Americano, de que a presença deles remonta até o século VII da era cristã, quando os seguidores de Maomé conquistaram a região e até mesmo nesse ponto, segundo o autor, há dúvida pois ocorreram muitas mudanças com reposição total da população na região por guerras (cita as Cruzadas), pragas e outros desastres. Somente no Mandato Britânico (1920-1948), argumenta o autor, é que “cem mil árabes emigraram de países vizinhos e hoje passaram a ser considerados palestinos” (p. 4). E se o conceito de antiguidade for usado como referência, o desvinculo de descendência dos palestinos com os antigos cananeus, combinado com o início da presença judaica com mais de 3 mil anos (o que historiadores sérios não vão duvidar, sustenta o autor) na terra em conflito , apontam fatores que legitimam a presença e o direito de fixação por parte dos descendentes de Israel.
No primeiro mito da obra (The Jews have no claim to the land they call Israel), o autor explica as origens da palavra “Palestina” cuja relação aponta aos filisteus (aqui me fez lembrar das primeiras aulas de Antigo Testamento que tive com o professor Marcos Bittencourt), que fora um povo egeu no século XII a.C. que se fixou onde hoje se situam Israel e a Faixa de Gaza. O termo “Palestina”, segundo o autor, foi usado pela primeira vez pelos romanos, para se referir a Judeia como forma de “minimizar a identificação judaica com a terra de Israel” (p. 2),e neste aspecto, é preciso verificar o contexto de um império que estava enfrentando a resistência por revoltas judaicas.
179. Ver Mitchell Bard, Biography.
11. Nota do autor: Al-Qibla (March 23, 1918) quoted in Samuel Katz. Battleground-Fact and Fantasy in Palestine (NY: Bantam Books, 1977), 126.
11/10/2023 21h14
Imagem: GTU

“A pergunta fundamental das origens de Israel pode ser feita da seguinte maneira: Como Israel assumiu o controle de Canaã?”
Obra: Introdução Socioliterária à Bíblia Hebraica. Capítulo 4. Tradições a respeito dos pais e das mães de Israel. 24. Horizontes sócios-históricos de Jousé e Juízes. Paulus, 1988, São Paulo. Tradução de Anacleto Alvarez. De Norman Karol Gottwald (EUA/Illinois/Chicago, 1926-2022).
O autor de The Tribes of Yahweh: A Sociology of the Religion of Liberated Israel, aponta três modelos explanatórios primários: Israel ocupou por meio de conquista militar maciça (p. 251), o que se alinha com as narrativas de Josué e Juízes, atualmente minhas releituras bíblicas de cabeceira. Diante das destruições de cidades em nome do sagrado, no caso do contexto da conquista, ao anátema, pensei como as guerras entre palestinos e israelenses de meu tempo são ecos dessas narrativas bíblicas, bem como meditei sobre a questão da violência letal religiosa; o que fora anátema para Israel, atualmente se associa ao conceito de jihad islâmica: matar em nome de uma divindade. Pensei nos malabarismos retóricos que escutei de fundamentalistas bíblicos para explicar porque Deus ordenou o anátema e o povo de Israel matou inocentes, mulheres, crianças, bem como me lembrei como reagi a este tema tão complexo do Antigo Testamento com o instrumental da exegese para entender que se tratava da concepção que se tinha sobre a “vontade divina”.
O segundo modelo trabalhado por Gottwald nesta obra aponta que a ocupação teria ocorrido através de “infiltração pacífica”; processo de imigração gradual onde os israelitas foram se integrando com os cananeus; até me faz lembrar um pouco a ideia de “ocupação” em Gramsci. Os defensores dessa linha destacam conclusões negativas quanto à tese bíblica da ocupação militar, mediante indicações arqueológicas em sítios como Jericó e Hai, aponta o autor (p. 261).
O terceiro modelo procura explicar a conquista de Canaã a sustentar Israel formado, em grande parte, por nativos que se revoltaram contra “os suseranos e classes superiores das cidades-estado” e assim foi estabelecida uma ordem alternativa sociopolítica e religiosa (p. 251); abordagem de inclinação marxista, ao considerar que essa revolta que teria dado origem a Israel, foi provocada por povos endividados, submetidos a trabalho forçado, taxações e demais explorações das classes dirigentes (p. 262).
10/10/2023 22h48
Imagem: Consulado Israel SP

“[…] nós que lutamos contra vocês, os palestinos – dizemos a vocês hoje em voz alta e clara; basta de sangue e lágrimas. Basta!”
Obra: Mesmo seus Inimigos Choraram: O Assassinato de Yitzhak Rabin de Israel. Citações de Yitzhak Rabin. Tisi Books, eBook Kindle, 2021. De Janvier Chouteu-Chando.
Do terror estampado nas notícias que chegam do Oriente Médio, da perplexidade que emudece, veio-me a recordação desta fala de Yitzhak Rabin (1922-1995), um ícone do militar combatente no nascedouro do Estado de Israel, ao embaixador, passando pelo político até chegar ao posto de primeiro-ministro e o Nobel da Paz de 1994, mas que terminou assassinado pela mentalidade cujo sistema de barbárie vive do conflito e massifica a morte de inocentes.
Pesadelo sem fim, uma versão do eterno retorno trágico pelo extremismo que matou Rabin parece uma sombra ou um fantasma a rondar os esforços nos recentes acordos de paz entre signatários do governo de Israel e estados árabes (Pacto de Abraão). Esse “fantasma” está não apenas na ação do HAMAS, que foi de grupos de atiradores de pedras em tanques, 20 anos atrás, a uma guerrilha equipada para ataque aéreo e com um plano de incursão aparentemente capaz de enganar a inteligência israelense, tão elogiada e incapaz de perceber as articulações de terroristas que vivem encurralados em um corredor, sem saída terrestre; também assombra pela facilidade com que o ataque foi executado no país cujo sistema de defesa militar é considerado um dos mais modernos do mundo.
No Oriente Médio, quando a paz faz um aceno, raramente é bem vinda, apesar dos discursos, Rabin pagou o preço imposto pelo ódio que se manifesta para reavivar uma chaga que remonta aos tempos bíblicos.
09/10/2023 00h03
Imagem: C-SPAN

“The HAMAS initially demanded an Islamic multi-national force capable of defending the Gaza Strip against future Israeli aggression. The HAMAS insisted that the majority of troops come from Egypt and Turkey, and the rest from Pakistan, Iran and other Arab states. […]”
Obra: The Heretic’s Lament. ESPSW Strategy Serie Focus on Defense and International Security. De Yossef Bodansky (Israel, 1954-2021).
Análise de Bodansky, que foi um dos maiores especialistas em terrorismo islâmico, realizada em dezembro de 2012 sobre o HAMAS e uma operação militar de Israel na Faixa de Gaza naquele ano. No trecho, uma referência que pode significar um risco maior caso ocorra uma escalada no conflito que eclodiu neste sábado com a ofensiva do HAMAS: o envolvimento de estados árabes caso as tropas de Israel invadam a faixa de Gaza na escalada militar.
Chamou-me a atenção a impressionante inércia dos sistemas de proteção de Israel diante dos mísseis e das invasões por terra de terroristas do HAMAS, em um período onde a política interna israelense está conturbada por protestos nas ruas contra a reforma judicial promovida pelo governo enquanto tramitam tratativas de paz (Pacto de Abraão) com a Arábia Saudita, o Estado com maior influência no mundo mulçumano sunita. Torno ao artigo de Bodansky que aponta as negociações em torno da “Operação Pilar da Nuvem” israelense – executada entre 14 e 21 de novembro de 2012, apoiada pelos EUA na administração do então presidente Obama – indicou o “início do fim” do Oriente Médio moderno e o início de domínio pela radicalização jihadista. Não poderia haver um clímax mais condizente com a “Primavera Árabe” à época, no contexto das crises da Síria, do Iraque, da Jordânia e da Faixa de Gaza (incluindo a Península do Sinai), com impacto agregado do desafio islamista-jihadista ao mundo árabe de Estado moderno e a ascensão das forças islâmicas externas que os cercam, o Egito, a Turquia e o Irã, que estariam em uma aliança tripartida. Bodansky sinalizada que a Faixa de Gaza deve ser colocada em um contexto mais amplo; não se restringe ao resultado real do referido confronto entre Israel e a aliança Jihadista liderada pelo HAMAS em Gaza e no Península do Sinai, mas sim a exploração dos combates para promover interesses estratégico-regionais dos EUA e pela aliança tripartida. Segundo Bodansky, o então presidente Obama estava convencido, na ocasião, de que estes desenvolvimentos promoviam os interesses políticos de Washington, a favor da consolidação de uma rede de regimes islâmicos autocráticos afiliados a Ikhwan nos estados árabes existentes no Oriente Médio – mesmo que não fosse pró-americanos – sob a hegemonia da aliança tripartida, porque acreditava-se que a integração no sistema tripartido poderia tornar o Irã de Khamenei mais receptivo aos EUA.
08/10/2023 12h05
Imagem: David Rubens – bíblico teológico
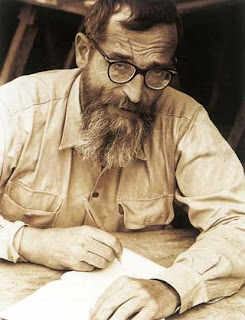
Roland de Vaux
“Não se pode falar, pois, de uma concepção israelita de Estado. A confederação das doze tribos, a realeza de Saul, a de Davi e de Salomão, as dos reinos de Israel e de Judá, e a comunidade pós-exílica representam outros tantos regimes diferentes. Pode-se, sem dúvida, ir mais longe e dizer que nunca houve concepção israelita de Estado.”
Obra: Instituições de Israel no Antigo Testamento. Terceira Parte. Instituições Civis. Capítulo IV. 7. Existiu uma concepção israelita de Estado? Teológica/Paulos, 2003, São Paulo. Tradução de Daniel de Oliveira. De Roland Guérin de Vaux (France, 1903-1971).
A recordação deste trecho se deu por um fidalgo que, ao citá-lo, argumentou que “por isso, o Estado de Israel é ilegítimo”, demonstrando-me como uma compreensão distorcida sobre um determinado contexto pode, lamentavelmente, acometer pessoa muito instruída, digo com “formação superior”, sobretudo quando envolta em paixão por alguma visão política de mundo (no caso, a crendice de que tudo que os EUA apoiam se deve ficar contrário), bem como dar a um entendimento de um erudito um status de absoluto (nada me parece mais anticientífico), fechando-se à possibilidade de ponderação.
E eis que restou a confusão do fidalgo sobre as circunstâncias do nascimento do Estado de Israel em 1948 (um processo que começou no final do século anterior), com o que o renomado padre, historiador e arqueólogo Roland de Vaux apontou em relação ao contexto do Antigo Testamento; “nem a confederação das tribos, nem a comunidade do retorno constituíam Estados”; a monarquia, em modos distintos, se deu com as tribos do norte (por três séculos) e de Judá (por três séculos e meio) e a penetração dessas instituições políticas na mentalidade do povo, não é algo fácil de ser determinado, além de que a “lei do rei” (Dt 17.14-20) e o “direito do rei” (1 Sm 8.11-18; cf. 10.25) “em nada se parecem a constituições”.
A realeza é tolerada por Iahvé (1 Sm 8.7-9), conforme escolha (Dt 17.15), mas há alertas por conta da imitação a outros povos (1 Sm 8.5; Dt 17.14), no tocante aos males que pode provocar (1 Sm 8.11-18; Dt 17.16-17), bem como há uma corrente com aversão à monarquia (1 Sm 8.1-22; 10.18-25, Dt 17.14-20, Os 7.3-7; 8.4, 10; 10.15; 13.9-11, Ez 34.1-10; 43.7-9), dando ao príncipe uma pequena importância, enquanto se pode verificar que o redator deuteronomista condena todos os reis de Israel e quase todos de Judá (p. 125). Em contraste, outra corrente glorifica a dinastia de Davi ( 2 Sm 7.8-16, Sl 2; 18; 20; 21, etc.), a envolver o messianismo real (Is 7.14), 9.5-6, 11.1-5, Jr 23.5; Mq 5.1; cf. adaptação messiânica dos salmos reais, p. 126).
Israel é o povo de Iahvé e não há outro senhor, eis a concepção de poder que inspira essas duas correntes antagônicas; a teocracia, uma comunidade religiosa, onde a monarquia, o “Estado”, que surgiu depois dessas comunidades, “aparece como elemento acessório”, indica Roland de Vaux (p. 126).
07/10/2023 18h44
Imagem: instituto cpfl

“[…] dois dos fatores predisponentes ao suicídio são o sexo masculino e a idade avançada. […]”
Obra: O suicídio e sua prevenção. 5. Causas do suicídio. Unesp, 2012, São Paulo. De José Manoel Bertolote (Brasil).
O livro do psiquiatra perito e professor voluntário da UNESP tem dados e análises em um formato consolidado, que não é cansativo para o leigo, acerca do suicídio no mundo e no Brasil, bem como aborda o tema da prevenção.
Pondera-se que gênero e a idade são fatores bimodais em relação aos comportamentos suicidas como um todo, e se combinados com histórico de tentativa formam uma tríade para identificação de risco, mas com pouca utilidade prática para a prevenção (p. 70). A lista dos fatores de risco envolve três tópicos (predisponentes, proximais e precipitantes), sendo alguns de características próprias, imutáveis, do indivíduo (p. 72). Quanto à tentativa, chamou-me a atenção, como leigo, que “a maioria dos estudos é unânime em reconhecer que uma tentativa de suicídio é um dos mais fortes preditores de outro futuro comportamento suicida, ainda que se possam escoar décadas entre esse dois comportamentos” (p. 123).
Quanto à prevenção, tem grande relevância um conhecimento aprofundado dos fatores causais (p. 68); saber identificá-los é tarefa para profissional, no entanto, penso, pela experiência de leitura, que o conhecimento dos sinais pode despertar um sentido importante entre pessoas próximas para deflagrar um processo de busca por ajuda médica.
O professor menciona três trabalhos que indicam a inteligência emocional, o senso de responsabilidade pela família e objeções morais e religiosas como “fatores de proteção contra a ideação e tentativas de suicídio” (p. 75)., bem como a correlação de certas religiões e taxas de suicídio, a citar Durkheim (1858-1917) onde confirma a tese de maior taxa entre protestantes, em termos de grupos cristãos (p. 77).
06/10/2023 21h23
Imagem: TimeOut

“Profano, afetivo e radicalmente honesto […] subversivo, catártico e de morrer de rir.”
Obra: Vai dormir, p*%#@. Contracapa. Sextante, 2011, Rio de Janeiro. Tradução de Angélica Lopes. De Adam Mansback (EUA, 1976).
Curiosíssima experiência de leitura, este livro foi um presente de aniversário em 2014.
A obra é irreverente com formatação infantil e feita para adultos, regada às (boas) ilustrações de Ricardo Cortés.
Noite avança e um pai desesperado, ao ver que o filho não adormece, começa a fazer versos com histórias de bichinhos e outros contos com a maioria a terminar com um vai dormir, p*%#@ ou algo em referência ao palavrão que compõe o título do livro. Em inglês, Go the f#*% to Sleep e em espanhol, a coisa me pareceu bem mais “saliente”.
Na capa, a informação de que a obra ficou em primeiro lugar na lista do New York Times, o que fez me lembrar de um comentário que ouvi de um professor nos anos 1990 sobre o significado do sucesso na literatura raramente ser o mesmo da concepção crítica que tende a predominar em algum conceito de valor atribuído à arte, algo que por sinal vejo como, muitas vezes, mera divagação, pois arte é arte onde a subjetividade de quem a aparecia tem peso imenso; pode-se não gostar, achar engraçado, enaltecer, ficar indignado, aprovar e reprovar, tudo de acordo com percepções e valores de quem se depara com a obra e Vai dormir, p*%#@ é um exemplo de como o público pode se identificar com algo que eruditos achariam de gosto duvidoso, bem como os que preferem certos parâmetros morais que não se harmonizam com um texto breve, simples e, ao mesmo tempo, ousado (além da conta para os certinhos demais). Também pensei em Taleb nos capítulos 2 e 3 de A lógica do cisne negro, se o sucesso da obra seria um caso do “Extremistão” ou do “Mediocristão” e ao rememorar o que escutei nos anos 1990, pareceu-me ser algo típico do segundo caso.
05/10/2023 22h44
Imagem: El Español

“O feio foi definido muito bem por Marx em Manuscritos Econômico-Filosófico (1844) a propósito do dinheiro, mas podemos entendê-lo também em relação ao poder.”
Obra: Aos Ombros de Gigantes. A Fealdade. Lições em La Milanesiana 2001-2015. Gradiva, 2018, Lisboa. Tradução de Eliana Aguiar. De Umberto Eco (Itália/Alexandria, 1932-2016).
Foi uma marcante experiência de leitura de minha juventude, a citada obra (p. 70) de Karl Marx (1818-1883) define o que popularmente se diz quando o feio fica bonito quando se tem muito dinheiro, uma bela síntese sobre a concepção que é definida pela ostentação em um mundo onde prevalece a superficialidade dos juízos pelas aparências que, não raramente, enganam.
Umberto Eco, um pouco adiante, define o feio como “paixão”, pela repugnância (p. 71), o que me soa com muito sentido quando observo reações acerca do que se tem por belo diante da rejeição ao que se revelou como contrário. Esse feio está no contexto da paixão quando tem por referência a interesses estritamente materiais e, neste ponto, lembrei-me de um viúvo septuagenário que certa vez resumiu a principal função social de sua riqueza acumulada ao longo da vida; enquanto desprovido do belo e do vigor da juventude, dissera-me que ter dinheiro serve tão-somente para lhe revelar as jovens interesseiras que intentam em preencher um espaço que o prazer carnal jamais será capaz de fazê-lo.
Torno à lição de Umberto Eco que cita São Boaventura (1221-1274) acerca do feio artisticamente bem representado que se torna belo (p. 72). Entre outros exemplos, lembra o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, quando o “horrendo” (o flagelo, o corpo espancado de Jesus) se torna fonte de prazer (p. 73), por sinal, volta a referenciar o conceito do feio que se vê como belo ao citar Hegel (1770-1831) que pensou o Cristo flagelado, com coroa de espinhos, com a cruz, como o impensável no conceito de beleza na concepção grega (p. 79); penso também na mudança do significado da cruz, símbolo da mais agonizante execução de pena de morte na antiguidade imperial, para um símbolo de salvação.
Na relatividade do feio, Umberto Eco dá uma aula sobre a concepção do feio, “que deve ser compreendido analisado, justificado” (p. 105), de monstros medievais, assim vistos na visão moderna, a ideia de serem “interessantes” ou “fabulosos” para quem viveu naquela era (p. 80), da fealdade nas artes, onde destaco o Homem Que Ri (1869) “que desperta a paixão erótica de uma mulher corrompida e decadente” (p. 90), à ambiguidade no conceito de Kitsch (p. 99).
04/10/2023 22h01
Imagem: Mises Brasil

“[…] a raiz da oposição ao liberalismo não pode ser compreendida lançando-se mão do método da razão. Tal oposição não se origina da razão, mas de uma atitude mental patológica […]”
Obra: Liberalismo. 6. As raízes psicológicas do antiliberalismo. Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2010, São Paulo. Tradução de Haydn Coutinho Pimenta. De Ludwig Heinrich Edler von Mises (Áustria-Hungria/Leópolis, 1881-1973).
E segue o maior ícone da Escola Austríaca: “isto é, do ressentimento e de uma condição
neurastênica que se poderia chamar de “complexo de Fourier’, assim denominado em razão do socialista francês do mesmo nome” (p. 43).
Mises aponta a inveja como força que impulsiona o desejo de piorar a situação do semelhante em melhor condição, em vez de procurar melhorar a própria, como um fator psicológico nas raízes da mentalidade antiliberal ou anticapitalista; “o ressentimento ocorre quando alguém odeia tanto uma outra pessoa, por esta encontrar-se em circunstâncias mais favoráveis, que este alguém até mesmo se prepara para suportar pesadas perdas, se a pessoa odiada ao menos pudesse também se prejudicar” (pp 44-45).
Fez-me pensar em uma frase que escutei inúmeras vezes, de Tom Jobim: “Sucesso no Brasil é considerado ofensa pessoal”. Torno a Mises, que cita Goethe, em o Prometeu:
“Julgas tu que devesse eu odiar a vida, e evadir-me no ermo Porque nem todos os sonhos de criança me floresceram?” (p. 45)
O socialismo, na visão psicológica de Mises, teria um poder de sedução para o neurótico no ímpeto de se vingar de quem ousa ser bem sucedido em um mundo onde a desigualdade é inerente ao humano; frustrado, fracassado, incapaz de suportar o próprio insucesso, esse ser humano então apela a uma “mentira salvadora”, e nada melhor lhe satisfará que o ambiente político sob apreço por ideias socialistas; “somente a teoria da neurose pode explicar o êxito obtido pelo fourierismo, o resultado maluco de um cérebro seriamente tresloucado”, afirma (p. 45).
03/10/2023 22h40
Imagem: Redelp

“De duas proposições contrárias, se uma é verdadeira, a outra é falsa. Mas, se uma é falsa, não se pode concluir nada sobre a outra.”
Obra: Lógica Formal, Lógica Dialética. Capítulo III. Lógica Formal. 11. Inferências imediatas. Civilização Brasileira, 1995, Rio de Janeiro. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. De Henri Lefebvre (France/(Hagetmau, 1901-1991).
Hoje entendo que a esta obra está entre as melhores experiências de leitura dos anos 1990.
No tópico 7, Lefebvre trabalha os juízos analíticos e sintéticos de Kant, cuja distinção “teve sua razão de ser na crítica do formalismo lógico. Kant quis mostrar que todo pensamento real progredia através da síntese”, mas essa oposição de natureza acerca os dois tipos de juízo “não deixa por isso de ser falsa” (p. 148), isso posto, Lefebvre apresenta uma crítica dialética, quando argumenta que o analítico e o sintético são momentos do trabalho do pensamento ou, penso, a síntese com respaldo lógico é uma expressão breve embasada na mesma consistência lógica do teor analítico. A expressão sintética representa um aspecto diverso na forma, e sendo válida, consistente, acerca de um determinado objeto, não entra em contradição com a forma detalhada, analítica, sobre o mesmo objeto.
São contraditórias duas proposições quando diferem em quantidade (a primeira afirmativa e universal, a segunda particular e negativa) e qualidade, concomitantemente; “todos os homens são mortais” versus “alguns homens são imortais”, e assim duas proposições quando são contraditórias, uma é verdadeira, e a outra, falsa.
Quando proposições diferem apenas pela qualidade, trata-se de contrárias; “todo homem é louro” versus “nenhum homem é louro”.
Caso se diferenciem pela quantidade, são subcontrárias; “alguns homens são louros” versus “alguns homens não são louros” (p. 150).
Lembro que em 1996 brincava de identificar proposições para classificá-las eventualmente como contraditórias, contrárias e subcontrárias; a confusão sobre os termos provoca distorção cognitiva. Em 1996, quando li a obra, pensei nessa confusão diante de um distinto senhor que me perguntou se eu era lulista, e quando respondi que “não”, ele conclui que eu era “tucano” (FHC). Apesar de, naquele tempo, ter uma mentalidade progressista, não me identificava com Lula, mas também não tinha apreço por FHC (embora tivesse a percepção dele como um político de centro-esquerda), e disse ao senhor que ele estava a confundir contraditório com contrário, pois o fato de não ser um apoiador de Lula, não me torna automaticamente um apoiador de FHC. Pensei nessa confusão quando, no ano passado, ao ser indagado se eu votaria em Bolsonaro, quando respondi “não”, o interlocutor concluiu, com ar melancólico, que eu sou “petista”, o que também é falso, e por razão distinta do binarismo FHC x Lula dos anos 1990, quando eu acreditava em políticos.
A política é um dos campos onde essa distorção é mais latente e, imagino, danosa em termos sociais, pelo caráter coletivista de sua abrangência dada a exploração que o marketing político pratica sobre a massa acometida.
02/10/2023 00h02
Imagem: BBC

“A depressão severa é um nascimento e uma morte: é ao mesmo tempo a presença nova e o total desaparecimento de algo.”
Obra: O demônio do meio-dia: Uma anatomia da depressão. 1. Depressão. Companhia das Letras, 2018, São Paulo. Tradução de Myriam Campello. De Andrew Solomon (USA/New York, 1963).
A obra é um extraordinário relato de quem sentiu o problema na pele. Informa que não é médico, psicólogo ou filósofo (Uma nota sobre o método, p.12). A primeira edição é de 2001. O doutorado na área de psicologia é posterior; leciona psicologia clínica na Columbia University Medical Center (orelha do livro).
O nascimento da depressão é o indivíduo sugado pelos sintomas (a história que conta sobre a trepadeira que se apoderou da carvalho ilustra esse nascimento, p. 18) enquanto a morte “é a própria desintegração da pessoa”. A felicidade é a primeira perda seguida do esvaziamento das emoções, que caem no esquecimento. Nada proporciona prazer, “notoriamente o sintoma cardeal da depressão severa” (p. 19).
O diagnóstico é tão complexo quanto a doença (p. 19); cita como “inteiramente arbitrária” a definição constante no Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (p. 20). A doença atinge pessoas diferentes de modos diferentes; alguns resistem e lutam contra os sintomas, outros se rendem, ficam indefesos totalmente (p. 22), mediante o que “geralmente destrói o poder da mente sobre o estado de espírito” (p. 23), e impõe uma sensação de que nunca vai passar (p. 24), o tratamento é um problema à parte, pois poucas doenças são sub e sobretratadas como a depressão; “confundida com as doenças físicas pelas quais se manifesta” (p. 25), enquanto muitos não recebem tratamento ou são tratados de forma inadequada (p. 26).
O livro é de teor pessoal, no entanto são 577 páginas que registram o autor a mergulhar profundo no tema com dados abrangentes, casos específicos e reflexões. A leitura desmistifica o problema, desnuda a doença, desvela detalhes e anula preconceitos.
01/10/2023 16h57
Imagem: Independent Institute

“For many years, I have been critical of the Austrian theory of depressions and this led Walter Block to ask me to put my criticisms in print.
Since in oral discussions, I am frequently accused of misrepresenting the theory, I asked him to give me a canonical version and he gave me the Rothbard pamphlet, “Economic Depressions: Causes and Cures.”[1]
Nota do autor:
- Although “Economic Depressions: Causes and Cures” appears on the cover of the pamphlet, the title page gives Depressions: Their Cause and Cure. Whatever the title, it is published by Constitutional Alliance, Inc., Lansing, Mich, (no date).
Obra: Why the Austrians Are Wrong about Depressions. REVIEW OF AUSTRIAN ECONOMICS, VOLUMES 1-10. Mises Institute, 2015, USA. De Gordon Tullock (USA/Illinois/Rockford, 1922-2014).
Tullok não foi economista por formação, no entanto, foi respeitadíssimo na economia política, sendo coautor da public choice ao lado do Nobel 1986 James M. Buchanan (“The Calculus of Consent”, 1962); colaborou com um campo do pensamento que aplica sistematicamente a abordagem da escolha racional da economia à análise dos mercados políticos.
Em sua crítica a Economic Depressions: Causes and Cures, atribuída como “versão canônica” apontada por Walter Block (1941), menciona que o texto de Murray Rothbard (1926-1995), citado na nota 1, está baseado na teoria ricardiana a qual reconhece como “grande avanço”. As divergências com a teoria das depressões da Escola Austríaca (EA) consistem sobre o que deveria ser acrescentado ao pensamento de David Ricardo (1772-1823).
Entende que Rothbard nunca explica por que a inflação, ao fazer parte de sua teoria, não pode simplesmente ser continuada ou mesmo acelerada (p. 73); em um cenário que era difícil para Mises compreender essa continuidade à época, para Rothbard, mais familiarizado com o mundo atual, não o seria. Aponta (soa irônico) que Rothbard e outros austríacos argumentam que os empresários estão bem informados e fazem julgamentos corretos, (penso aqui, sobre a avaliação em um ambiente de ciclo depressivo), e assim seria razoável supor que leriam Mises e Rothbard para antecipar a ação do governo (p. 73). O terceiro ponto diz respeito ao que entende por aparente crença de Rothbard de que a depressão e os booms são cíclicos, no entanto, argumenta que em testes estatísticos o que se verificou foi resultado aleatório.
A maior objeção se relaciona com o que estaria a ocorrer no ponto de retomada do ciclo econômico, considerando a visão austríaca, após os ajustes da depressão, no entanto, Tullok insere a ação governamental por meio de medidas inflacionárias (p. 74) a transferir recursos da cidadania em geral para as contas de investimento neste aspecto, a teoria austríaca não considera as intervenções, pela visão de Tullok, o que no mundo contemporâneo é usual.
A variável dos estímulos, penso, é o ponto crítico das divergências onde Tullok explica por que entende que a a teoria austríaca está errada. A visão dos cíclicos concebe as intervenções como parte do “tratamento” que na verdade potencializa a gravidade da depressão, o que é verificado quando a bolha estoura, o que Tullok menciona como, essencialmente, Rothbard parece entender que a década de 1920 foi um longo período de taxas de juros artificialmente reduzidas, onde os eventos de 1929 encerraram, ou aproximaram o fechamento de investimentos de capital causados por essas baixas taxas de juros (p. 76); Tullok emite uma crítica sob perspectiva de que intervenções governamentais são concebidas como parte da resolução, pelo menos de alguns problemas, no entanto, o que insere o antigo debate (superado para muitos) acerca do papel do Estado em um cenário depressivo, porém, o mérito dos austríacos, à mon avis, diz respeito a teorizar não apenas sobre como seria se houvesse um ambiente sem intervenções, bem como indicar que, no quadro real (das intervenções), considerando ciclos, seus danos são maiores que os benefícios auferidos.
Comentário