31/05/2024 21h21
Imagem: ABL

“não há coisa mais limitada do que o dinheiro, a riqueza. Pois que ele só nos vale até certo ponto, ou seja até se chocar com os limites dessa coisa intransponível que se chama a natureza humana.”
Obra: 100 crônicas escolhidas: Um alpendre, uma rede, um açude. Riqueza. José Olympio, 2021, Rio de Janeiro, eBook Kindle. De Rachel de Queiroz (Brasil/Ceará/Fortaleza, 1910-2003).
Crônica de 1953.
E segue Rachel de Queiroz a afirmar que “a riqueza, sendo capaz de nos proporcionar apenas o que está à venda, não nos pode dar nada de genuíno, de autêntico, de natural” (l. 2961). Em um texto que tem 71 anos, penso que o atual estágio de meios tecnológicos acessíveis a quem é abastado o suficiente para comprar alguns “milagres”, em relação aos exemplos que menciona, essencialmente, penso, revelam o quanto Rachel de Queiroz foi cirúrgica acerca da ilusão que acomete o ser humano com o que a riqueza material pode proporcionar; “a natureza não se vende”, lembra. Então me volto à imaginação e penso na cena de uma dondoca em banho de loja a torrar alguns milhares com sessões no esteticista, adquirir apetrechos para se parecer mais atraente e tudo o que represente glamour, prestígio social, para se esconder debaixo de toda essa fantasia; um falso ser perdido na falta de pedigree, na carência de virtudes do ser, de bens que não têm preço. Não se compra cultura, intelectualidade, inteligência, fineza, ternura, beleza natural, talento, bondade, sabedoria… Mesmo não sendo possível adquirir de uma prateleira coisas como honestidade, integridade de caráter, sinceridade, amizade verdadeira e amor, a grande ilusão da vida social reside exatamente em se comportar como se esses bens fossem commodities, mercadorias padronizadas e acessíveis mediante poder de consumo.
Esse texto de Rachel de Queiroz me fez lembrar de duas situações: a primeira foi de um “filhinho de papai”, cuja riqueza estava diretamente proporcional ao seu espírito de porco quando se ocupava bastante em provocar um colega de sala, que tinha uma humilde condição econômica. Quando perguntei a ZW, em meus 19 anos de inocência, o que faria alguém tão rico se ocupar tanto em “zoar” (bullying era um termo que desconhecia à época) um rapaz tão inofensivo, pobre e por isso totalmente fora do seu ciclo social, ele respondeu: “nosso humilde colega chama a atenção porque tem muitas coisas que o fidalgo, mesmo que de forma grotesca, percebe que não tem e que o dinheiro que tem não pode comprar: cultura, educação e gentileza, em suma, classe. Lá no fundo de sua alma isso pode incomodá-lo bastante porque a única coisa que ele sabe fazer é pegar coisas pelo poder de consumo que tem para se auto afirmar e, diante de alguém com certas qualidades que não podem ser adquiridas por esse poder, o boçal entra em parafuso impulsionado pela inveja ao perceber que todo o dinheiro que tem não resolve sua miséria imaterial, sua pequenez de pessoa”. Em outras palavras, a inveja de quem dispõe de bens imateriais é tão ou mais perturbadora que a que ocorre de quem tem posses materiais e um tempo depois notei que o desprezo no Brasil pela intelectualidade tem a ver com isso.
E a segunda recordação veio de um sujeito que um dia descobriu que se tornou servo do dinheiro, mas quando a posse da riqueza pela qual tanto trabalhou a vida inteira não foi suficiente para livrá-lo de um grave problema de saúde na família, percebeu o vazio que o acometia e então descobriu que o melhor investimento que existe é o da vida espiritual, e foi por meio dessa riqueza imaterial que encontrou forças para lidar com o sofrimento.
30/05/2024 21h29
Imagem: katholish.de

“A eucaristia comunitária quase não era mais celebrada como tal (mais tarde, a participação anual teve que ser prescrita)”.
Obra: A Igreja Católica. 4. A Igreja Papal. Objetiva, 2002, Rio de Janeiro. Tradução de Adalgisa Campos da Silva. De Hans Küng (Suíça/Sursee, 1928-2021).
A primeira recordação deste livro tenho de um católico muito praticante e próximo que o apreciou por mera curiosidade; o exemplar que disponho já estava com marcações em 2002 (nessa fase tinha esse vício que hoje me envergonho) e lembro-me como ficou intrigado ao ler certas passagens que destaquei. Quando descobriu que o autor, à época vivo, trata-se de um doutor teólogo da Igreja, mesmo depois descoberto que fora marcado por polêmicas, então o incômodo se elevou à enésima potência pelas “barbaridades”, assim entendeu, contidas nesta obra que considerou “herética”, especialmente neste capítulo (p. 106) acerca de certas indicações, por exemplo, de que muitas tradições se baseiam em falsificações que “davam a impressão de que a igreja inicial fora governada por decretos papais até os mínimos detalhes de sua vida” (p. 106).
O normal é que o laicato seja instruído exatamente para o entendimento contrário mas, acontece, comentei, que a vida no seminário pode ser perturbadora por revelar “barbaridades” que se chocam com nossas crenças, comumente automáticas no pensamento; tal conflito se dá, entre outras coisas, por meio de uma inconveniente ciência chamada história, conhecida por devastar quem percebe que fora instruído com fake news; em suma, muito do que se ensina a devotos sobre as origens da Igreja, seja católico romano, seja protestante, muitas vezes não passa de uma coletânea de narrativas fantasiosas baseadas em documentos carentes de autenticidade.
Contudo, o ponto que mais me apetece neste capítulo se relaciona com um especial interesse que tenho pela eucaristia comunitária mencionada no trecho (p. 103), que fora substituída pela “missa tipicamente católica”, completa o autor “herege”, dada a consolidação do papismo em meados do século V, com o “primeiro papa de verdade” (outra “barbaridade” que quase fez meu interlocutor cair da cadeira, logo na abertura) assim intitulado por Hans Küng (p. 87): Leão I (440-61), com destaque para Carlos Magno (742-814) que três séculos adiante, no auge do poder, tinha uma espécie de neura saudosista para reavivar (p. 102) certas coisas do falido Império Romano do Ocidente (língua, cultura).
No final, descobri mais um acometido da síndrome de protetor do intelecto alheio; o interlocutor amaldiçoou a obra e o autor, para então encerrar com a clássica lista de “boas obras católicas” recomendadas.
29/05/2024 22h14
Imagem: C-SPAN

“Há documentos que apontam diretamente para o fato de que a União Soviética se preparava para uma ofensiva contra toda a Europa, no verão de 1941. Constatei que um desses documentos achava-se no arquivo central do Ministério de Defesa da Rússia, no setor 16, registro 2.951, pasta 241, páginas 1 a 16.”
Obra: O Grande Culpado. O plano de Stálin para iniciar a SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. Amarilys, 2010, Baueri. Tradução de Flora Salles. De Viktor Suvorov, pseudônimo de Vladimir Bogdanovich Rezun (Rússia/Barabash, 1947).
A tese que consegui captar da leitura deste livro, do ex-agente do GRU, é desconcertante: Hitler teria sido um instrumento (no sentido clássico dado por comunistas quando usam alguém) de Stalin para a escalada que culminou na Segunda Guerra Mundial.
No prefácio, o autor traça um provocante quadro de similaridades entre Hitler e Stalin e então menciona onde estão os documentos que atestam a tese que aponta para Stalin como o mentor de um processo onde esperava pelo inevitável: os europeus entrariam novamente em guerra (p. 36), tendo Hitler o papel de carregar o peso do ódio do mundo nos ombros (p. 27), tendo Stalin atuado com um “malabarismo ideológico” na política alemã (p. 38) para contribuir na chegada dos nazistas ao poder e assim realizar o que era de interesse soviético, o que envolvia uma escalada onde quanto mais crimes cometesse o regime de Hitler, quanto mais os europeus consumissem seus recursos econômicos guerreando entre si (p. 39), melhor seria para o protagonismo do regime de Stalin, que entraria no conflito no tempo oportuno “como vítima inocente, libertador da Europa” (p. 139) do mal nazista que o próprio Stalin ajudou a construir.
Sobre o trecho (xxiii) desta Leitura, veio-me então o que aponta o autor sobre o conhecimento da inteligência nazista acerca dos planos militares soviéticos em relação à tomada da Europa; “o serviço alemão percebera corretamente a situação, mas não em sua totalidade” (xxiii), e se, por hipótese, Hitler sabia, juntando com a concepção comum à época de que os nazistas representavam uma defesa europeia perante a ameaça comunista que tomou o poder na Rússia, então, não apenas a ofensiva nazista no leste, mas também a ideia de um bloco europeu centralizado contra a ameaça soviética poderia ter sido um vetor nos planos de Hitler na escalada militar.
28/05/2024 22h53
Imagem: Vaticano

“La festa più insigne, che ebbe origine in questo periodo, è quella del Corpus Domini. Le visioni della monaca Giuliana, a cui parve di vedere la luna (il ciclo festivo) pieno di splendore e solo in una parte oscura, diedero occasione perchè fosse introdotta questa lesta nella diocesi di Liegi (1246).”
Obra: Storia della Chiesa. Volume I. Roma, Frederico Pustet, MDCCCCII. CAPITOLO V. LA VITA RELIGIOSA E MORAL E E L’ART E CRISTIANA. 129. Le feste della Chiesa. Traduzione del Sac . Dott. Pietro Perciballi. De Franz Xaver von Funk (Alemanha/Abtsgmünd, 1840-1907).
Torno a edição em italiano da obra do historiador e teólogo alemão para meditar sobre o que seria para mim feriado na próxima quinta se eu fosse católico; a celebração do Corpus Domini.
Tiago de Troyes se tornou papa com o nome de Urbano IV e prescreveu a celebração para toda a Igreja em 1264. No entanto, após a sua morte, ficou rapidamente fora de uso, aponta o historiador alemão (p. 433), mas se intensificou de forma permanente pelas repetidas prescrições de Clemente V e João XXII, no início do século XIV. No mesmo parágrafo (trecho desta Leitura), o autor menciona as visões de freira Juliana sobre a lua (o céu festivo) cheio de esplendor e apenas numa parte escura, quando se deu a celebração na diocese de Liège (1246). Não se menciona o milagre de Bolsena com relação à prescrição de Urbano IV:
“No momento da consagração, quando ele pronunciou as palavras que permitem a transubstanciação, ocorreu o Milagre cuja descrição está gravada numa lápide: ‘De repente, naquela Hóstia apareceu claramente uma carne verdadeira banhada em Sangue, exceto a partezinha que estava entre os dedos do sacerdote: o que não ocorreu sem mistério, mas para que fosse mais evidente a todos que a carne era realmente aquela Hóstia elevada acima do cálice pelas mãos do celebrante'” [230].
Se tem algo que não me apetece é a provocação mútua de tipos militantes entre católicos e “protestantes” sobre artigos de fé, em especial quanto à transubstanciação. Não dá, é triste ver cristãos rixosos gastando energia entre si. No entanto, considero belo o debate teológico em torno de pontos fundamentais da fé, onde se situa a transubstanciação; debate e não ataques virulentos com saudosismo da inquisição e da Guerra dos 30 Anos (1618-1648).
Entendo a discordância como algo natural; é necessária, um dom divino no refletir, concordar, discordar, debater, repensar, reconhecer valores de outrem. Os radicais, fanáticos, apologetas de ambos os lados, não gostam muito dessa estética em dialética, pois partem de uma premissa de monopólio da verdade em termos absolutos; não estão dispostos a ver a fé como um conhecimento construído sujeito a revisões, reconsiderações, atualizações, em um processo de espiritualidade que tem a razão crítica de contrapeso. Quando penso então sobre a presença de Cristo nas celebrações, fenômeno que para os católicos é sobrenatural na missa, enquanto direto, objetivo, claríssimo na Hóstia consagrada, o debate se torna ainda mais importante. O fato de não acreditar em uma doutrina não me impede de ficar fascinado com seu testemunho pela fé, refiro-me aqui aos católicos no exercício da fé, sobretudo quando penso em sua profunda relação com o corpo de Cristo. O fato de discordar de algo não me torna seu inimigo; não é coisa que se resolva por mero raciocínio binário, por um silogismo de condenar quem professa o que não creio. Desta forma não preciso ser um crente de uma confissão para admirá-la (por isso quando entro em uma igreja católica, sinto uma emoção e uma paz interior porque percebo uma abertura pessoal à contemplação da fé e, por algum fenômeno de minha formação teológica, remeto-me à minha fé com traços simbólicos), tampouco vejo sentido em ser desafeto por não seguir o catolicismo, embora alguns católicos mais fervorosos possam me ter como “herege”, “protestante condenado”, por não crer na sua concepção de eucaristia, ofereço-lhes a caridade de Cristo na compreensão de seu testemunho da fé na esperança que possam sentir o mesmo pela minha forma de ver Cristo por um memorial.
230. Ver em Milagre Eucarístico de Bolsena.
27/05/2024 00h01
Imagem: BBC

“Please do not be angry at them or at God if I get killed”
Obra: The Last Sunset: The life of John Chau. One More Attempt. Brethren Publishing House, 2019, Phatanamthitta. De Febin Johnson.
Na noite de 16 de novembro de 2018, antes de mais uma tentativa de ingressar na ilha Sentinela, na esperança de ser aceito pelos sentineleses, registro do missionário John Allen Chau (EUA/Alabama/Scottsboto, 1991-2018) em uma carta para sua família, reproduzida nesta obra (p. 9).
Foi comovente e trágico. Li os últimos escritos no diário dele e fiquei perplexo com a paixão pela conversão dos sentinelesesá à fé cristã, talvez alguns entendam como obsessão. Chau foi até as últimas consequências pela crença na Grande Comissão; queria alcançar uma tribo que vive isolada há dezenas de milhares de anos, cujo contato pode ser fatal não apenas para quem se aventura a visitá-la, o que, infelizmente ocorreu, morto quando insistia no contato, segundo relato de pescadores que o levaram ilegalmente, mas, sobretudo poderia ter sido igualmente letal para os nativos que ficariam expostos a vírus, bactérias, doenças portadas por um não nativo no contexto de Chau, patologias neutralizadas em seu sistema imunológico por um longo processo que inclui vacinas e imunidades adquiridas ao longo do tempo, mas não desenvolvido entre os aborígenes e que assim podem ser transmitidas e dizimar todos os membros da Ilha. Neste ponto, a atitude de Chau foi bastante temerária, questionável do ponto de vista humanitário, pois significa colocar em grave perigo os sentineleses; é um ponto de vista (científico) de uma questão muito complexa, uma restrição sanitária que nada significava, em termos práticos, à mentalidade que o influenciou: Chau, penso, estava bem intencionado e deve ter tido um coração enorme, mas sua paixão pela conversão de almas isoladas do mundo, jamais alcançadas pela pregação, está baseada em uma concepção do Evangelho de Cristo que é uma forma de fideísmo envolto na cultura missionária radical americana, baseada em uma leitura fundamentalista da Bíblia que ignora outros conhecimentos que são, inclusive, importantes para o exercício da fé. Chau é visto como mártir nessa visão de mundo, cujo fanatismo missionário só tem uma perspectiva; a de quem leva a mensagem bíblica, uma narrativa de salvação que muitas vezes não passa de fantasia e/ou forma de colonizar quem é julgado culturalmente inferior. Nesse tipo de visão missionária, não importa a perspectiva de quem é visto como alvo.
Os sentineleses deram, ao longo de tentativas de contato, sinais de que não desejam ser visitados e ter a ilha ocupada por estranhos, de modo que isso altere seu estilo de vida. A pregação evangélica, não incomum tendo enorme carga de idealismo colonialista, imagino, provavelmente nada significa para eles além de uma ameaça ao seu território e aos meios de subsistência, em se tratando de uma comunidade caçadora e coletora que tende a ver em um visitante mais um para consumir os meios naturais de sustento. É preciso considerar este ponto, além de que conquistar a confiança de uma tribo isolada, pelo que se conhece da antropologia, é uma tarefa de longuíssimo prazo e com grande probabilidade de fracassar.
26/05/2024 11h12
Imagem: História Judaica

– “Vosmecê agora me faça a boa obra de querer me ensinar o que é mesmo que é: fasmigerado… faz-me gerado… falmisgeraldo… familhasgerado…?”
Obra: Primeiras estórias. Famigerado. Global Editora, eBook Kindle, 2019, São Paulo. De João Guimarães Rosa (Brasil/Minas Gerais/Cordisburgo, 1908-1967).
Escritor de gênio – por Heitor Odranoel Bonaventura
Não há como não pensar em Ariano Suassuna quando leio Guimarães Rosa, o qual o intelectual do Movimento Armorial, que fora muito próximo a ele, definiu como “escritor de gênio” [228]. Gigante da língua portuguesa, Rosa seria hoje chamado de “isentão”, dada sua vocação nobre em ser um escritor liberto de paixões políticas e fanatismos partidários. No nível de Machado de Assis, penso, sinto como se ele fora um mago das palavras, não consoante aos neologismos mas, principalmente, por promover um encontro fantástico da erudição com as narrativas dos antepassados, no homem da roça, do sertão, do interior, do mato, em um gênero cuja poética contrasta com certa sequidão linguística da cultura urbana.
A começar pelo título que marca, na publicação de 1962, a inauguração de um gênero narrativo, remeteu-me ao que dissera sobre “a ESTÓRIA não quer ser história. A estória, em rigor, deve ser contra a História. A estória, às vezes, quer-se um pouco parecida à anedota” [229]. O trecho desta Leitura do contra Famigerado me faz pensar nisso, no cavaleiro com cara de nenhum amigo, à frente de três caboclos sob seu controle, todos à cavalo chegam no arraial. Aquele cavaleiro de dar medo trazia a dúvida que o incomodava após um encontro com um “rapaz do governo” que “frouxo falava” e o chamou de famigerado, termo estranho à sua compreensão de destemido; aqui vejo o causo anedótico em meio à sofisticação de Guimarães Rosa na construção da narrativa.
Se há alguma crise na atual produção literária brasileira, penso neste autor tão erudito, viajado, que experimentou uma espécie de alquimia em meio às línguas que se relacionou em função de seus afazeres diplomáticos. Voltar-se a ele e a Machado de Assis, assim como a Rachel de Queiroz, Cecília Meireles, seria um bom início de tratamento.
Um autor da modernidade que releu o primitivo, a loucura da espontaneidade humana, o incomum que encanta, a infância no deslumbre, ingredientes de cifras humanas no cotidiano em meio a uma metafísica em dialética com a existência; suas temáticas em meio à finitude, às lembranças que fascinam, aos causos hilários, aos mistérios que intrigam a mente no imaginário popular, à ingenuidade do bucólico, ao medo e ao destemor em um universo rico de reflexões de personagens intrínsecos na simplicidade que não é confundida com superficialidade.
228. Guimarães Rosa e Eu. Almanaque Armorial, Folha Ilustrada, 27 de novembro de 2000.
229. Tutameia: Terceiras Estórias, p. 7. Nova Fronteira, 1981, Rio de Janeiro.
25/05/2024 07h30
Imagem: PGL

“Quereis enriquecer-vos no comércio? Renunciai à sabedoria, por que, do contrário, como poderíeis fazer um falso juramento, sem vos sentirdes dilacerar por um horrível remorso?”
Obra: Elogio da loucura. Declaração de Erasmo de Roterdã. Martin Claret, 2002, São Paulo. Tradução de Alex Marins. De Desidério Erasmo de Roterdã (Holanda/Roterdã, 1466-1536).
Em 1992 ainda não tinha completado 18 primaveras quando escutei de um representante comercial: “isso (tinha lhe falado sobre ética nos negócios) pode ser lindo de ser ver em sua ingênua e romântica visão da vida, mas no mundo real é preciso ser como a raposa e o leão; o primeiro sabe se defender das armadilhas, das rasteiras que nos preparam aqui e acolá, principalmente dos ‘amigos’, e o segundo, sabe amedrontar os lobos. Os dois sabem usar a ferocidade como o sinal para se impor em seus territórios, sem piedade, sem senso de moralidade”.
Só fui descobrir três anos depois que aquele pragmático homem de negócios tinha parafraseado Maquiavel em O Príncipe. Contudo, continuei a vislumbrar a ética, como filosofia primeira, apesar de estar cercado por exemplos de que aquele senhor tão “sábio” aos olhos de outros colegas de vendas, aparentemente, tinha razão, quando em 2003 conheci um diretor de uma grande empresa onde prestava serviços. Ele tinha um perfil psicológico bem complexo; narcisista. Deu uma vista em uns livros que estavam em minha maleta aberta e disse: “poxa, esperava ver livros de TI e não essas bobagens de filosofia e teologia”, então deu uma pausa com uma batida em meu ombro, sorriu e completou: “estou brincando, rapaz!”. Não, ele não estava brincando, pois quando o observava, voltava-me a 1992, às palavras do representante, sobretudo na parte derradeira. O diretor fazia da arte da manipulação um estilo de vida; dissimulado, calculista e implacável com quem lhe desafiava ou demonstrasse alguma qualidade que tornasse explícita à presidência (sua grande meta naquele tempo) alguma falha que tivesse cometido. Encontrei vários tipos assim em minha jornada e os piores são os que carregam alguma fantasia religiosa rica em aparências de “santidade”, “bondade”, “piedade”, etc.
Isso posto, de 2003 a 2007 se deu um período de importantes transformações em minha vida de pensante, onde fui aprendendo a entender melhor como se explica o desprezo pela filosofia primeira no chamado cotidiano. Por que a ética é um tema sem sentido para muitos? O que coabita com a integridade de pensamento e a ação, a se traduzir em honestidade do ser e, sobretudo, no amor a Deus e ao próximo como a si mesmo, sendo incompatível com as necessidades imediatas do animal político que pode prevalecer no ser humano, acaba rejeitado para dar lugar a variações do que o representante tinha falado em 1992. E esse fenômeno pode parecer sutil em muitas ocasiões, por exemplo, quando dei uma sugestão a um contador “novo rico” em 2012 para apresentar em um evento presencial com seus colaboradores, um vídeo em que Lopes de Sá dá uma aula sobre ética na contabilidade, ele me respondeu que tinha gostado, mas por falta de tempo achava melhor inserir algo mais prático e esse “prático” se traduziu em um “expert” que convidou para falar sobre como montar uma rede de “parceiros” para mapear empresários oferecendo trabalhos consultivos e assim expandir ainda mais a carteira de clientes. Ao ler o prospecto da palestra, perguntei se não o incomodava adotar um modelo baseado em espionagem e assédio de clientes de outros colegas e a resposta foi: “já fui vítima disso, seja bem vindo ao mundo real”.
Para evitar qualquer possibilidade de entrar em alguma desgastante crise na consciência, evita-se então a sabedoria, aqui penso na ética primeira ou no examinar-se a si mesmo sob o senso de moralidade natural. Neste ponto medito sobre “como poderíeis deixar de travar convosco uma contínua guerra íntima?” provocação do erudito do período da renascença, Erasmo de Roterdã, no trecho desta Leitura (p. 100), dada no contexto de um tempo de crise moral no papado e nos palácios, que lembrei ao pensar neste tema.
E, ao perceber esse desprezo tão antigo pela ética primeira, então pensei em um colega que parece cansado de ver tanta gente inescrupulosa prevalecer com as devidas maquiagens para “beleza” e “integridade” de caráter que em nosso tempo são garantidas pelas redes sociais com quase perfeição. É perene a sabedoria que dá saúde à alma, e através da história universal é possível compreender que, apesar do ser humano querer se prevalecer como animal político, pela transcendência se pode chegar à ética primeiríssima que vence o mundo.
24/05/2024 22h30
Imagem: wikimedia

“It is true, we attain to no historical knowledge of the patriarchs, but only of the time when the stories about them arose in the Israelite people; this later age is here unconsciously projected, in its inner and its outward features, into hoar antiquity, and is reflected there like a glorified mirage.[…]”
Obra: Prolegomena to the History of Israel. Traduzido do alemão por J. Sutherland Black e Allan Menzies. Duke University Press, 2000, Durham. De Julius Wellhausen (Confederação Germânica/Hamelin, 1844-1918).
Recife, 2002, fevereiro – Doutor em economia, judeu, um homem culto, marcado pela serenidade, a ele perguntei sobre os patriarcas e Moisés. Resposta direta: “não existiram, fazem parte do folclore hebreu, são figuras lendárias do povo judeu”. Não me recordo se era ateu, como um colega também judeu que gostava muito de Nietzsche.
Recife, 2004, fevereiro – No seminário me lembrei da conversa que tive com o professor de economia na medida em que avançava nas aulas de Antigo Testamento e exegese. Lembro-me também de certo incômodo em um jovem colega, um tanto perturbado com comparações de trechos do Gênesis com a Epopeia de Gilgamesh e o Enûma Eliš enquanto em minha mente tudo aquilo fazia sentido, era normal, pois estava em um ambiente acadêmico e não em uma escola bíblica dominical, onde o que pesa é a doutrina. Nessa época conseguia ter grande apreço pela doutrina (talvez porque tinha um resquício de mente politizada dos anos 1990 e entendia como “militância religiosa”) e ler o Pentateuco como uma coletânea, por analogia, de textos que refletem, entre outras formas literárias, uma versão hebraica de mitos celebrados por outros povos da antiguidade, assim como entender que a criação no Gênesis é lendária.. Em suma, não sentia grandes perturbações entre fé e razão um pouco antes de ter entrado no seminário.
Ler Wellhausen a afirmar que não temos nenhum conhecimento histórico dos patriarcas, mas apenas da época em que as histórias sobre eles surgiram no povo israelita e que este período posterior foi inconscientemente projetado, em suas características internas e externas, na antiguidade, e assim foi refletido como uma “miragem glorificada” (VIII.II.1. I), não me pareceu então nada demais um tempo depois, mas aprendi logo que muitos fiéis nas igrejas, educados na concepção doutrinária que dá a entender que tais personagens existiram, não se relacionariam bem com essa simples constatação crítica da ausência de evidência de historicidade: Adão, Eva, as primeiras gerações, os patriarcas e Moisés, assim como os doze que encabeçam as tribos de Israel, são personagens folclóricos, fictícios, na leitura acadêmica da Bíblia. Isso naturalmente incomoda quem só vê sentido na leitura devocional se for de forma literal ou seja, fundamentalista; eis o problema central de todo fanático religioso defensor da total historicidade bíblica: limitar a Palavra de Deus à literalidade dos textos, e nesse empreendimento medonho não é raro que se entre em apuros; a prisão da literalidade impulsiona a busca por explicações do absurdo e a intolerância propriamente dita. Passa-se então a banalizar questões profundas sobre nossas origens, dilemas, anseios e certos valores que carecem de contextualização, não sendo por acaso que o viés fundamentalista serve de base para manter práticas que “justificam” coisas bisonhas como a submissão da mulher ao macho ditador, o ódio contra homoafetivos, a violência em nome de Deus (que “manda matar”) em formas bem variadas e alvos diversos, além de que no passado não tão distante “justificou” a escravidão (e ainda conta com simpatizantes no tempo presente ou “passadores de pano” para racistas e afins), bem como dá “embasamento” à hilária concepção da “terra plana”, sendo assim o fundamentalismo um instrumento perverso de degeneração do intelecto e da espiritualidade para amaldiçoar tudo o que não couber dentro da literalidade absurda que é cultivada.
Depois de um tempo fui compreendendo melhor a graça da Palavra de Deus que se revela e nos interpreta na experiência espiritual de meditação sobre o Texto, e não na letra morta.
23/05/2024 22h16
Imagem: Portal da Literatura

“Do fundo do meu futuro, durante toda esta vida absurda que eu levara, subira até mim, através dos anos que ainda não tinham chegado, um sopro obscuro, e esse sopro igualava, à sua passagem, tudo o que me haviam proposto nos anos, não mais reais, que eu vivia.”
Obra: O Estrangeiro. Parte II. 5. Record, 2019, Rio de Janeiro. Tradução de Valerie Rumjanek. De Albert Camus (Argélia/Dréan, 1913-1960).
O mais próximo de um Meursault vi em um senhor nos anos 1990, no sentido que extraí o título deste romance. Ele normalmente tinha respostas breves, porém chocantes sobre temas aleatórios os quais sabia dosar de forma sinistra acerca de envolver-se ou não. Era discreto de maneira que conseguia passar sem ser notado em situações em que todos o tinham por vista. Esvaziado da indiferença do mundo, nada parecia ser capaz de empolgá-lo. Suas vestes comuns eram de alguém modesto e contrastavam com o importado blindado que tomava no estacionamento.
Se para muitos debutantes, na faixa de idade de seus netos, a independência financeira era um grande objetivo no que entendiam sobre “vida”, para ele era um viver no vazio, pois a riqueza material funcionava como um mero instrumental até mesmo entediante em certos momentos, sem sentido como propósito no viver; soava-lhe o fato de ter muito dinheiro como um encargo, uma responsabilidade onde a condução era puramente técnica, impessoal, fria; nada tinha de deslumbrante, tampouco a ver com ideias de estabilidade, segurança, realização pessoal e prestígio. A vida assim é “uma ilusão nas banalidades”, dizia. Outra ideia que parafraseei tratava toda forma de auto promoção como debilidade ou delírio diante da consciência a denunciar o próprio despreparo. Quando lhe disse que “assim o marketing é a salvação dos incompetentes”, deu um sorriso discreto e falou: “bingo!”.
Por um lado agia de forma inverossímil, por outro era natural por desprezar um boçal que tentava chamar sua atenção e se gabava pela experiência na Faria Lima. Aquele senhor tão esquisito para o lugar comum dos pensamentos óbvios ululantes, preferia ouvir histórias do dono da carrocinha de tapioca e dos homens da roça de propriedades circunvizinhas ao sítio em que costumava se recolher, pois dizia que a sabedoria que corre nessas pessoas lembra a pureza de fontes que brotam dos morros, mas as águas ao se encontrarem com os riachos e rios, ficam contaminadas pela ação do homem; assim é a sabedoria dos “catedráticos”, contaminada por vícios do orgulho, da petulância e da egolatria.
Rico e excêntrico, diziam, neste ponto parecia um tanto invertido em relação à simplicidade de Meursault carente de posses, mas aquele senhor a conduzir-se como se fora ninguém enquanto carregava uma mística, a parte análoga no romance de Camus, tinha uma coisa misteriosa em si mesmo, na forma de se expressar, no tom de voz e no olhar, onde havia um misto de tristeza contida com contemplação de algo maior, às vezes com ares de melancolia, como se vivesse alguma desventura ou tragédia na sua existência misteriosa que, de certa forma, era transpassada por um semblante de quem fora liberto de algo extenuante para reiniciar o viver, via de regra sob forma absurda aos padrões da superficialidade das pessoas “normais” que em vão tentavam impressioná-lo.
Aquele senhor era mesmo um “estrangeiro”.
22/05/2024 22h17
Imagem: goodreads

“If we had to characterize American´s sociology´s sacred project in brief, therefore, we might say that is stands in the modern liberal-Enlightenment-Marxist-social-reformist-pragmatist-therapeutic-sexually liberated-civil rights-feminist-GLBTQ-socialconstructionist-poststructuralist/postmodernist ‘tradition’”
Obra: The Sacred Project of American Sociology. Chapter 1. Ther Argument. The Project. Oxford University Press, 2014, eBook Kindle. De Christian Smith.
Às vezes quando estou no trato de minhas irmãs da flora, um tanto inspirado na linguagem de Francesco D”Assisi, enquanto a meditar sobre certos sinais perturbadores que percebo na dita “pós-modernidade”, vem-me um silêncio longe de ser contemplativo acerca dos poderosos que atuam sempre na surdina, amparados pelas facilidades que os aparatos do universo político lhes proporcionam para governar subliminarmente, camuflados, sem aparecer.
Esta obra do professor de sociologia William R. Kenan Jr. e diretor do Centro para o Estudo da Religião e Sociedade da Universidade de Notre Dame entra então no contexto deste meu silêncio medonho, cuja abordagem sobre a sociologia americana é provocante; um projeto que seria profundamente religioso, entusiasmado por concepções sagradas para transformar a sociedade, entenda-se, manipular as estruturas sociais para determinados fins em meio a um esforço coletivo convergindo para o que classifica como “tradição” moderna em torno de uma ampla agenda “marxista-social-reformista-pragmatista-terapêutica-sexualmente liberada-de direitos civis-feminista-LGBTQ-socialconstrucionista-pós-estruturalista/pós-modernista”.
Não se trata de, na visão do professor, um projeto meramente político, nem ideológico. Não se limita a reestruturar sistemas de poder, nem a sistematizar ideias. É um mutante bem avançado que secularizou o Evangelho e a cosmovisão cristã a anunciar “boas novas” para libertar o ser humano mediante a agenda ampla que mencionei no parágrafo anterior. É uma variante do sagrado secularizado que arregimenta sociólogos como se fosse um movimento missionário de fé na revolução que os devotos de Marx acreditavam ser um processo brutal, sanguinário, um tanto abrupto, e que essa nova religião acadêmica, transformista da sociedade, apregoa a incluir certos traços da pedra bruta marxista com diversos elementos pós-modernos, tudo para “salvar” o ser humano de suas mazelas e maldições das velhas estruturas nas injustiças cometidas pelas elites do poder econômico e político (a ironia é que as elites acusadas pelo homem-massa-objeto dessa sociologia, aproveitam-se da própria fama de opressora para manipular com mais eficiência), de maneira a lembrar o conto do sapo cozinhando na panela, no entanto, com uma impecável decoração “acadêmico-religiosa” que o confunde a pensar que está a caminho de uma paradisíaca lagoa.
21/05/2024 20h40
Imagem: UAI

“Eis o que me pergunto: — ‘Onde e quando começou a degradação do intelectual?'”
Obra: O melhor de Nelson Rodrigues. Crônicas. Os intelectuais. Edição da Nova Fronteira, 2018, Rio de Janeiro. eBook Kindle. De Nelson Falcão Rodrigues (Brasil/Pernambuco/Recife, 1912-1980).
Torna a esta obra que é uma coletânea de textos do lendário escritor e jornalista pernambucano mais carioca que tenho notícia, cronista que hoje seria impublicável ou “cancelado”.
Crônica de 23 de abril de 1968 com uma pergunta que fico a pensar de vez em quando. Nelson Rodrigues responde que “o aviltamento começou quando o intelectual se politizou” (p. 160) e então menciona uma série de exemplos os quais destaco o que entende sobre o comportamento do “intelectual de esquerda” que “não suspira contra a ‘Cortina de Ferro’, nada faz contra o “totalitarismo vermelho” (o então bloco sob a batuta soviética) onde “a inteligência é diariamente estuprada” (p. 160); penso, hoje esse “intelectual” pode ser visto a fazer vista grossa para os crimes contra a humanidade cometidos pelo regime tirânico da Venezuela, enquanto posa de ético contra qualquer opositor de direita onde facilmente coloca o rótulo de “fascista”.
Nelson Rodrigues menciona que o intelectual de esquerda estava com o regime nazista por causa do pacto germano-soviético e apenas descobriu as atrocidades de Hitler quando a Alemanha invadiu a Rússia (p. 161), o que me fez pensar no curioso caso de um “acadêmico” um tanto empolgado por descontruir o mito do regime autoritário da Coreia do Norte, cujo negacionismo sobre o campo de concentração de Kaechon retratou-me como a paixão ideológica pode dominar um “intelectual”. As provocações desta crônica me fizeram pensar também em um professor que tive no início dos anos 1990 que me falou sobre as maravilhas das conquistas sociais de Cuba de uma forma que a impressão que fiquei é de que existe mesmo paraíso terreno. De tão impressionado, saindo da adolescência, fui à saudosa Livro 7 comprar A Ilha, de Fernando Morais.
Cinismo de uma canalhice intelectual de quem milita na política por razões profissionais ou seria um fanatismo ideológico potencializado por pura bestialidade de quem não passa de um “instrumento”? não sei, cada caso, um caso… Torno ao autor de A vida como ela é que não poupa Tolstoi nem Sartre; o primeiro teria uma “impotência romanesca” cujo disfarce foi a fúria religiosa (p. 160), e o segundo seria um caso de autocastração ao pedir para interditar a própria peça teatral, As mãos sujas (p. 160), mas pior mesmo são os jovens que “antes de chegar a Guerra e paz, estão sempre aviltados” (p. 160).
Para não dizer que não falou das flores, cita Guimarães Rosa como um autor “menos político” e “mais autor” (p. 160).
20/05/2024 00h01
Imagem: Unesco

“Our mission has humbly attempted to suggest a few ways in which we can start building an ethical framework for the development of AI and to keep this discussion going in our society. These are based on five principles:”
Obra: For a Meaningful Artificial Intelligence. Towards a French and European Strategy. Part 5 — What are the Ethics of AI? A parliamentary mission from 8th September 2017 to 8th March 2018. Assisted by Anne-Lise Meurier, Zineb Ghafoor, Candice Foehrenbach, Stella Biabiany-Rosier, Camille Hartmann, Judith Herzog, Marylou le Roy, Jan Krewer, Lofred Madzou and Ruben Narzul. De Cédric Villani (France/Brive-la-Gaillarde, 1973) e demais membros.
Uma das mentes mais extraordinárias do tempo presente, o matemático francês Cédric Villani, vencedor da Medalha Fields em 2010, quando membro do parlamento francês encabeçou uma comissão que produziu em 2018 esta obra sobre Inteligência Artificial (IA). O capítulo 5 foi o que mais me despertou interesse por tratar do tema da ética no uso da IA com proposições (pp. 113-114):
Primeiro, defendem, é necessário que se tenha maior transparência e abertura a auditoria em relação a sistemas autônomos para que sejam submetidos a investigação acerca de responsabilização, para isso serão demandados investimentos maciços. Será preciso atualizar normas para proteção de direitos e liberdades contra o potencial abuso envolvido no uso de aprendizado de máquinas e sistemas para garantir que as organizações que utilizarem IA permaneçam legalmente responsáveis por quaisquer danos causados. Porém, a legislação não resolve tudo, apontam, pois em parte é preciso muito mais tempo para gerar normas do que para gerar códigos (de programação para IA) e, neste ponto, será vital que os “arquitetos” (programadores e engenheiros) procurem fazer sua própria parte, agindo com responsabilidade. Isso significa que eles devem estar plenamente conscientes dos efeitos potencialmente negativos da IA na sociedade, tomando esforços positivos para limitá-los. Também sugerem que seria prudente criar um ambiente genuinamente diverso e inclusivo de fórum social de discussão para que seja determinado democraticamente as formas de IA apropriadas para a sociedade.
Em síntese, os cinco pontos seriam (pp. 114-129): 1. Acesso a caixa preta de sistemas que adotem IA; 2. A ética deve constar desde a fase de desenvolvimento de projetos assim como deve ser ativa na formação de engenheiros e pesquisadores envolvidos com a IA; 3. Tratamento de “pontos cegos” nas legislações sobre uso de IA e proteção de dados; 4. Na regularização de algoritmos preditivos, com destaque a uso de armas, policiamento, fins militares, monitoramento de segurança pública e processos judiciais, deve haver garantia de que os cidadãos devem ser informados de seus direitos de maneira que deve ser observado o princípio da Lei de Proteção de Dados da França (1978) onde nenhuma decisão judicial, ou outra que envolva consequências jurídicas para um indivíduo, pode ser tomada apenas com base em tratamento automatizado de dados pessoais destinado a definir o perfil da pessoa em causa ou avaliar certos aspectos da sua personalidade; 5. Instituição de uma governança específica sobre a Ética para IA.
19/05/2024 12h49
Imagem: Biblioteca Nacional de Portugal

“Para que Portugal na nossa idade possa ouvir um pregador evangélico, será, hoje, o Evangelho pregador.”
Obra: Sermão da Epifânia ou do Evangelho. Em Sermões Escolhidos. Martin Claret, 2004, São Paulo. De Padre António Vieira (Portugal/Lisboa, 1608-1697).
Torno a este sermão maravilhoso do “gigante da Oratória Sacra”, assim definido na introdução [228] da edição que disponho, pregado em 1662 na Capela Real à rainha D. Luiza também diante do rei D. Afonso VI.
Recife, 2004, maio – A primeira recordação do trecho (p. 141) desta Leitura, que se dá logo na abertura do sermão, vem de há exatos 20 anos quando refletia na biblioteca do seminário sobre a apropriação de termos no ambiente religioso, no caso, “católico” e “evangélico”. Da reflexão entendi que todo católico romano é, necessariamente, evangélico, e todo “evangélico”, que católicos romanos mais prosélitos normalmente chamam de “protestante” (na verdade, o uso do termo é enviesado para depreciar), é um católico no sentido da igreja inteira, o “corpo” ligado a Cristo, descrito em Efésios 1:22-23. Em suma, quando vejo um católico romano, enxergo também um evangélico e, sendo assim, à mon avis, não faz sentido para mim o termo “evangélico” ser associado apenas a “protestantes”, por sinal, entre os quais podem ser encontrados os que preferem ser chamados de “reformados”, outro termo usado de forma enviesada para denotar qualidade de fé em relação ao catolicismo romano e até a outros grupos “protestantes”, no entanto, uma boa pesquisa sobre a história da Igreja Católica Romana vai apontar que esta instituição de quase dois milênios passou também por significativas reformas, bem como outros grupos “protestantes” também passaram e assim, juntamente com os católicos da atualidade, todos, em certo sentido, são “reformados”.
No entanto, esta primeira recordação não tem a relevância da segunda experiência que tive alguns anos depois, na solidão literária no segundo andar da Anchieta, quando refletia sobre as camadas de leitura da Bíblia e li:
“hoje o Evangelho há de ser a explicação do pregador. Não sou eu o que hei de comentar o Texto: o Texto é que me há de comentar a mim” (p. 141).
Foi uma época em que passei a entender melhor a camada de leitura devocional da Bíblia, não que tenha faltado estudo acerca dessa importante diferença de leituras no seminário. Ler é interpretar, algo aparentemente simples, digo “aparentemente” porque a interpretação de textos sagrados é uma atividade intelectual relativamente complexa que envolve crítica textual, exegese, ciência sobre o contexto histórico de maneira que é formado um bojo de disciplinas a aplicar métodos e dados da antropologia, arqueologia, economia, sociologia, linguística, além de conhecimento sobre possíveis interpretações influentes ou relevantes na ocasião em que fora produzido o texto em questão a denotar também a historiografia desses entendimentos, sendo esta a camada de leitura “acadêmica” que tem seu valor, mas diante do Texto Sagrado, não é capaz de desatar a correia da alparca pelo que é proporcionado na camada devocional, onde o mesmo Texto Sagrado se torna um alimento para a alma. Se na camada acadêmica o Texto Sagrado é objeto de estudo, na devocional, ocorre o contrário, o leitor se torna objeto do Texto Sagrado que o interpreta, conforme o sermão é aberto pelo padre António Vieira, e isso se torna possível apenas mediante a fé e a ação do Espírito Santo; quando leio o Evangelho na camada devocional, torno-me ouvinte de Sua pregação; sou interpretado, orientado, esclarecido, inspirado, admoestado, alertado, corrigido, amparado e, sobretudo, amado por Deus que se revela no Texto.
228. p. 11. Introdução de José Verdasca, oficial do exército português, maio de 2003.
18/05/2024 14h13
Imagem: ABL

— Você já reparou que Ezequiel tem nos olhos uma expressão esquisita? perguntou-me Capitu. Só vi duas pessoas assim, um amigo de papai e o defunto Escobar.
Obra: Dom Casmurro. CAPÍTULO CXXXI. Anterior ao anterior. Edições Câmara, 2019, Brasília. De Joaquim Maria Machado de Assis (Rio de Janeiro/Rio de Janeiro, 1839-1908).
Recife, 1991, março – A recordação deste clássico vem do ensino médio quando o professor de literatura conseguiu envolver a turma para a leitura da obra quando falou acerca da grande dúvida de Capitu ter traído ou não Bentinho. Lembro-me que boa parte da aula foi dedicada às teses.
O talento de um bom romancista envolve – hoje entendo – a capacidade de inspirar o leitor para, enquanto pensa nas possibilidades para explicar determinadas situações na história contada, aprofunda-se no apreço com as sutilezas da narrativa em um exercício intelectual que enriquece a capacidade reflexiva, indo assim além de uma boa interpretação do texto para chegar a ideias, valores e provocações que o autor possa ter deixado nas entrelinhas da obra em cifras ou linguagem codificada. Assim, a literatura é uma atividade que fomenta a evolução intelectual não somente do escritor que pensa, repensa, produz, e revisa sua construção literária, mas também do leitor que trilhará caminhos na medida em que exercitará seu intelecto na apreciação da obra. Machado de Assis é uma das maiores referências que tenho na categoria de genialidade em literatura universal para incitar o leitor a pensar, repensar e evoluir intelectualmente.
O romancista que procura explicar demais os detalhes de sua história, ao mesmo tempo em que parece subestimar a inteligência de leitores, pode impedir, assim penso, que a literatura seja a ponte para o exercício intelectual que indiquei no parágrafo anterior.
O ambiente predominante de meu cotidiano está morto dessa evolução; pautado por tecnicidade e ocupações banais ao espírito, reflete a sociedade bestializada, avessa à leitura além de suas obviedades, sendo este espaço um ato de luta pela sobrevivência intelectual.
17/05/2024 23h21
Imagem: O Observador

Outro seu
De que me serve fugir
da morte, dor e perigo,
se me eu levo comigo?
Voltas.
Tenhome perssuadido
por rezão conveniente, 5
que não posso ser contente
pois que pude ser nacido,
anda sempre tam unido
o meu tormento comigo
que eu mesmo sou meu perigo. 10
[…]
Obra: Redondilhas. [76] RH 167r = RI 182r. La lirica di Camões. Redondilhas. Edizione critica a cura di Barbara Spaggiari. Centre International d’Études Portugaises de Genève, 2021, Genève. De Luís Vaz de Camões (Portugal/Lisboa, 1524 (?)-1579 ou 1580).
Curiosa obra em italiano de edição crítica sobre as Redondilhas de Camões com citações em português que, entendi, epocal.
Outro seu. De que me serve fugir. Voltas. Tenhome perssuadido (RH 167r RI 182r).
“Outro seu”, refere-se ao mote (desafio) que abre a redondilha que me fez pensar no prefácio [226] da edição no Kindle que disponho de Os Lusíadas, sobre o que se tem de conhecimento sobre o que, penso, foi o maior de todos da madre língua, o gênio Camões; “quase tudo em torno dele é incerto” (p. 5), a começar da data de nascimento, com traços de uma vida um tanto agitada como o mar, cenário constante de suas composições. Camões foi um frequentador de cadeias por “dívidas ou rixas” (p. 5), carente nas finanças (p. 6), certamente fora de personalidade de muitas faces e dores. A resposta ao mote, como menciona o autor do prefácio, lembra em Rimas, Sonetos [227]:
CXCIII
Erros meus, ma Fortuna, Amor ardente
Em minha perdição se conjurárão:
Os erros e a Fortuna sobejárão;
Que para mi bastava Amo1· somente.
Tudo passei; mas tenho tão presente
A grande dor das cousas, que passárão,
Que ja as frequencias suas me ensinárão
A. desejos deixar de ser contente.
Errei todo o discurso de meus anos;
Dei causa a que a Fortuna castigasse
As minhas mal fundadas esperanças.
De Amor não vi senão breves enganos.
Oh quem tanto pudesse, que fartasse
O que me atrai aos clássicos: o impulso inspirador que a leitura promove à espiritualidade, aqui termo não restrito a um sentido “religioso”, que é apenas um traço, e sim amplo a envolver cultura, intelectualidade, sabedoria, em suma, a busca de uma plenitude humana. Nesse encontro celebro a saída do lugar comum, do cotidiano onde a vida se resume a obrigações e busca por alívio, algo muito associado ao gosto que se dá ao entretenimento. Na literatura, minha alma conversa com a amplitude da vida em múltiplas dimensões da vida e do meu ser, e o fardo do “lugar comum” é superado por essa espiritualidade tão abrangente.
226. De José Paulo Cavalcanti Filho. Edição da Best Bolso, Rio de Janeiro, ePub, 2015, no Kindle.
227. Classicos Portuguezes. Tomo II. Camões, p. 97. OFFICINA TYPOGRAPHICA DE FAIN E THUNOT, 1843, PARIZ.
16/05/2024 20h44
Imagem: Al Jazeera

“In what was a particularly jarring symmetry, Obama juxtaposed the suffering of the Jewish people during the Holocaust with the suffering of the Palestinians. This attempt to create a symmetry of suffering was outlandish. During a century of conflict, twenty-five thousand Palestinians died in battles and terrorist attacks against Jews, compared to six million Jews murdered in the Nazi genocide in four years.”
Obra: Bibi: My Story. 41. “LOTS OF DAYLIGHT”. 2009. Threshold Edition, Simon & Schuster ebook, 2022, New York. De Benjamin Netanyahu (Israel/Tel Aviv, 1949).
Um ano após a Nakba nascia Netanyahu e quando me deparo com a imagem de “Bibi”, alcunha dos tempos de infante que soa tão inofensiva, as cifras imediatas que se apresentam em minha dialética no pensamento são “crimes de guerra”, “civis inocentes”, “infanticídio”, em contraposição a “guerra ao terrorismo”, “auto defesa étnica” e “contraofensiva militar”. As sínteses vão se atualizando na medida em que junto as peças do imenso quebra-cabeças chamado Israel x Palestina e nesses choques de reflexão, penso, o atual primeiro-ministro israelense está como um produto sinistro da realpolitik versão sionista; nacionalista ofensivo, frio, implacável, causador e assim indiferente ao sofrimento de quem não faz parte de sua “pátria”.
No trecho (p. 442) desta Leitura, Netanyahu menciona o que entende como “simetria particularmente chocante” do então presidente americano Barak Obama ao traçar um paralelo do sofrimento do povo judeu durante o Holocausto com o sofrimento dos palestinianos. Uma simetria de sofrimento que julga estranha e o argumento que segue é de que “durante um século do conflito, vinte e cinco mil palestinos morreram em batalhas e ataques terroristas contra os judeus, em comparação com os seis milhões de judeus assassinados no genocídio nazista em quatro anos”. Para quem está envolvido com uma frieza de tratar vidas destruídas com ênfase em números e estatísticas (não imunes de falhas e manipulações), faz sentido, mas a desproporcionalidade do presidente americano não me parece um objeto para encerrar o problema sobre o que o Estado de Israel comete com os palestinos. Os seis milhões de judeus no Holocausto no contra argumento de Netanyahu, para minimizar os massacres do Estado de Israel sobre civis da Palestina em volume muito menor, comumente sob o pretexto de “combate ao terrorismo”, à mon avis, não por isso deixa de ser uma afronta a todo genuíno sentimento de profunda tristeza sobre o Holocausto e em torno do que significa a morte de inocentes. O uso político do Holocausto é de uma desonestidade do tamanho da tragédia, seja para comparações assimétricas, seja para minimizar por ser feito em escala muito menor, sé é para ser justo com a proporção. O que aconteceu com os judeus diante dos nazistas na Segunda Guerra é para reflexão de toda humanidade. A morte de crianças, mulheres, idosos e toda vida inocente em Gaza, sob o comando do senhor “Bibi”, com alvos civis bombardeados por mísseis israelenses, é também para reflexão de toda humanidade, sendo uma afronta ao sentimento mais profundo de dor e pesar que se dão em tragédias onde números não anulam a essência da questão que me faz pensar no que pode ser apreciado na sabedoria do Talmude (assim como no Alcorão), e nas Escrituras da fé cristã sobre o valor de UMA vida humana.
15/05/2024 21h55
Imagem: The Palestinian Return Centre

“Characterised by politicide, the ethnic cleansing of 1948 included the destruction of much of Palestinian society and mass killing, with scores of massacres carried out in 1948, including mutilation (in Dayr Yasin) […]”
Obra: The Palestine Nakba. Decolonising History, Narrating the Subaltern, Reclaiming Memory. 1 Zionism and European Settler-Colonialism. 1948: A Pattern of Repeated Atrocities. Zed Books, 2012, London. De Nur ad-Din Masalha (Israel/Galileia, 1957).
Estranho que sou, considero opinião algo amiúde desnecessário, não raramente inútil e, em muitas ocasiões, até prejudicial mas, às vezes, acabo tendo que ouvir zumbidos de coisa do tipo quando, no cotidiano de um jantar, na televisão da cozinha se ecoa a voz de um “especialista” em Palestina em algum desses telejornais do mainstream, algo que só consigo apreciar por três minutos por conta do viés que me força a um filtro extenuante.
O tal especialista estava a explicar a base da “solução” para a paz na Palestina; a criação de um estado palestino a dividir a região com o israelense e, em algum lugar do passado, pensei lá pelos idos de 1948, na Nakba e meditei que a criação de um Estado Palestino soberano seria apenas uma parte de um cenário, em via dos que creem em um duplo arranjo estatista, sendo outra muito maior, bem mais complexa e inconveniente para o sionismo: os danos causados na implementação do Estado de Israel sobre os nativos não judeus. Pensei no que conta o professor Masalha sobre o ocorrido na aldeia de Kafr Qasim em 29 de outubro de 1956, quando guardas da fronteira israelense “assassinaram a sangue frio quarenta e nove aldeões (a maioria de mulheres e crianças)” (p. 75). Fiquei a meditar nos massacres de nativos da Palestina que resistiram para ficar em uma terra que cultivaram antes da chegada dos sionistas e dos novos cidadãos do novíssimo Estado de Israel aclamado na ONU, na primeira metade do século XX. Pensei no que significa “limpeza étnica” quando me vem em mente relatos sobre os que morreram na “marcha da morte”, obrigados a caminharem até a exaustão; pensei nos que foram deportados das cidades gêmeas de Lydda e Ramle (uma antiga capital da Palestina, fundada por volta de 705-715 por o califa omíada muçulmano Suleiman ibn Abd al-Malik) durante o verão de 1948 (p 76). Pensei no massacre de Dayr Yasin (9 de Abril) e outras atrocidades sionistas em 1948 que “deixaram uma marca indelével de horror na Palestina” (p. 77). Pensei nas aldeias ocupadas pela Haganah e outras milícias judaicas durante 1948–49, nas atrocidades de guerra – assassinatos, execução de prisioneiros e estupro (p. 79).
Então, cria-se um Estado Palestino e vamos fingir que nada disso aconteceu; “resolvido!”. Vamos fingir que os palestinos civis de hoje, inocentes, crianças, idosos, mulheres, jovens, continuam sendo massacrados em nome do combate ao terrorismo antissemita promovido pelo Estado judeu com sua “inteligência” tão bem recomendada. Vamos fingir e dar a esse povo tão humilhado e sofrido um Estado e quem sabe, acaba tendo a sorte de não ser governado por extremistas que costumam chegar ao poder quando há extrema carência de coisas elementares.
O perigo da opinião que simplifica demais as coisas reside justamente na superficialidade em ignorar os detalhes, onde dizem que o tal coisa ruim costuma ficar; e eis que fazendo de contas que esses crimes não aconteceram, a entrega para os palestinos de uma porção de terra, bem distante das zonas nobres que um dia seus antepassados ocuparam, em meio aos desdobramentos de mais de 100 anos de violações em forma de pobreza e debilidades na psicologia social, faz da Nakba uma síntese de profunda tristeza para os que acreditam na dignidade humana.
Quando penso no Holocausto, cuja proporção foi muito maior (não sendo algo comparável), medito em como uma profunda violação deixa marcas profundas, não tem como ser desfeita, sendo uma dor que se perpetua nas cicatrizes, foi o que certa vez ouvi de uma sábia senhora judia. Não é possível apagar ou anular danos tão devastadores, mas é possível fazer reparações e, da mesma forma que o lado civilizado do mundo se solidarizou com judeus que passaram pelas atrocidades da Segunda Guerra, penso que falta solidariedade nesse mesmo espírito com os palestinos, algo que só virá por meio de reparações significativas em favor dos que herdaram essa catástrofe que acometeu seus antepassados tendo como referência maior o ano de 1948, e que segue a ferir a atual geração.
14/05/2024 23h10
Imagem: Grattacielo Intesa Sanpaolo

“E allora, è davvero una data epocale quel 378, la fine dell’Antichità e l’Inizio del Medioevo?”
Obra: 9 agosto 378 il giorno dei barbari. XII. La reazione antibarbarica. 6. Laterza & Figli Spa, 2013, Roma-Bari. De Alessandro Barbero (Italia/Torino, 1959).
Torna a esta interessantíssima obra do grande historiador do Piemonte. No trecho, Barbero suscita a questão sobre a data em que findou o que hoje é conhecida como “antiguidade” para inaugurar o período medieval. A passagem para a “idade média” está associada ao fim Império Romano do Ocidente, é o que parece consensual entre historiadores. A questão é quando e qual fato teria relevância. Teria sido a derrota em Adrianópolis em 378, até então inacreditável ou, insiro outro fato, ocorrido 98 anos depois com a deposição de Romulus Augustus? Nem uma coisa, nem outra; o fim do Império Romano do Ocidente, penso, foi um processo lento, gradual, de degradação das estruturas que o mantinham antes da derrota de 378, é o que penso sobre a resposta dada pelo professor a indicar que “Adrianópolis foi uma aceleração brusca, dramática, em um processo de abertura do Império à imigração dos bárbaros, que já estava transformando, pouco a pouco, a sociedade, o exército e o próprio governo do Império” (p. 285, tradução livre).
Foi gradualmente, na medida em que o Império se abria para receber os imigrados góticos, bárbaros, que foram inicialmente infiltrados no Império do Oriente onde, em paralelo o governo oriental percebeu que não tinha como lidar com eles, e assim iniciou um processo de transferência do problema para o Ocidente, que se encontrava economicamente depreciado e cada vez mais enfraquecido na defesa militar; assim bárbaros entraram, muitos como mercenários, diante da preocupação de setores da sociedade romana ao perceber a grande quantidade deles trabalhando para compor as forças armadas, inclusive com pagamento melhor que os soldados do Império. Esse processo de ocupação bárbara, entendo, torna a questão sobre a data como algo mais simbólico. O fim do Império Romano, talvez, fora imperceptível para muitos à época; um fenômeno que inaugurou uma nova era política para um mundo pulverizado, sem mais a unidade coercitiva central da pax romana.
Nesta obra aprendi que os bárbaros se arregimentaram no Oriente e, pouco a pouco, acomodaram-se no Ocidente; foi um processo de ocupação de espaço que se apoderou dos meios que mantinham o Império. Algo, talvez, análogo está a ocorrer com a Europa atual, quanto a degradação de valores na medida em que governos forçam a integração em massa; não sou avesso a quem procura refazer a vida em terras estrangeira; creio que a riqueza da essência da humanidade reside na integração entre povos, contudo, também entendo que na medida em que grandes arranjos de governos promovem a integração em massa, principalmente em meio a crise de refugiados, os custos desse processo, que caem sempre nas costas da população nativa, vão muito além dos balanços fiscais em programas sociais. Quem sabe a Europa esteja passando por uma transformação profunda em suas estruturas sociais por meio da massificação de imigrados, em algo que mude o que hoje atende pelo nome de civilização cristã ocidental, processo tão gradual quanto a imigração no Império Romano e que somente será reconhecido no popular, penso, quando já estiver consolidado…
13/05/2024 00h01
Imagem: Círculo de Filosofia

“A fé filosófica não sabe nada sobre Deus, mas escuta só a linguagem das cifras.”
Obra: À escuta do outro. Capítulo III. Fé filosófica e fé revelada. Karl Jaspers. Tradução de Mário José Zambiasi. Paulinas, 2003, São Paulo. De Bruno Forte (Italia/Napoli, 1949).
A citação é (p. 55) de uma edição italiana da obra de Jaspers: La fede filosofica (nota 6, p. 54).
“Fé filosófica” e “fé revelada”: dialogando com Karl Jaspers (pp. 53-57) é um dos pontos mais significativos em minha experiência de leitura de À escuta do outro em 2007.
A fé filosófica “escuta” a linguagem das cifras e, menciona (p. 54) o bispo italiano, as cifras são audíveis em si mesmas apenas, cujo sujeito que as emite é desconhecido, incognoscível e inacessível, enquanto a fé revelada entra no âmbito da objetividade, penso, quando, torno a Jaspers, menciona a crença no conhecimento “das ações de Deus em seu revelar-se para a salvação do homem”. A fé filosófica se torna então uma formuladora de crítica da fé revelada, tomando como referência o conceito de revelação histórica, explica Forte (p. 55). Jaspers indica (na citação completa) que a fé filosófica leva a sério a exigência bíblica, e menciona como exemplo o mandamento sobre não fazer imagem e o que revelação indica se não for obedecido (p. 55).
A fé filosófica, à mon avis, não entra no mérito do labor teológico, não tem o propósito de ser apresentar como um logos sobre Deus; é um saber baseado na reflexão sobre o que a fé revelada apresenta de valores e crenças, como se porta diante dessa revelação que propaga e o que a revelação indica sobre as consequências do seu comportamento diante do que fora revelado. A criticidade da fé filosófica em Jaspers tem a ver, penso, no que afirma na relação da transcendência com a liberdade da luta espiritual ser a essência do ser humano (p. 54), e o exercício dessa liberdade envolve decisão de ser ou não ser, de observar e refletir, onde se manifestam as “cifras”, as coisas da fé revelada que se evocam e estimulam o transcender-se sem esgotá-lo, pois em Jaspers a transcendência é um contínuo transcender-se, onde apenas pelo ato de liberdade pode ser realizado tal processo.
12/05/2024 13h59
Imagem: Canção Nova

“Santo Antão cruza o Nilo e se interna na montanha, onde ocupa um fortim abandonado. Ali passou quase vinte anos (14,1), não se deixando ver por ninguém, entregue absolutamente só à prática da vida ascética. Pressionado pelos que queriam imitar sua vida, Santo Antão abandona a solidão e se converte em pai e mestre de monges”
Obra: Vida de Santo Antão. 1.4. Santo Antão. Mosteiro da Virgem, Petrópolis. De Santo Atanásio de Alexandria (Egito/Alexandria, ?-373 d.C)
Meu interesse por Santo Antão começou na primeira leitura (2002) das Confissões de Santo Agostinho, quando, conforme o capítulo VI do livro oitavo, frequentava a igreja e levava uma “vida habitual com angústia crescente” [225], na companhia de seu amigo Alípio, então receberam a visita de Ponticiano que lhes falou sobre o monge do Egito que fundou a vida monástica, até então desconhecido dos dois. Foi o momento em que Agostinho tomou conhecimento dos valores da vida em monastério e isso, entendo no contexto do capítulo, provocou impacto em um momento de transição em sua vida, do homem profano em conversão para o crente.
O contato com a obra de Santo Atanásio ocorreu dois anos depois, no seminário teológico. O destaque que fiz, na edição das Confissões, com referência a Santo Antão (Egito/Tebaida, ?-356 d.C) se encaixou com um hábito que tinha nessa época; quando podia, chegava duas horas antes do início das aulas, com um tema em mente, adentrava nos “pulmões do seminário”, separava livros de uma lista que formava após conferir notas de rodapé de leituras iniciais (uma leitura puxa outra) e assim me intensificava na aventura literária. Não via sentido em estudar apenas o que estava programado em aulas; isso me ajudou a não cair em viés ideológico em se tratando de estar em um seminário protestante onde há uma maior inclinação para os reformadores. Destarte, abri o leque para aprender com os Pais da Igreja e fui entendendo melhor a fantástica história da Igreja Católica, onde se insere o grande Antão, que ficou órfão dos pais quando estava entre 18 e 20 anos de idade, vendeu o que herdou, deixou uma parte para a irmã mais nova (que depois se consagraria como virgem cristã), distribui aos pobres, para em seguida enfrentar seus dilemas espirituais em um cemitério abandonado, indo a um mausoléu, cada vez mais atormentado por demônios, decide ir ao deserto, com 35 anos de idade, cruza o rio Nilo e se acomoda na montanha onde havia um fortim abandonado; seriam mais vinte anos nessa busca espiritual, isolado, determinado na vida ascética, inaugurando um estilo de vida que chamaria a atenção de outros cristãos que lhe pediram para ensiná-lo. E eis que assim começava a história dos monges na fé cristã (p. 7).
O que sempre me fascinou é a vida monástica em si a partir do século III, seu significado nesta época, a forma como se deu na Idade Média, no renascimento e nos tempos modernos. Acredito que o pastor Abdoral, um eremita que vive em uma caverna e não quer receber visitas (o que espelha nesta parte um pouco de minha psernalidade), seja um pouco da tentativa existencial de compreender esse fenômeno de reclusão sob o ponto de vista de não poder exercê-lo plenamente.
225. Confissões, p. 174. Martin Claret, 2002, São Paulo. Tradução de Alex Marins. De Aurelius Augustinus Hipponensis (Aurélio Agostinho de Hipona), Santo Agostinho de Hipona (Norte da África/Tagaste, 354-430).
11/05/2024 15h47
Imagem: Luso-Brasileira

“Pela muita copia d’estas cannas, de que se cingia aquelle monte, lhe ch’amavão os natul’aes o monte das Tabocas. Situou, a natureza este monte nove legoas do Arrecife para a parte do poente, pela qual o cinge um rio ao largo, chamado Tapicurá […]”
Obra: Castrioto Lusitano. Historia da guerra entre o Brazil e a Hollanda. J.P. Aillaud, 1844, Pariz. De Frei Raphael de Jesus (Portugal/Guimarães, 1614-1693).
Do diário de Dom Pedro II fui até esta preciosa edição do século XIX, narrativa dos vencedores dedicada ao imperador, obra original do século XVII produzida pelo cronista real à época, o monge beneditino Frei Raphael de Jesus.
O encontro com essa obra, que só tinha ouvido falar na juventude, é mais uma experiência de meu fascínio pela escrita portuguesa antiga.
Antes, recordei-me de um empolgado com a presença holandesa em Pernambuco a defender, com contagiante paixão, que se os fidalgos dos países baixos tivessem vencido, Pernambuco seria muito mais desenvolvido em comparação com o restante das capitanias. Enquanto fazia piada com o título da obra em um trocadilho do termo associado ao herói lusitano João Fernandes Vieira, com um bruto nome que não quero escrever, defendia o entusiasta que seríamos um “pedacinho da Europa rica, fortemente mercantil, liberal, inovadora, mais capitalista, mais cosmopolita, mais tolerante nas crenças, mais protestante (a parte que parecia mais se empolgar), bem no nordeste da América do Sul”. Por um tempo, lá pelas minhas 25 primaveras, acreditava nisso, talvez por ter lido estudos citados por Max Weber que associam a prosperidade maior em países com maior incidência de protestantes, mas depois percebi que, apesar de haver certo sentido em convergência da nova fase capitalista com certas concepções em ambientes protestantes, não vejo como coisa inteligente tratar o curso da história como algo possível de ser estimado, muito menos controlado com relativa segurança. Entendo que há uma grande ilusão de que se pode, a partir de razoável conhecimento de fatos históricos, traçar com relativa margem de segurança possíveis cenários caso não tivessem ocorridos determinados fatos de enorme relevância, como no caso se deu na derrota dos holandeses. Essa ilusão se dá por força da imensidão e da complexidade das variáveis que determinam os acontecimentos. Mesmo com a vitória holandesa, por suposição, esse “se” é do tamanho da minha ignorância, que não pode ser medida dada sua grandeza; penso, há inúmeros aspectos sociais, econômicos, políticos, geopolíticos, dentro de um contexto da América do Sul que fluem no processo de desenvolvimento, a Europa à época era resultado de um longuíssimo processo civilizatório e o Brasil estava apenas começando como uma colônia onde os supostos vencedores holandeses ficariam cercados por outra visão de mundo, e o choque dessas forças seria um fenômeno cuja imensidão me indica que posso apenas conjecturar esse “se”, mas esse empreendimento mental vale quase nada diante da dispersão de conhecimento que envolvem a imprevisibilidade da natureza humana.
Quanto ao trecho desta Leitura (p. 258), descontado meu desconhecimento em tática militar, entendi que a localidade próxima a Vitória de Santo Antão, o monte que seria chamado “das Tabocas”, foi escolhida como uma armadilha para os holandeses que por lá passariam a cruzar o “rio Tapicurá” (p. 266); os soldados mais inteligentes a serviço de Portugal tinham bom conhecimento do terreno e escolheram o local para ficarem à espreita e surpreender o inimigo com a primeira carga; havia um sistema de informações em uma base de apoio e coleta de observadores nas redondezas, a serviço do capitão Antonio Gomes Taborda sob ordens do governador João Fernandes Vieira. O capitão estava acomodado no engenho de Balthazar Gonçalves Moreno (distante uma légua e meia do monte).
Por fim, uma curiosidade que encontrei na obra (p. 259) diz respeito a uma possível explicação para uma referência inicial a Santo Antão que se mantêm na Vitória de hoje:
Uma legoa e meia d’este monte, para o norte,. existia uma hermida dedicada a Santo Antão abbade, de cujo favor esperavão os homens a segurança de seus gados, pelas muitas feras que produz o terreno; e algumas casas terreas, que chamavão cidade do Braga: nome que lhe deo o appellido de seu fundador.
10/05/2024 23h50
Imagem: Bonifácio

“Pouco depois chegamos á Vitoria (antigamente Sto. Antão) já noite, e fomos para a casa da Camara (3), que é terrea e tinha poucas acomodações. Tem 3 mil almas segundo ouvi do Juiz Municipal […]”
Nota do editor: 3 – A Camara estava assim formada: José Cavalcanti Ferraz de Azevedo (Presidente); Antonio Lourenço de A lbuquerque Coelho, Antonio Teixeira Machado, José Marcolino de Melo, José Antonio da Silva Lira, M anuel José Pereira Borges, Francisco Antonio de Sobral.
Obra: Dom Pedro II. Viagem a Pernambuco EM 1859. De 19 de novembro a 23 de dezembro de 1859. Diário Inédito. Arquivo da Casa Imperial. Documento no. 1057. Arquivo Público Estadual, 1952, Recife. Cópia, introdução e notas de Guilherme Auler. Ilustrações de M. Bandeira.
Estou a apreciar registros do interessantíssimo diário do imperador.
Hoje denominada Vitória de Santo Antão, tinha então, afirma o imperador, “3 mil almas” (p. 140) quando a visitou na ocasião de sua estadia em terras pernambucanas no final de 1859, conforme maço XXXVII, no. 1057 do manuscrito denominado catálogo B.
Na Introdução da obra se informa que o diário de D. Pedro II fora escrito a lápis “em letra miúda e nervosa, algumas vezes até indecifrável”, onde registra suas impressões sobre o Recife, incluindo subúrbios, além de outras cidades pernambucanas: Olinda, Goiana, Igaraçu, Itamaracá, Cabo, Serinhaém, Rio Formoso, Tamandaré, Vitória e Escada (Introdução).
O imperador chegou à Vitória na noite do dia 18 de dezembro. Após tecer comentários sobre alguns fidalgos da localidade, escreveu (p. 141):
“O juri tem se reunido regularmente em Sto. Antão e na Escada, mas não é justiceiro em suas decisões. A cidade tem comercio de fazendas em pequena escala, e o principal genero de trafico é o gado, havendo, ás 6a. feiras, de 1000 a 2000 rezes; fornecendo quasi todo o de que precisa a companhia das carnes verdes do Recife.
Ha 3 igrejas. Matriz, Rosario e Livramento; porém nenhuma concluida. Um grupo quando eu entrava dizia que a matriz deu 4 estalos neste dia; mas segundo o exame que se fez reconheceu-se que foram no coro, que se acha em mau estado. Ainda enterram num cemitério junto à matriz; mas ha outro fora da cidade.”
Amanheceu e às 5h30 o imperador foi ao lugar considerado como Monte das Tabocas, após ter tomado informações locais e as comparou com indicações da obra sobre “Castrioto” para identificar a localização, marco da batalha em 1645 contra os holandeses; após caminhar por cerca de duas horas (p. 143) o encontrou. Levou consigo, como recordação, balas de artilharia e fuzilaria encontradas no local, “apanhadas por um portuguez Manuel Ferreira ,que tem um sitio na baixa e mesmo um pedaço de canhão, que está agora no Engenho Cacimbas de José Silvino Cavalcanti” (p. 143). Então retornou à cidade, viu que tinha 67 meninos matriculados na escola, com frequência de 40 a 50. Escutou o primeiro diante de um texto e concluiu que lê “sofrivelmente” (p. 143):
“[…] dizendo mestre que já sabe regra de juros, contudo nada respondeu sobre frações. Não sabe o que é a prova real da divisão, e tem quasi 5 anos de aula. O 2° matriculado a 3 de outubro de 1859, já tinha estudado na aula particular dum fulano Maciel; lê mal; apenas começa a gramatica, e divide bem, mas sem certeza do que é a prova real da divisão ainda que a tire. Respondeu mal sobre doutrina.”
Entre as meninas, 18 matriculadas, com frequência de 12 a 14 (p. 144):
“A 1a. ouvida tem 3 anos de aula, e lê tropeçando, sendo a unica — das presentes ainda creio eu — que divide, porem mal. A 2a lê mal, e apenas diminue. A letra — a que vi — é melhor que a que vi em outra aula. A professora estava atrapalhada por vergonha ou por ignorância, e as meninas responderam tão baixo sobre doutrina que apenas as ouvi; contudo pouco sabem assim como a professora.”
D. Pedro II registrou que o vigário da freguesia cuidava de 20 mil almas e “seduziu no confessionário uma noiva com quem vivia amancebado” e que este não seria o único escândalo que contaria ao bispo (p. 144); também menciona problemas sanitários com a cólera e até uma proposta da Junta de Higiene para que a cidade fosse abandonada e as casas derrubadas (p. 144).
Foi recebido com festividade pelos nativos, achou “muito engraçado o tamborsinho, que tocava desesperadamente apesar de aleijadinho duma mão” (p. 144) e à noite:
“houve um fogo pequeno, mas bonito, e veio um batalhão denominado dos bravos da Bateria, uniformisados sob o comando do Tiburtino, que leu um soneto de pé quebrado assim como mais duas poesias de igual mérito. O porta-bandeira era um homem vestido de caboclo com suiças e bigodes pretos pintados. Chamavam-se bravos da Bateria em comemoração da batalha das Tabocas, de cujo suposto monte não muito afastado ha o Engenho da Bateria. Esses bravos creio que eram uns que atiravam tiros de espingardas por detraz das peças fingidas dum fortim de papelão, que levantaram no largo da Matriz, plano do Tiburtino, que parece ter sido o organizador dos artilheiros pigmeus.”
Menciona um projeto para construção de um açude para melhorar o fornecimento de água, achou a prisão “úmida” (p. 145) e o povo lhe deixou uma impressão que “passa por muito docil” (p. 144).
09/05/2024 23h08
Imagem: IHU

“Procurar exemplos, conselho e orientação é um vício: quanto mais se procura, mais se precisa e mais se sofre quando privado de novas doses da droga procurada.”
Obra: Modernidade Líquida. 2. Individualidade. A compulsão transformada em vício. Zahar, 2001, Rio de Janeiro. Tradução de Plínio Dentzien. De Zygmunt Bauman (Polônia/Poznań, 1925-2017).
Quando alguém me pede um conselho, sempre me vem à mente a ideia do parteiro em Sócrates. Acredito que o mais importante é que a verdade nasça dentro de cada um, por um processo de maturação que tende a ser desgastante enquanto libertador, em vez de ser importada de outrem, não raramente entregue como um produto de loja de conveniência sob um rótulo que pode ser enganoso. Isso posto, impressiona-me o traço da modernidade líquida tão comum em pessoas que parecem ter desistido de dar a luz a verdades que precisam ser descobertas e vivenciadas, bem que se revela no pensar e no decidir por si mesmas; destarte, longe do acaso se proliferam influenciadores e gurus de estimação com suas receitas e exemplos que, como bem lembra o autor, “são atraentes enquanto não-testados” (p. 70).
A pergunta “o que fazer?” diante de dilemas só faz sentido, à mon avis, se estiver internalizada junto com uma grande vontade de conhecer mais o que a envolve, suas nuances, peculiaridades, as coisas que realmente são necessárias, e não através de guias, conselheiros, orientadores ou qualquer tipo de agente exógeno que defina o que precisa ser feito e adquirido antes de ser meditado e amadurecido no juízo de quem busca respostas.
Bauman lembra outro traço dessa modernidade líquida quanto ao que produz de enfermidades do espírito no que defino como “zumbis do consumismo”, quando aborda o problema da corrida sem fim de consumidores por uma realização da “boa vida e utensílios”, diria, apetrechos com intermináveis versões avançadas, grifes e tudo o que encante uma mentalidade sedenta por satisfazer mais o que os outros pensam e não o que de fato importa e é essencial para si; então prevalecem imediatismos, carências de ostentação, tudo a retroalimentar uma ânsia por ofertas novas e aperfeiçoadas de coisas que se tornam cada vez mais super estimadas no rol de suas “necessidades” a referendar o que afirma sobre “a compulsão que evolui até se tornar um vício e assim não é mais percebida como compulsão” (p. 71).
08/05/2024 22h42
Imagem: BR

“Existem teólogos e humanistas bem intencionados que querem quebrar o princípio do poder – mas isso nos outros. Precisamos quebrar esse princípio primeiro em nós mesmos. Só então seremos fidedignos.”
Obra : Civilização em transição. Obras completas de Carl Gustav Jung. Capítulo I. Vozes, 2013, Petrópolis. Tradução de Lúcia Mathilde Endlich. De Carl Gustav Jung (Suíça/Kesswil, 1875-1961).
Um texto de 1918 sobre o inconsciente. No contexto, um mundo que estava saindo de uma guerra mundial. Por sinal a associa com “a desconfiança do primitivo com relação à tribo vizinha”, no trato do tema que envolve o capítulo (p. 31).
No trecho (p. 33) desta Leitura, vieram-me recordações de um momento de minha vida onde percebi algumas ilusões que se deram na juventude ao considerar o que há no argumento que encerra o parágrafo: “Temos que ouvir a voz da natureza que nos fala do fundo do inconsciente. Então cada um estará tão preocupado consigo mesmo que desistirá de querer organizar o mundo” (p. 33). No parágrafo anterior encerra a defender que apenas com uma mudança de mentalidade de cada indivíduo será possível uma renovação do espírito das nações.
Enquanto no consciente se trava a luta pela mudança, melhoria, transformação do mundo de fora para dentro, penso, quando menciona a atitude racionalista de tentar resolver as coisas por meio de organizações, leis e boas intenções (penso aqui no longínquo tempo em que fui crente da religião chamada “progressismo”), aponta a importância da mudança em cada indivíduo e então segue a conversar com o leitor ao cogitar que pode soar estranho, a quem não é versado em sua área, ver um conceito psicológico tratado em questões gerais, no entanto, argumenta que muita coisa foi para o inconsciente por falta de espaço na percepção de mundo ou seja, o inconsciente é como um porão de coisas reprimidas, desprezadas; assim, aponta, a fronteira entre consciente e inconsciente em cada pessoa se define através da sua cosmovisão (p. 33).
No mais, sobre o trecho em que parei para lembrar de minhas ilusões coletivistas, penso, tão comum é cair na tentação de defender um valor para melhorar os outros, quando se carece de tal empreendimento em si mesmo.
07/05/2024 23h40
Imagem: BBC Radio 4

“Eis o o motivo do meu consentimento para saques e pilhagens. Dava-lhes tudo o que podiam carregar: daí a imutável afeição que me dedicam.”
Obra: O Príncipe. Comentado por Napoleão Bonaparte (Córsega/Ajaccio, 1769-1821). Martin Claret, 2002, São Paulo. Tradução de Pietro Nassetti.
Torno a edição de O Príncipe, de Niccolò di Bernardo dei Machiavelli (1469-1527), com comentários de Napoleão Bonaparte nesta serie neorodrigueana, imaginada pelo meu amigo de infância, A Política como Ela é.
Napoleão Bonaparte parece dar uma explicação que pode ser chocante a quem vive no jardim da infância que romantiza o oficio da política, acerca de algo que soa na imposição do pragmático, com base no que Maquiavel aborda sobre a liberalidade do príncipe que marcha à frente do seu exército e vive de tomar a riqueza alheia; a pilhagem, o roubo, o saque, atos criminosos permitidos pelo príncipe, em favor de seus subordinados, aumentam seu prestígio para comanda-los (p. 97). O príncipe liberal nessas coisas será respeitado, admirado, devotado. Se o contexto é de um príncipe medieval que comanda tropas que praticam roubo sob sua conivência, penso, na política atual de governantes civis, a essência dessa lógica pode ser identificada em meio a escândalos de corrupção, apadrinhados de reputação duvidosa, aliados igualmente obscuros e até mesmo a complacência com concessão de “saidinha” a quem cumpre pena em regime fechado e a liberalidade do “perdão” a condenados, normalmente alinhados politicamente com o concessor da graça por meio de atos “legais” no ordenamento jurídico?
E Maquiavel não fica apenas na pilhagem explícita e no suporte a quem pratica crimes com a farda; afirma que gastar o dinheiro dos outros não reduz a reputação do príncipe, pelo contrário, aumenta, enquanto esbanjar os próprios recursos é prejudicial. O príncipe deve ser “miserável” se quiser ser sábio (p. 97); Napoleão externa alguns complementos e se garante que, no ponto suscitado por Maquiavel, sempre terá a estima de seus soldados, dos senadores, dos prefeitos, enfim, de civis e militares ao seu redor quando for complacente com crimes que aumentem o respeito de seus aliados.
E novamente fico a pensar: essa liberalidade teria ficado no tempo de monarcas tiranos (não tão passado assim)? Seria a política de hoje diferente em seus ambientes democráticos? Ou será que mudou apenas a forma do poder ser exercido em prol de coisas que seus discursos condenam?
06/05/2024 00h01
Imagem: literafro

Não recebia ninguem, vivia num isolamento monacal, embora fosse cortez com os vizinhos que o julgavam exquisito e misanthropo. Se não tinha amigos na redondeza, não tinha inimigos, e a unica desaffeição que merecera, fôra a do Dr. Segadas, um clinico afamado no lugar, que não podia admittir que Quaresma tivesse livros : ‘se não era formado, para que ? Pedantismo !’
Obra: Triste fim de Polycarpo Quaresma. 1. A LIÇÃO DE VIOLÃO. Revista dos Tribunaes, 1915, Rio de Janeiro. De Afonso Henriques de Lima Barreto (Império do Brasil/Rio de Janeiro, 1881-1922).
Tenho enorme atração por ler obras antigas nas primeiras edições. Sou fascinado pela beleza da madre língua tratada pelos clássicos.
Polycarpo Quaresma (grafia original), um romântico do nacionalismo, não raramente ingênuo, pacífico, sonhador, intelectual; completamente diverso do nacionalismo da realpolitk.
Lima Barreto; preto, pobre, cedo perdeu a mãe e o pai foi acometido de doença mental. Um talento da literatura brasileira que confessou “é triste não ser branco” a refletir o racismo à época, em seu diário intimo [224]; tinha tudo para ser desperdiçado mas, em meio às dificuldades, onde se insere o problema do alcoolismo, conseguiu passar em um concurso para a Secretaria da Guerra e assim ganhou fôlego para desenvolver suas obras.
Sobre o trecho desta Leitura (p. 10), primeiro, o amor de Polycarpo Quaresma pelos livros reflete um ideal dentro da visão nacionalista-intelectual de Lima Barreto; é um dos elementos mais belos do livro.
A literatura é um organismo que me alimenta no cotidiano e, novamente por recordação, o mais próximo que experimentei da doença do “academicismo” descrita nas entrelinhas deste romance, tão comum no uso de titulações como forma de exclusão das pessoas tidas como “simples”, deu-se quando um docente portador dessa enfermidade decidiu dar uma “carteirada” no velho Argumentum ad Hominem, em vez de participar na construção da dialética que iniciei acerca de um tema. Este tipo de mentalidade está na mesma família do Dr. Segadas; indivíduos suficientemente boçais para defenderem o desejo de monopolizar às elites do ensino formal o acesso ao conhecimento e ao desenvolvimento intelectual na ostentação de suas titulações, que podem ser tão vazias e pobres de conteúdo quanto aqueles que as detêm.
E haja doutor Segadas por aí…
224. A vida de Lima Barreto. José Olympio, 1952, Rio de Janeiro. De Francisco de Assis Barbosa (Brasil/São Paulo/Guaratinguetá, 1914/1991)
05/04/2024 10h20
Imagem: PC do B
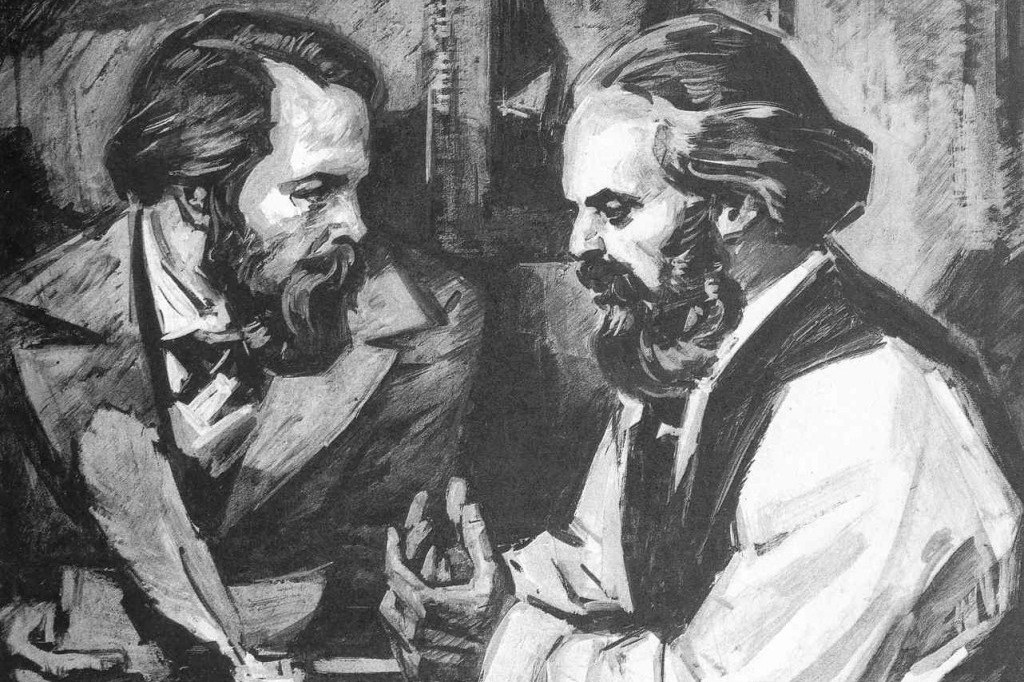
“[…] uma antítese histórico-universal não pode ser criada apenas através do esclarecimento de que a gente se encontra em oposição ao mundo inteiro.”
Obra: A Sagrada Família. VII. A correspondência da Crítica crítica 1. A massa crítica (Karl Marx). Boi Tempo, 2011, São Paulo. Tradução de Marcelo Backes. De Karl Marx (Reino da Prússia/Renânia-Palatinado/Tréveris, 1818-1883) e Friedrich Engels (Alemanha/Barmen, 1820-1895).
Recife, maio, 1994 – Há 30 anos tive contato com este livro pela primeira vez. Até 1992 tinha grande interesse por Marx e Engels como simpatizante de suas ideias, mas esta obra parecia de acesso mais complicado. A Sagrada Família é a primeira publicação da parceria Marx-Engels; nasceu em um encontro dos dois em Paris, ocorrido em setembro de 1844.
Contou ZW que no início de 1975 (eu usava fraldas), foi abordado por dois milicos na aberração [223] chamada Avenida Dantas Barreto. Os dois policiais, aparentemente, estavam em uma ronda habitual e ZW estava em mãos com um exemplar desta obra em espanhol, capa preta, presente de um tio, lembrança de uma viagem a Buenos Aires; os dois guardas fizeram uma revista, conferiram sua identidade, olharam o título “La Sagrada Familia” em maior destaque, não se interessaram por mais detalhes e, certamente, deduziram que se tratava de algo religioso, pois assim deixaram ir em paz aquele jovem, até então simpatizante do comunismo.
Espirituoso, abriu a mochila, tirou o livro e falou:
– Tá vendo, não fui preso na ditadura por causa deste livro.
Risos.
Um tempo depois (não me recordo do ano exato, foi entre entre 1995 e 1997) estava a conversar com um professor de história econômica sobre a influência de Hegel em Marx e Engels quando esta obra foi mencionada como parte de um momento importante da juventude dos dois amigos, dentro de um contexto do movimento hegeliano dos anos 1840. O título é um deboche que marcou o rompimento da amizade da jovem dupla com os irmãos Bruno, Edgar, Egbert Bauer, que editavam a Literaturzeitung (Gazeta Literária). Interessa-me muito mais o raciocínio de Marx-Engels sobre o trecho desta Leitura (p. 165); para que exista uma antítese histórico-universal, não é suficiente que se declare o mundo como antítese, mas é preciso, por outro lado, que o mundo se declare como antítese essencial, que trate e reconheça o opositor como tal, complementam o argumento. Nessa correspondência se insere a crítica sobre a “Crítica crítica”, ao apontar sua pretensiosa auto proclamação como produtora intelectual, arrogada pelos irmãos Bauer e afins, para transformar o mundo em uma espécie de redenção diante do “escândalo geral” ante ao seu “evangelho” (p. 165); no primeiro capítulo, assinado por Engels, esse teor crítico é logo definido na abertura de forma ainda mais incisiva em analogia com o Evangelho de João (o Verbo se fez carne) a apontar que a Crítica crítica “por mais que se considere acima da massa, sente uma compaixão infinita pela mesma massa” (p. 17), no sentido de ir e habitar nela, e então se direciona de forma sistemática e, penso, simplista conforme a crítica de Engels-Marx, a ponto de permanecer ininteligível até mesmo para si (p. 18).
A crítica sobre a “Crítica crítica” soou-me irônica nos jovens Marx e Engels, pois essa obra aponta um problema que pode ser verificado mais adiante, quando os dois passaram da juventude, aclamados no pensamento socialista: a pretensão de promover uma transformação profunda do mundo, por via revolucionária, tendo como pano de fundo, em seu modo de pensamento, uma crítica materialista histórica que bebeu da fonte da filosofia de Hegel tentando expurgar a lógica formal. Mas se a pretensão dos irmãos Bauer e seguidores lhes pareceu tão arrogante, a que viria no desenvolvimento de suas reflexões filosóficas, sociais e econômicas, seria diferente?
223. Lembro-me de ZW ter falado da demolição da igreja de Bom Jesus dos Martírios em 1971, um tesouro da história pernambucana, para dar lugar à extensão que finda na Praça Sérgio Loreto. No final, também recordo quando falou que o projeto, executado na gestão do prefeito Augusto Lucena, “ligava coisa nenhuma com nada dentro” para destruir um valioso patrimônio histórico (a igreja).
04/05/2024 13h47
Imagem: Nobel Prize
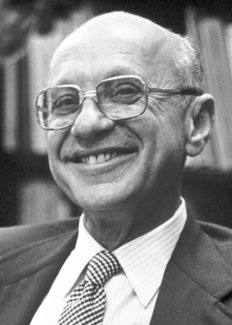
“The heart of the liberal philosophy is a belief in the dignity of the individual, in his freedom to make the most of his capacities and opportunities according to his own lights, subject only to the proviso that he not interfere with the freedom of other individuals to do the same.”
Obra: Capitalism and Freedom. Chapter XII. The Alleviation of Poverty. LIBERALISM AND EGALITARIANISM. 40th Anniversary Edition. With a new Preface by the Author. The University of Chicago Press, 2002. De Milton Friedman (EUA/Nova Iorque/Nova Iorque, 1912-2006).
Mises, Keynes e agora Milton Friedman…
Lembrei-me de uma brincadeira em 2020 sobre um colóquio político-econômico de todos os tempos sugerido a um professor. De Aristóteles e Platão, releríamos o governo dos amantes da sabedoria em A República, passaríamos por senadores e imperadores romanos, reis medievais, papas, escolástica, até chegarmos nos conservadores a progressistas às portas da Revolução Francesa. Montesquieu, Voltaire, os fisiocratas, os protoaustríacos, Carl Menger, Eugen von Böhm-Bawerk..
A abertura do evento ficaria aos cuidados do senhor Bertrand de Jouvenel que lançaria o problema da evolução do poder.
Adam Smith e David Ricardo fariam uma atualização de seus pensamentos para o século presente. O professor de lógica também seria o mediador do ontológico debate de Marx com Mises.
John F. Nash Jr. representaria os matemáticos (sempre cai bem nessas horas).
O senhor Daniel Kahneman abriria o tema do comportamental em economia; ora, ora, um psicólogo economista, quem sabe alguém careça de terapia com Freud de sobreaviso.
Teríamos o marginalizado Murray Rothbard para animar os comunas e os liberais, reeditando sua Anatomia do Estado.
Friedrich August von Hayek teria um acerto de contas com Hoppe (uma briguinha interna na Escola Austríaca) e um debate com Keynes, encontro titânico que seria apenas superado pelo duelo galáctico Mises x Marx. O austríaco mais respeitado pelo mainstream faria também algumas considerações sobre a dispersão de conhecimento direcionadas a planejadores centrais, muitos, incontáveis espalhados por partidos, grupos de lobistas e governos.
Taleb falaria sobre o tema “iatrogenia política”. Schumpeter teria uma conversa com Steve Jobs e Bill Gates.
Então teríamos mais um Nobel, o senhor Paul Krugman aos bons olhos dos chineses do Partido Comunista, dos petistas e dos democratas, em um debate a trois com Keynes e Rothbard. Hans-Herman Hoppe, além de debater com Marx e Hayek, faria um comentário sobre o “neodesenvolvimentismo”, com réplica de Krugman.
Pierre-Joseph Proudhon teria um avassalador debate com Marx a reeditar a obra Miséria da Filosofia, do pai do “socialismo científico”.
O herói ideológico que ficou em minha adolescência seria bastante acionado neste colóquio universal, do embate dos séculos com Mises, daria apoio moral a intervencionistas com algumas manifestações perturbadoras dos senhores Hayek e Taleb, o primeiro sobre o problema da dispersão, e o segundo acerca do “intervencionismo ingênuo”, para encerrar seus trabalhos no tão esperado tira-teima com o senhor Proudhon.
Vladimir Lênin, devidamente acompanhado por bolcheviques, explicaria esse “estado transitório” do socialismo rumo ao comunismo; o líder do Outubro Vermelho seria também o mediador do debate mais aguardado pelos comunas na Arena Vermelha: Stalin versus Trotsky.
Nessa louca imaginação, Olavo de Carvalho seria um dos “convidados especiais” e encerraria de forma apoteótica o evento com uma aula sobre O Jardim das Aflições.
Eis que fora assim que respondi a um docente sobre o que seria, em termos essenciais, a liberdade em um autêntico encontro de ideias no âmago político-econômico diante de sua inquietação sobre as críticas que proferi, de forma privada, sobre um evento por ele organizado; sofreu do problema de se ter apenas pensadores sob o mesmo viés ideológico; no caso, desenvolvimentistas em economia alinhados com governos e partidos de esquerda, todos fingindo que estavam discordando de pontos fundamentais; foi um colóquio vazio de dialética, tudo não passou de um palco favorável a canastrões do pensamento crítico onde as discordâncias eram periféricas, operacionais, circunstanciais, enquanto na essência todos defendiam a mesma coisa. O subliminar policiamento das ideias estava no ar, apontei. “E não tem mulher neste colóquio imaginado?”, perguntou com aquele familiar aspecto de politicamente correto, e eu respondi: – pense na “essência” e não importa o sexo dos participantes, são ideias a serem discutidas e não pessoas e gêneros; o fundamental é bem representarem os pensamentos diversos que proponho a um encontro de política e economia.
Quanto ao senhor Nobel Miltão do capitalismo malvadão e do “não existe almoço grátis”, ficaria incumbido de dar uma aula especial sobre o trecho desta Leitura (p. 195) de sua mais conhecida obra: com o seu jeito peculiar, bem humorado, discretamente sarcástico, explicaria o que reside no coração da filosofia liberal quanto à crença na dignidade do indivíduo, na sua liberdade de aproveitar ao máximo as suas capacidades e oportunidades de acordo com a sua própria visão, desde que esse nobre exercício não interfira na liberdade de outros indivíduos, o que implica em uma crença na igualdade dos homens em certo sentido, e na desigualdade, em outro, dado que todo homem tem igual direito à liberdade, coisa fundamental porque os homens são diferentes; um pode desejar fazer coisas diversas em relação a outros por meio da liberdade, em um processo que evidencia a contribuição de cada um na sociedade em diferentes culturas.
03/05/2024 23h20
Imagem: The Economist

“Por que razão o mundo tem sido tão crédulo diante das falsidades pronunciadas pelos políticos?”
Obra: As Consequências Econômicas da Paz. Capítulo V. As reparações. Coleção Clássicos IPRI. Imprensa Oficial do Estado, Editora Universidade de Brasília, Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, 2002, São Paulo. Tradução de Sérgio Barh. De John Maynard Keynes (UK/Cambridge, 1883-1946).
Keynes junto a Mises, encontro sempre salutar.
Soa irônica, penso, esta pergunta feita pelo, certamente, economista mais amado no mundo político desde que entrou em evidência com sua então visão considerada heterodoxa. Esta obra marca o sucesso de Keynes como escritor; entre dezembro de 1919 e junho de 1920, vendeu cerca de 100 mil cópias (p. XI, nota 7).
A obra desta Leitura é deveras interessante. Está no contexto do pós Primeira Guerra, nos problemas econômicos dela derivados onde o lorde apresenta uma abordagem analítica com destaque à terceira parte onde avalia as questões relacionadas com as reparações e cláusulas do Tratado de Paz, que seria consolidado após a publicação da obra. Neste ponto, à mon avis, Keynes contribui bastante na compreensão da Segunda Guerra como consequência do que fora exigido da Alemanha.
Penso agora na provocação no trecho em destaque (p.141): a fé nos políticos, mesmo diante de falsidades, aqui no contexto dos problemas em torno das tratativas para a reparação alemã, penso, o que pode se estender, em certo sentido, mais amplo, à crendice popular que lhes é dada no tempo presente diante de orçamentos estratosféricos que se tornam abstrações na mente do homem comum não versado em finanças públicas. Torno ao contexto do lorde que indica como primeiro ponto que “as grandes despesas ocasionadas pela guerra, a inflação e a depreciação da moeda, levando a uma completa instabilidade das unidades de valor, nos fizeram perder o sentido dos números e de dimensão financeira”; bem, as guerras no tempo presente não são abertas, parecem mais um segundo tomo da Cold War que sucedeu à Segunda Guerra, mas o que o lorde aponta faz muito sentido inclusive na era da inflação descarada produzida por governos, fatores que induzem a população profana em economia a perder o referencial dos números diante da dimensão financeira. No contexto do Tratado de Paz, afirma o lorde que “o limite do possível foi excedido de tal forma, e aqueles que baseavam no passado as suas expectativas erraram tantas vezes que hoje o homem comum está pronto a acreditar em qualquer coisa que lhe é dita com mostras de autoridade, e quanto maior a quantia, mas facilmente ela é aceita” (p. 141). Outro ponto destacado pelo lorde é que a Alemanha estava mais pobre na saída da Primeira Guerra e as duras condições do Acordo com perdas de territórios, infraestrutura e acesso a recursos primários, ignoraram o peso insuportável colocado nas costas do povo alemão, eis o que entendo ao apreciar a análise (pp. 142-143).
Em suma, o lorde chamou a atenção para a inviabilidade do que estava sendo aplicado à Alemanha, e na parte final tem um tom pessimista ao considerar que “o destino próximo da Europa não está mais em nossas mãos. Os eventos do próximo ano não dependerão das deliberações dos estadistas, mas das correntes ocultas que fluem continuamente sob a superfície da história política, e cujo resultado ninguém pode prever” (p. 205), e as “correntes ocultas”, penso, saíram do bueiro populista em formas que descambaram a Europa para um novo conflito bélico mundial; nazismo e fascismo, após 20 anos da elaboração desta obra, foram os dois monstros consolidados em meio ao desespero do mesmo homem comum perdido na imensidão dos números manipulados por políticos.
02/05/2024 00h01
Imagem: Mises Brasil

“A expressão ‘conquistas sociais’ é inteiramente ilusória. Se a lei obriga os trabalhadores que prefeririam trabalhar 46 horas por semana a não trabalhar mais do que 40 horas, ou se força os empregadores a efetuarem determinados gastos em benefício dos empregados, não está favorecendo os empregados às custas dos empregadores. Quaisquer que sejam as disposições da legislação social, sua incidência, em última análise, recai sobre o próprio empregado e não sobre o empregador. Afetam o montante do salário líquido. […]”
Obra: Ação Humana. Um Tratado de Economia. Capítulo 21 – Trabalho e Salários. Uma comparação entre a explicação historicista dos salários e o teorema da regressão. 7. Efeitos da desutilidade do trabalho sobre a disponibilidade de mão de obra. 3.1a. Edição pelo Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2010, São Paulo. De Ludwig Heinrich Edler von Mises (Áustria-Hungria/Leópolis, 1881-1973).
Não é incomum, em minhas interações com o mundo, concomitantemente dialogar com leituras.
Roma, 2019, dezembro – Decidimos tomar um táxi da Via del Corso para a stazione Tiburtina. No trajeto comentei com o taxista sobre a dificuldade que tive para conseguir a corrida; queria passar por uma experiência de usar este serviço em Roma e percebi quão elevada é a sua escassez por lá. O taxista parecia apressado e desanimado, quando mencionou a “concorrência desleal” de motoristas do Uber, com um tom de indignação. Sua principal queixa versou sobre os custos que tem que arcar para manter seu taxi na cidade, muito alto, enquanto o pessoal do Uber “não paga nada”, lamentou-se. A solução, segundo o motorista, seria proibir o Uber na Itália e assim garantir os direitos dos taxistas, só assim a oferta de taxis poderia aumentar. Pensei com os meus botões em como ficam os consumidores neste caso, tendo que pagar muito mais caro por conta de impostos, taxas e regulações que o Estado impõe para “garantir direitos” de quem pode comprar licenças que funcionam como reserva de mercado, entenda-se o banimento de concorrência livre em benefício próprio. Quando chegamos na estação, o taxista cobrou uma taxa extra pela bagagem e se limitou a destravar o porta-malas.
Recife, 2019, dezembro – Lembrei-me que tive uma conversa parecida com um taxista de Recife, que indicou a mesma solução de banir o Uber para acabar com a “concorrência desleal”.
Roma, 2022, dezembro – Lá estamos novamente na cidade eterna e da Via delle quattro fontane acionamos o Uber. Uma van com um motorista de terno nos atendeu incialmente em inglês e perguntou se poderia acomodar nossas três malas. Prossegui a conversa em italiano, minha língua estrangeira mais amada. O motorista parecia concentrado e aberto a uma boa conversa; notei a excelência como parte do essencial em sua forma de atendimento. O padrão de conforto da van e a educação dele chamaram a atenção por um preço relativamente baixo: pouco mais de 19 euros. No desembarque em Roma Termini, ele abriu o porta-malas, retirou a bagagem, desejou buon viaggio e agradeceu pela preferência.
Vitória de Santo Antão, 2024, janeiro – Não faz muito tempo fui perguntado sobre o que penso acerca de motoristas de aplicativo no Brasil resistirem às atuais tentativas de regulação do governo federal. Para o jovem mestrando interlocutor não faz sentido a recusa de projetos que garantem benefícios sociais. Lembrei-me novamente do trecho desta Leitura (p. 703) de Ação Humana. Limitei-me a ponderar que se uma legislação forçar os autônomos a determinadas condições por garantia de direitos, haverá custos que serão repassados cujos efeitos recairão, em última análise, sobre os próprios trabalhadores afetando seus rendimentos líquidos e não sobre o Uber ou qualquer outra empresa; em suma, motoristas de aplicativos, contrários aos interesses do governo, parecem ter uma consciência de que a regulação os tornaria bem mais caros de maneira que isso afetaria a demanda por seus serviços a provocar redução de seus ganhos. O jovem interlocutor não concordou com o argumento, talvez porque não considere o peso do custo de regulações na reação dos tomadores de serviços diante da carestia imposta. Pensei, o mundo de controles sociais do Estado combina melhor com os desejos dos taxistas que conversei, o de Roma e o de Recife, de gozar de uma reserva de mercado, encarecido por licenças e taxações, acomodado em um privilégio que pune os consumidores e que por isso não suporta o motorista de aplicativo, desregulado que prefere conduzir sua própria renda, e não direcioná-la em parte à gestão do aparato estatal, enquanto sabe que seu mérito reside em ser prestativo e consciente de que está em um mercado onde a diferença que pesa é a da qualidade dos serviços indicada pelos consumidores que, neste modelo, são os mais beneficiados com a livre concorrência.
01/05/2024 12h42
Imagem: Uberaba em fotos

“Não conheço, no Brasil, outra mulher que tenha regido uma orquestra. Ela foi a primeira, pioneira!”
Obra: Canções de Dinorá de Carvalho: uma análise interpretativa. ANEXO 2. Transcrição da palestra sobre Dinorá de Carvalho. Campinas, 1996. De Flávio Cardoso de Carvalho.
Pude conferir a gravação de uma agradável comunicação na UFPE sobre a grande compositora e pianista Dinorá de Carvalho (Brasil/Minas Gerais/Uberaba, 1895-1980) onde foi citada esta dissertação de mestrado. A afirmação no trecho desta Leitura (p. 160) se deu em 1994, feita por Almeida Prado, de enorme referência na música erudita no Brasil.
Dinorá de Carvalho faz parte de uma intelectualidade artística brasileira a ser conhecida, estudada, apreciada, reverenciada. Ganhou uma bolsa para Paris e lá estudou piano; na volta ao Brasil organizou concertos, produziu peças e participou profundamente da formação de músicos eruditos no país. Foi uma mulher extraordinária que dedicou a vida à música. Fiquei feliz em ver no evento da UFPE que correm pesquisas para trazer à luz obras até então perdidas, com destaque para o resgate das canções Último retrato e Uma saudade que ficou.
Almeida Prado menciona (p. 161), neste registro de 1994, a belíssima obra O Senhor é Meu Pastor, que Dinorá compôs para barítono. Lembra que ela foi de uma linha nacionalista folclórica para se tornar uma compositora universal; repensou a si mesma, produziu uma missa como se fosse um requiem (p. 163).
Dinorá de Carvalho ficou viúva em 1978 e sofreu bastante com a partida do marido, que cuidava das finanças enquanto ela se entregava à produção musical. No final da vida distribuiu bens entre instituições e pessoas próximas, além de ter providenciado no testamento que seus imóveis fossem destinados em favor de crianças acometidas da doença do fogo selvagem, após o usufruto das irmãs (pp. 163-164).
8 Replies to “Uma leitura ao dia (mai/24)”