Allegro con brio, a abertura da Quinta Sinfonia de Ludwig van Beethoven (Deutschland/Nordrhein-Westfalen/Bonn, 1770-1827). Quando tocadas “as três curtas e uma longa”, ultrapassam barreiras do esquecimento que dominam as imagens que não consigo recordar de um tempo remoto de minha vida. Uma leitura ao dia segue neste gracioso agosto a iniciar com a minha mais profunda memória de infância, interpretada pela orquestra Leipzig Gewandhaus, conduzida pelo maestro sueco Herbert Blomstedt (1927).
31/08/2025 13h23
Imagem: Vatican News

e o aiatolá Al-Sistani (2021)
“O aiatolá Al-Sistani acolheu-me fraternalmente em sua casa, um gesto que no Oriente é mais eloquente que declarações e documentos […]”
Obra: Papa Francisco: Esperança. A Autobiografia. 20. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Fontanar, 2025, São Paulo. Tradução de Frederico Carotti, Iara Machado Pinheiro e Karina Jannini. De Papa Francesco, Franciscus (2013-2025), Jorge Mario Bergoglio (Argentina/Buenos Aires, 1936-2025), com Carlo Musso.
A reunião com o aiatolá tinha sido preparada pela Santa Sé “havia décadas, sem que nenhum dos meus antecessores conseguisse levá-la a cabo”, afirma Francesco (p. 278). A viagem ao Iraque aconteceu quando encontrou uma “brecha” (p. 273) durante a pandemia (março 2021), sob “perfis de risco de segurança elevadíssimos” (p. 273), com informações dos serviços secretos ingleses de que uma mulher-bomba estaria a caminho, além de um furgão (p. 277). Há 20 anos João Paulo II tinha sido impedido de fazê-la (p. 274) pelo ditador e ex-aliado dos Estados Unidos, Saddam Hussein (1937-2006).
Na visita Francesco testemunhou a devastação de Mossul, feita durante a ocupação do Estado Islâmico e sobre o que viu das ruínas (p. 276), lembrou-se de que o ódio “corre sozinho” em referência ao poema da escritora polonesa Wislawa Szymborska (1923-2012). É o mesmo ódio que transformou em campo de tiro a igreja da imaculada Conceição em Qaraqosh, na planície de Nínive, forçando o deslocamento de 120 mil cristãos(p. 279). O papa Francesco foi então onde se situam as ruínas da casa de Abraão (penso, pela tradição) na planície de Ur. Lá se reuniu com cristãos de diversas igrejas, muçulmanos xiitas e sunitas, além de yazidis (p. 277).
E eis que Francesco chegou a Najaf, onde está o túmulo de Ali, primo do Profeta (o “P” demonstra a reverência com o credo, p. 277), para o histórico encontro; estava descalço e foi a portas fechadas. O aiatolá Al-Sistani até então nunca tinha recebido chefes de Estado e “jamais se levantava; no entanto, naquele dia, significativamente, levantou-se comigo várias vezes”, (p. 278). Al-Sistani lhe pareceu “um homem sábio, de fé, preocupado diante da violência, e empenhado em levantar a voz em defesa dos mais fracos e perseguidos” (p. 279). Francesco então guardou a frase “os seres humanos são ou irmãos por religião ou iguais por criação”, de Al-Sistani, como “um presente precioso” (p. 279).
A visita do papa Francesco ao Iraque, à mon avis, foi emblemática. Talvez tenha sido o maior exemplo que dera no pontificado em relação ao que pautou a sua vida cristã: a incessante promoção do diálogo e da fraternidade inter-religiosa, contudo, naquele março de 2021, em relação ao encontro com o aiatolá, lembro-me de um senhor que se considera “católico tradicional e defensor da Missa de Sempre”, em alusão à Tridentina. Suas ressalvas a Francesco, para um desavisado, soam até como coisa de protestante irremediavelmente rixoso com a instituição mais antiga e importante da fé cristã no Ocidente. Contudo, ele me falou algo que anotei por ter me deixado pensativo ao lhe perguntar sobre a razão de tanta indignação em ver o papa na busca de uma relação fraternal com líderes de outros credos: “Não perco meu tempo com quem tem valores diferentes dos meus”.
Ele iria demonstrar seu aforismo na prática, pelo menos em duas ocasiões: a primeira logo depois da pandemia, ao recusar conduzir a filha única no casamento em uma igreja batista. Havia algum tempo ela tinha se convertido à fé “protestante”, a mesma do noivo. Isso por si só o deixou em um estado de irritação permanente. E a segunda foi no mesmo ano: bolsonarista ferrenho, rompeu com o irmão mais novo, o único do clã que declarou em 2022 voto ao candidato Lula. Sem eficácia têm sido até os dias atuais os esforços na família para uma reconciliação.
Em diferentes graus, o que chamo de “espírito de bolha” [453] é frequente. No entanto, além de imediato ter percebido 0% de chance de uma amizade com o contundente senhor, fiquei por um bom tempo reflexivo pela sua elevada radicalidade, sobre como teria se dado o processo em que aquele ser humano de quase seis décadas, enquanto certo de que é um “autêntico católico”, tornou-se tão fechado em torno de seus valores, intolerante, de extrema rigidez, incapaz de se abrir a um diálogo com quem pensa diferente, radicalmente indisposto à escuta do outro fora de seu círculo “seguro” de crenças, pautado em uma visão segregacionista de mundo onde não cabe o exemplo de Jesus no encontro com a mulher samaritana (João 4).
453. 19/07/2025 18h29
30/08/2025 13h18
Imagem: Editora Unespe

“Daqui depreende-se que na Ética, como filosofia pura prática da legislação interior, só são para nós compreensíveis as relações morais do homem com o homem; mas que tipo de relação existe entre Deus e o homem é algo que ultrapassa por completo os limites da Ética e que é para nós, pura e simplesmente, incompreensível; […]”
Obra: A Metafísica dos Costumes. Anotação final [491]. Fundação Calouste Gulbenkian, 2017, Lisboa. Tradução de José Lamego. De Immanuel Kant (Prússia/Königsberg, 1724-1804).
Quando me envidei (2001-2007) nas obras de Kant e li pela primeira vez a conclusão que revisitei recentemente nesta edição portuguesa (p. 457) sobre o que define como “incompreensível” a relação entre o ser humano e o divino pelo que considera nos “limites da Ética”, e pensei acerca dessa demarcação filosófica que sinaliza que não se pode ir além dos limites dos deveres do homem para consigo e seus semelhantes, olhei ao meu redor, estava na biblioteca do seminário e repensei o que conceituava “além dos limites da nossa experiência” (em termos empíricos sensoriais) e “se encontra entre as nossas ideias quanto à sua possibilidade, por exemplo, a ideia de Deus” (p. 382). Percebi então que encerrava (2007) um ciclo de minha vida na saída do seminário e que a filosofia de Kant teve uma enorme influência.
Na longa jornada que ficou para trás, refleti sobre colegas que deixaram o teísmo e me perguntava se um dia entraria para o rol. Pensei no refinado judeu-ateu nos anos 1990 e no professor de 2001, também de descendência judaica e ateu, que me classificou como um sujeito “muito complexo”, dado ao espírito crítico e ao ceticismo, porém paradoxalmente “impossibilitado de perder a fé” (havia um pouco de provocação irônica) [450]. Pensei em um professor de história do pensamento econômico que tinha passado nos anos 1980 pelo mesmo seminário que estudei e se tornou um ateu marxista [451]. Recordei quando fitou em meus olhos e disse: “não existe sobrenatural, existe o natural que não podemos explicar”. Pensei em alguns seminaristas entre 2003 e 2007 que não resistiram a alguma crise eclodida na descoberta de algum mito que aprendera na Escola Bíblica Dominical e que certamente hoje segue sendo amplamente ensinado nos púlpitos. Pensei também em um destacado professor do seminário do Sul que foi do dispensacionalismo ao ateísmo.
Havia um ponto em comum que identifiquei na maioria dos casos: de alguma forma eram indivíduos que realizaram grandes esforços, em termos intelectuais, na melindrosa relação entre razão e fé, porém esbarraram em certos limites do recurso racional na tentativa de explicar alguma questão de ontologia ou de fé e, nessa frustrante experiência, encerraram-se no ateísmo.
No início da jornada (2001) eu tremia nos pensamentos para abordar a metafísica do bem e do mal. No final (2007), enxergava a “fé” [452] sendo um vetor “completamente fora dos limites de uma moral puramente filosófica” (p. 451); muita coisa foi repensada quando passei a ver sentido no que Kant trata sobre o problema da limitação da racionalidade para lidar com questões ontológicas e entendi que tal fronteira significa apenas que não é possível lidar racionalmente, de forma depurada, com determinados termos, tais como “bem”, “mal”, “certo”, “errado”, “belo”, “feio”, em nível absoluto; apenas é possível de forma relativa mediante os limites da experiência ou do que depois passei a entender como “assimilação pela cultura”, sendo a fé um meio operacionalizado que versa sobre o absoluto e o relativo. A fé enquanto termo do que se manifesta na cultura, torna-se objeto possível de ser estudado, mas seu sentido mais profundo, no absoluto, não pode ser objeto do homem; simplesmente acontece além dos limites da razão. Reconheci então que a razão (humana) usada para “provar” a existência de Deus, por exemplo, é uma questão vazia de sentido por indicar incompatibilidade, da mesma forma que seria ao se tentar conter um problema lógico do infinito no finito, e então percebi nitidamente uma relatividade quanto ao meu jeito de pensar que impossibilita seguir o caminho do ateísmo, pois seria muita pretensão encerrar tudo pela racionalidade, senão vejamos:
A um senhor ateu que de vez em quando conversa comigo no Zoom, indaguei sobre como pode ser explicada determinada ação quando a razão aponta “não faça”, por exemplo, em algo afetivo ou poético, mas se encontra sentido em realizá-la. Não atenderia a um sentido diverso ou a uma ética além dos limites do recurso racional?, ou seja, uma ética além da razão, por uma “fé” diversa de uma confissão religiosa não seria um problema a envolver também o cotidiano de quem não crê em Deus, atualizando assim a filosofia de Kant?
450 21/08/2025 22h37
451. 12/09/2024 23h08
452. Assim interpretei o que Kant chama de “religião”, e considerei seus limites na história, inclusive na revelação, p. 452.
29/08/2025 22h47
Imagem: hoover.archives.gov

“It was at this point that the first doubt pierced my Communist faith.”
Obra: Give Me Liberty. The Caxton Printers, 1954, Caldwell. De Rose Wilder Lane (EUA/De Smet, 1886-1968).
A então jovem escritora americana afirma que fora comunista em 1919 (p. 3). Tinha 23 anos (p. 3), no entanto, abandonou a “fé” e se tornou uma das mais importantes pensadoras do movimento libertário americano, o mesmo onde emergiu outra grande escritora: Ayn Rand (1905-1982).
A primeira ligação com a historia do texto veio pelo fato de que, entre 20 e 24 anos de idade, experimentei um processo similar de descrença. Quando li “fé”, também recordei quando (2018) fui contestado por um professor e militante de um partido de esquerda, normalmente considerado “linha auxiliar” de certo grande aparato no Brasil. O doutorando me interrompeu para contrapor sobre a expressão que utilizei (“fé socialista”) “não se aplicável em um debate político honesto”, então aproveitei para argumentar que “ideias” na política sem comprovação científica mediante fatos, são expressões de fé que muitas vezes se assemelham bastante às que correm por confissões religiosas, com a diferença de que as de cunho laico, irreligioso, partidário, ideológico, mesmo sem o lastro da ciência confirmando que suas proposições funcionam, conseguem espaço em diversos leques da sociedade por fazerem referência ao pertencimento do “debate científico”, sobretudo quando propagadas por elites intelectuais na figura de sociólogos, economistas, historiadores, etc., enquanto às crenças religiosas restou o famigerado rótulo de abstrações extremistas, dogmáticas, baseadas no apelo ao sobrenatural, desprovidas de qualquer sentido para serem consideradas com mínima seriedade no dito “debate político científico” na sociedade.
Lane conta que começou a questionar o comunismo quando se permitiu a uma dúvida simples sobre o meio em que o coletivismo seria operacionalizado, conforme ensinado por seus “irmãos” de fé, sendo a riqueza acumulada tomada dos capitalistas, para o desfrute dos trabalhadores sob a promessa de que assim “não haverá mais desigualdade econômica” e sim “uma prosperidade geral como o mundo jamais conheceu”. O instrumento operacional é o Estado concentrando a posse e a administração de todos os meios produtivos (aqui, penso, é a transição socialista na interpretação de Lênin). A escritora então perguntou a si mesma: “E o que é o Estado? O Estado será a massa de trabalhadores. Foi nesse ponto que a primeira dúvida perfurou minha fé comunista”, aponta (p. 6). Então começou a perceber que a concentração de poder econômico nas mãos do aparato estatal se mostra contraproducente em relação à intenção original da pauta de justiça comunista, por resultar em vidas e meios de subsistência “nas mãos de ditadores” (p. 10), quando conclui: “O governo representativo não pode expressar a vontade da massa do povo, porque não há massa do povo” (p. 10).
Na política é comum a insistência na defesa de ideias que não correspondem aos fatos, cujo foco está nas supostas intenções e não nos resultados das políticas. Um exemplo está desejada justiça social pela igualdade que permeia o discurso corporativo, mas fato corriqueiro é que a liberdade (um dos elementos primordiais para preservação da justiça) é neutralizada na intensificação de um regime autoritário. Conversando com socialistas e comunistas notei que alguns parecem não enxergar esse problema, talvez uma parte não queira reconhecê-lo, e ao longo do tempo fui entendendo que parte dessa questão se explica pela forma como as ideias são trabalhadas: por uma agenda de defesa da fé, análoga ao que ocorre no âmbito religioso, cujo maior compromisso (muitas vezes o único) é negar contradições que suas proposições causam no mundo real.
Quando Lane começou a considerar a incompatibilidade da diversidade de ideias e intenções nos agentes humanos, mediante um aparato que impõe planejamento central na forma de um estado (um fator típico de socialismo), possivelmente, a considerar o que discorre no texto, promovera em paralelo uma abertura para colocar em discussão suas crenças em um processo difícil, desgastante que chegou em uma afirmação contundente, um tanto hiperbólica diria, de maior destaque à mon avis:
“A esperança comunista de igualdade econômica na União Soviética repousa agora na morte de todos os homens e mulheres que são indivíduos” (p. 14).
28/08/2025 21h54
Imagem: Sábado

“Para um conservador, o fascismo e o comunismo começam por se apresentar como tiranias gêmeas ao partilharem a mesma concepção violenta e primária do exercício político. […]”
Obra: As ideias conservadoras (novamente) explicadas a revolucionários e reacionários. 8. Conservadores ou monomaníacos: uma conclusão. Edições 70, 2024, São Paulo. De José João de Freitas Barbosa Pereira Coutinho (Portugal/Porto, 1976).
Um cisne negro “esgotado e muito procurado” (p. 7), tornou [446], e o “novamente” após 10 anos em uma reedição, penso, muito bem a calhar dadas as “ruínas da última década” (p. 13).
A consciência dos pontos em comum entre fascismo e comunismo começou a despertar em mim a partir da leitura de O Caminho da Servidão, de Hayek [447], quando me perguntei “como não consegui enxergar antes a imensa similaridade, pelo menos do autoritarismo, em ambos?”. Ao passar pelo trecho (p. 90) desta Leitura, novamente fiz a pergunta. Então pensei, talvez porque entendia à época (corretamente) que o papel do Estado no fascismo é perene e no comunismo, ao considerar a interpretação de Lênin sobre o comunismo de Marx, é de um estágio superado pelo socialismo, leitura que assimilei desde o início dos anos 1990 em O Estado e a Revolução [448], o que os deixava bem distantes neste ponto. No entanto, logo reconheci que até 2006 (bitolado pela vida universitária) estava limitado a uma bolha de leituras enviesadas sobre fascismo e comunismo que atrapalhavam um processo de reflexão mais depurado para compreendê-los de uma maneira mais próxima de como realmente são.
Recordei o quanto fora proveitoso durante a pandemia mergulhar em textos originais de Mussolini, tendo maior relevância a leitura de Dottrina del Fascismo [449], e o quanto essa experiência me ajudou a identificar como Mussolini e Giovanni Gentille fizeram uma colcha de retalhos de suas novas crenças em favor do nacionalismo, da terceira via e do “uomo nuovo” para estabelecer uma sociedade revolucionária, corporativa, gravitando em torno do Estado, na coletividade crente que sua razão de ser está na submissão ao aparato e com muitos elementos utópicos que o primeiro tinha assimilado nos tempos de líder do Partito Socialista Italiano (PSI). Pensei também que o fascismo original morreu com Mussolini, mas isso não significa que seu espírito não vagou da Itália a percorrer o mundo procurando espaço propício para se adaptar às mudanças no passar do tempo, e o quanto esses espaços podem ser representados por ideias distorcidas sobre conservadorismo, o que impulsiona o problema dissonante que tive, acredito até 2007/2008, sendo o mais grave tocante ao tema: um resquício da caricatura apontada por João Pereira Coutinho da identificação entre “fascista” e “conservador” (p. 90).]
Fascismo e comunismo, aos olhos de um conservador, são revolucionários e utópicos; ambos ofertam paraísos por meio de uma “impiedosa destruição do presente”, como bem lembra o professor (p. 90). O conservadorismo, enquanto ideologia, é reativo e antiutópico (pp. 90-91), reformista e prudente, avesso a ideais utópicos, respeitoso sobre de onde veio, sereno sobre a imperfeição intelectual humana, sem degradar o “edifício” construído por “tradições úteis e benignas que sobreviveram aos diferentes ‘testes’ do tempo” (p. 91).
Apenas por um grave déficit cognitivo ou por segundas intenções (ideológicas) bem questionáveis, alguém pode argumentar que “fascismo” (na verdade, uma variante do original) estará sempre ao lado do conservadorismo.
446. 23/07/2023 13h40
447. 22/02/2022 23h30
448. 15/03/2022 23h00
449. 26/07/2023 22h58
27/08/2025 21h20
Imagem: Phateon

“Freud provou ser um pai excepcionalmente conservador no controle da vida social de seus filhos […]”
Obra: Deus em Questão: C. S. Lewis e Freud debatem amor, sexo e o sentido da vida. Sexo: A busca de prazer seria o nosso único propósito? Ultimato, 2005, Viçosa. Tradução de Gabriele Greggersen. De Armand M. Nicholi Jr. (1927-2017).
Trecho (p. 178) em que parei para pensar um pouco, mediante a sequência de dados sobre o conservadorismo de valores em Freud quanto à vida privada, em que o autor discorre no capítulo. Em seguida dei uma boa risada por recordação do segundo “fatídico” encontro da colega irmã calvinista com o colega judeu ateu da faculdade. Se não bastasse a recusa da providência divina em Jesus, ainda por cima era ateu, o que foi demais para a jovem que tinha um viés um tanto apologético missionário.
Ele muito inteligente, poliglota, amante da leitura e de uma paciência impressionante para escutar, atentamente se dedicou ao que falava a colega durante a aula de antropologia, sobre como um indivíduo, mesmo que pela cultura, ao “não acredita em Deus” pode ter alguma referência para defender valores e ser ético, o que para ela parecia inverossímil. O professor não quis polemizar, embora feita em sua direção, a pergunta foi uma provocação ao colega judeu ateu por conta do primeiro encontro que tiveram, quando o rapaz, dado o seu vasto domínio do hebraico, de leituras de obras sobre a história judaica e do que chamava de “lendas do povo judeu”, teceu comentários sobre a historicidade dos povos semitas, envolvendo o tipo hebreu, que deixaram a colega indignada por contrariar versões bíblicas. Foi por ele que comecei, em meados dos anos 1990, a considerar o problema da Bíblia conter diversas construções narrativas ideológicas, além da questão em torno da inexistência de Moisés, o que depois passou por conversas com outro judeu ateu, desta dez um professor, e terminou uma década depois no seminário teológico, sem traumas para a minha fé.
Nesta questão que se entrelaça com o trecho desta Leitura, muito tempo depois consegui reconhecer uma arrogância comum entre cristãos de viés fundamentalista: a de que possuem a chave restrita para o código moral que só pode ser experimentado pela fé que propagam. É um traço do exclusivismo. A colega não conseguiu enxergar (ou não queria?) que o ateu da turma era um exemplo de conduta moral que desmentia sua tese pois, para um desavisado, pelo comportamento, ele poderia ser facilmente confundido com um genuíno católico piedoso ou um legítimo evangélico tradicional. No entanto, era um ateu conservador, de linguagem livre de vulgaridade, cordial, prudente, muito bem educado, cujo pai, religioso, médico, parecia conviver bem entre o judaísmo de fé e o ateísmo do filho.
Então ele mencionou Freud sendo um exemplo de ateu com valores de moralidade, não pela irreligiosidade, mas, sobretudo no que cultivava na vida pessoal e na educação dos filhos. Segui nas recordações do colega judeu ateu dos anos 1990 quando li que Freud foi criado entre “famílias judaicas devotas, com rabinos entre seus familiares” (p. 174) e que embora ateu por empirismo (p. 22), tinha uma ética sexual digna de um religioso que mantem a virgindade intacta antes de se casar (p. 175).
Alertava sobre os problemas que a masturbação pode causar na saúde mental (p. 177). Fez o tipo pai (super?) protetor quando a filha Anna, a sua preferida, então aos 19 anos de idade, despertou o interesse de um jovem, Ernest Jones. Freud agradeceu pelo empenho do rapaz e o comunicou que fizera um acordo tácito com a filha para ela não casar naquela idade, talvez em mais 2 ou 3 anos; Anna ficou solteira pelo resto da vida (p. 179).
Freud teve bastante interesse pelo problema da “falta de valor dos seres humanos” (p. 213) e, neste ponto, sua visão era muito negativa. Essa relativa descrença na humanidade seria possível sem um apurado senso de moralidade? Contudo, destaco um ponto onde ele não escapou de uma grave intolerância que praticou na vida doméstica: não respeitou a religiosidade judaica da esposa, ao impedi-la de guardar o sábado (p. 176), o que me remete ao caso do ateu que se comporta como um religioso exclusivista, militante, não suportando nos outros outra visão sobre a vida que seja diferente da sua.
Quando entendeu que seis filhos bastavam na família, encerrou a vida sexual (tornou-se um homem casado sob abstinência) e chegou a afirmar que chega a ser “perversa” uma atividade sexual quando “desistiu do objetivo de reprodução para perseguir a obtenção de prazeres como objetivo independente disso” (p. 176), o que poderia ser facilmente confundido com o que costuma defender um tipo católico tradicionalíssimo [445].
445. Neste ponto também pensei em Teologia do Corpo, do papa João Paulo II, em referência ao recurso dos “períodos infecundos” em Humanae Vitae, 16. 19/09/2023 23h34.
26/08/2025 22h37
Imagem: BR
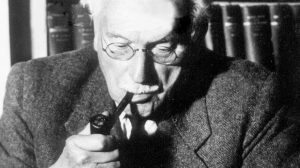
“Donde nos vem a crença, esta aparente certeza que conhecemos o bem e o mal?”
Obra : Civilização em transição. Obras completas de Carl Gustav Jung. XVI. O bem e o mal na psicologia analítica. [862]. Vozes, 2013, Petrópolis. Tradução de Lúcia Mathilde Endlich. De Carl Gustav Jung (Suíça/Kesswil, 1875-1961).
Jung aborda a relatividade de juízos. Por critério se pode definir o que é bom e mau. O que é considerado bom para um povo, pode ser mau para outro, sendo possível formar uma opinião sem saber, em última análise, se é válida, argumenta (p. 198).
Faz então analogia (inevitável) com o problema na estética; “uma obra de arte moderna pode representar para alguém um enorme valor, dispondo-se a pagar vultosa soma por ela.; outra pessoa pode nem se interessar” (p. 198).
Pensei em Alberto Caeiro quando em O Guardador de Rebanhos [443]:
Uma flor acaso tem beleza?
Tem beleza acaso um fruto?
Não: têm cor e forma
E existência apenas.
A beleza é o nome de qualquer coisa que não existe
Que eu dou às coisas em troca do agrado que me dão.
E do consolo que Umberto Eco encontrou sobre suas incertezas acerca do belo, pela definição de arte feita por Dino Formaggio:
“Belo é tudo aquilo que os homens chamaram belo” [444].
E parafraseio substituindo “belo” no final por “bem”, “mal”, “bom”, ruim”.
Subsiste apenas o relativismo? O certo e o errado, o bem e o mal são termos cujas definições objetivas se dão através da cultura, fenômeno onde o ser humano recebe conhecimento, educação, assimila costumes, tradições, senso de moralidade… Relativizá-los de forma geral é o que de fato inexiste no mundo real, pelo menos aos que não estão acometidos por algum transtorno psicológico extremo ou doença mental, enquanto é razoável entender que valores são essenciais ao funcionamento do ser humano e da sociedade. Então, quem afirma que “bem e mal não existem”, salvo no caso psicopatológico mencionado ou por omissão do “detalhe” do próximo parágrafo, carece de explicar, sobretudo a si mesmo, como consegue sobreviver em um mundo sem dispor de uma mínima referência de valores.
Mas existem ontologicamente bem, mal, belo, feio, certo, errado, etc…? Penso que não há como atestar mediante categorias dispostas nos limites da razão humana. Existem em si mesmos por abstração mediante o âmbito da fé de cunho religioso. Um crente diz tal coisa é “do bem”, aquilo é “bom”, isso é “belo”,… é “feio”, é “de Deus” ou do “dito cujo” não em termos da cultura onde se situa, mas de uma crença em uma ordem absoluta, independente, soberana… Aqui penso no complexo problema do mal metafísico quando perguntei a um professor de teologia sistemática (2007) sobre o mal considerado “ontológico”, então, sendo assim, qual seria a sua implicação para a natureza divina, sendo o “Sumo Bem” no sentido de se pensar em como se deu essa coexistência? Fiquei sem resposta, a não ser com os velhos e enganosos chavões teológicos que, penso, apenas atestam o quanto a razão humana, quando recorrida ao ontológico, é insuficiente. Daí resultam os embates teológicos que resultam tão-somente em um vazio intelectual.
Talvez por conta dessa limitação humana Jung chame de “presunção” definir o que é bom e mau para o paciente, em termos terapêuticos na psicologia, preferindo uma abordagem empírica (p. 200), dentro do contexto de cada um mediante “coisas práticas” (p. 202) e, dada sua indisposição até para abordar o problema pelo lado filosófico, destaco o que afirma sobre a realidade do bem e do mal consistirem em coisas, “situações que acontecem, que ultrapassam nosso pensamento, em que a gente está, por assim dizer, diante da vida e da morte” (p. 202). Vejo neste ponto uma humildade em Jung, o que muitas vezes falta no âmbito religioso quando se enverada para ditar regras a tudo e a todos sem a autocrítica devida acerca de saber se vive autenticamente determinado conceito que tanto apregoa.
443. 26/07/2025 12h22
444. Aos Ombros de Gigantes. Beleza. Lições em La Milanesiana 2001-2015. Gradiva, 2018, Lisboa, p. 37.
25/08/2025 22h06
Imagem: intrínsecos
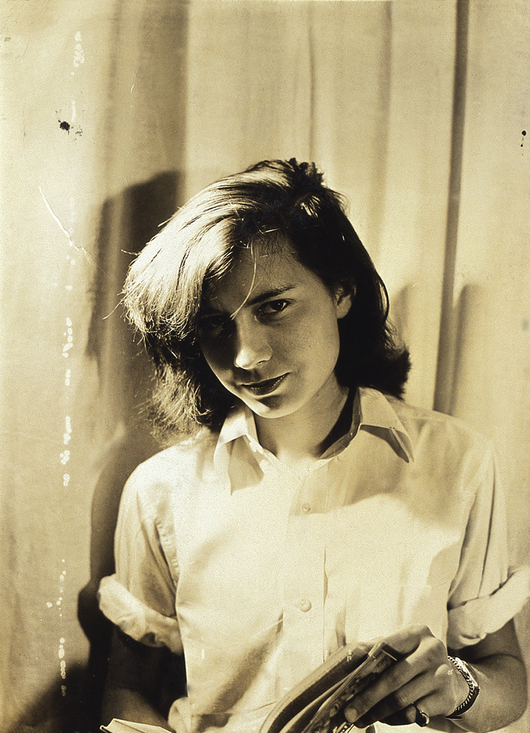
“Essa era a verdadeira aniquilação de seu passado e de si mesmo, Tom Ripley, que era um fruto daquele passado, e seu renascimento como uma pessoa completamente nova. […]”
Obra: O talentoso Ripley. Série Ripley – Volume 1. 14. Intrínseca, 2025, Rio de Janeiro. Tradução de José Francisco Botelho. De Patricia Highsmith (EUA/Texas/Fort Worth, 1921-1995).
O premiado The Talented Mr. Ripley foi publicado pela primeira vez em 1955.
Resolvi conferir o livro após assistir a uma adaptação pela Netflix (lançada em 2024), em forma de minissérie (Ripley) com Andrew Scott interpretando o golpista Tom Ripley, que me atraiu por conta do filme homônimo ao livro (1999) de Anthony Minghella (1954-2008), com Matt Damon (1970) sendo Ripley, e Jude Law (1972) no papel de Richard “Dickie” Greenleaf, o filhinho-de-papai que resolveu fugir da própria família e se estabelecer na fictícia Mongibello (p. 9), Itália.
O romance passa por uma cidade inventada, algo que também me atrai na literatura. Mongibello está em alusão a Positano, e assim Patricia Highsmith a insere em um enredo que vai de Nova Iorque e passa por Nápoles, San Remo, Roma, Palermo, Veneza…. Preciso apreciar Plein soleil (1960), outra adaptação para o cinema, com o lendário Alain Delon (1959-2024) sendo Ripley, que no livro se revela como uma excepcional construção de personagem; complexo pela amoralidade e extremamente desafiador para quem vai interpretá-lo, diferentemente de “Dickie” Greenleaf que, à mon avis, é um tipo quase óbvio, riquinho meio excêntrico e em conflito com certas banalidades da abastança em que nasceu.
O filme de 1999 trabalha um espírito mais bon vivant em “Dickie”, o que torna a interpretação de Jude Law bem mais alegre, e também sob uma índole do tipo irresponsável, somando-se ao perfil do talentoso ator para dar-lhe vida, enquanto o “Dickie” do livro tem um tom mais sereno, meio existencial, às vezes levemente pretensioso em relação à carreira de pintor, porque lhe falta talento (p. 69) enquanto servia para mantê-lo ocupado, com um certo senso de moralidade, algo que contrasta com o perfil utilitarista, de oportunismo frio, que molda Ripley. Um exemplo vi quando “Dickie” refuta (p. 100) a ideia de Ripley em fazerem juntos um trabalho para Carlo, um tipo comum ligado a atividade mafiosa na região, e novamente neste ponto, a série se revela mais próxima do bestseller.
A Marge Sherwood do livro é também mais perene em seu discreto empreendedorismo de escritora; aparentemente Marge e “Dickie” convergem na busca de um sentido existencial; ambos têm ares de certa modéstia em seus projetos, mas não estão conectados com a mesma intensidade no relacionamento amoroso. Já a Marge Sherwood do filme (Gwyneth Paltrow, 1972) se revela mais envolvida, mais temperamental, talvez para combinar com o “Dickie” modificado, boêmio e mulherengo do filme.
O Tom Ripley da série também está mais próximo do livro. O interpretado por Matt Damon tem muitas licenças poéticas e omissões. Uma omissão que me chamou a atenção no filme de 1999 está no perfil de vigarista que Patricia Highsmit construiu para Ripley nos anos 1950: um sujeito que trabalha com contabilidade (p. 10) e aplica um tipo de golpe envolvendo suposta dívida fiscal (p. 19) ainda muito comum nos dias atuais. Essencialmente está naquele e-mail em nome da “Receita Federal” que vem com uma notificação de uma “dívida no imposto de renda” e instruções para “regularizá-la” com alguma guia de recolhimento que remeterá o dinheiro para o golpista.
Há muitos “Ripleys” por aí … Patricia Highsmit desenvolveu em seu Ripley uma combinação de problemas existenciais e amoralidade, cujo resultado é um tipo de sociopata que pode ser encontrado no mundo real, até com certa facilidade.
24/08/2025 13h34
Imagem: Fundação Dom Cabral

“[…] A cada ano, mais e mais brasileiros se lançam à procura da mosca azul da política. […]”
Obra: O país dos privilégios. Volume I. 8. Privilegiados no palanque: Os políticos. Companhia das Letras, 2024, São Paulo. De Bruno Carazza.
Torno à provocante obra de Carazza onde no capítulo do trecho (p. 236) desta Leitura, o professor e escritor faz referência (p. 235) ao livro A mosca azul: Reflexão sobre o poder, de Frei Beto, com uma abordagem onde menciona o poema A Mosca Azul, de Machado de Assis [441].
A experiência de leitura me fez pensar em uma situação que deixei de trabalhar com um cliente [442], e em breve ocorrerá com outro que também se tornou uma “pessoa politicamente exposta” (PPE).
Pude perceber novamente o encanto da “mosca azul” e, em uma brincadeira (com um fundo de verdade), ao mais recente afirmei que agora ele tinha entrado para o time “dos que têm amigos poderosos”. Entre risos, logo após as demandas para o novo “grande cliente”, o humor virou quando comuniquei meu aviso prévio de 90 dias.
O cliente ponderou que não é político e não será candidato, no entanto, meu conceito diz respeito à dependência de um negócio em relação à política, e não necessariamente ao envolvimento direto do empreendedor (como candidato ou ocupante de cargo eletivo). Ficou claro que sua atividade contábil passará a viver em função de um político, e uma coisa é um empresário ser apoiador, fazer campanha, como qualquer cidadão, enquanto mantêm independente sua vida empresarial, outra é direcioná-la integralmente a uma relação de dependência de um político ou grupo partidário. PPE consiste então no empreendedor cujo negócio gravita em torno da política.
O cliente insistiu no “por quê?”. Com o tempo, descobri que trabalhar para político gera custos extraordinários e exige um tipo de disposição a qual me abstenho. É uma questão ética, cujo elemento ideológico é o que menos tem importância na seletividade, algo inerente a qualquer segmento. Em algumas ocasiões rescindi contratos com empresas sob diversas inconformidades e sem perspectiva de mudança na administração, com custos de suporte que anulavam um retorno financeiro satisfatório, além do prazer que busco no trabalho. Lembrei-me quando o próprio cliente fora seletivo em um caso quando, de forma ética, recusou empresas após realizar pesquisas onde identificou um longo histórico de problemas com o fisco (serve para diagnóstico fiscal e cálculo de custos para definir o pacote e a mensalidade), além de troca de contadores a cada dois anos e muitas anotações em serviços de proteção ao crédito (serve para avaliar o comprometimento histórico com obrigações financeiras). Foi quando o alertei que no meio político esse problema tende a ser maior por conta de indivíduos pautados no clientelismo de suas “conexões” a refletir uma sociedade relativamente passiva ao cultivo dos “jeitinhos”, da troca de favores, e de outras práticas questionáveis até chegar em problemas de corrupção. Assim como fora seletivo em várias ocasiões, eu também o sou e, em meu caso, por uma avaliação de risco que considera o tipo de cliente (PPE) um vetor para aumento de demandas que acarretam em custos de suporte (tangíveis ou não) acima do normal e com problemas de conformidade, os quais não estou disposto a tratar. Talvez o problema se relacione com alta insalubridade do meio, do ponto de vista ético, além do fator potencial à corrupção (não que o meio privado esteja livre desse problema).
Cada vez mais observo pessoas entrando na política para “melhorá-la”. Imagino que muitas estejam com boas intenções. Porém, não me surpreende um empresário com imenso histórico de problemas em sua administração privada e, de repente, ser vendido como um “modelo de gestor” para administrar uma cidade. Indivíduos que mal conseguem cuidar de seus pequenos negócios se propagam como aptos para uma cadeira parlamentar? A política tem um poder de sedução por ser um empreendimento que possibilita uma vida custeada com a riqueza alheia, de pagadores de impostos. Proporciona um padrão de renda superior em relação ao que se conseguiria fazendo gestão e consultoria de normas no meio privado (números da p. 236 talvez ajudem a entender quando comparados com os rendimentos médios da população pelo PNAD, p. 238), oferecendo diversas vantagens financeiras além do salário (pp. 240-242) e sob o rótulo de prestação de serviços essenciais à sociedade. Soma-se o cultivo da fama, da influência e do prestígio (p. 240), fatores que compõem um mote poderoso no que Carazza sintetiza em relação ao experimento do game do jornalista Eliot Nelson: “dinheiro, proteção e poder” (p. 240). Talvez isso seja um conjunto de elementos que ajudam a explicar o poder de sedução da carreira política ao verificar os números que o professor menciona sobre o aumento de candidaturas (pp. 236-237), além do acesso ao Fundo Partidário, que em 2022 alcançou a impressionante cifra de R$ 6 bilhões (p. 245), tudo pago pelos assim chamados “contribuintes”, além de que, uma vez no poder, a fiscalização sobre a prestação de contas do dinheiro dito “público” pode ser comprometida com “práticas não adequadas”, quem sabe absolvendo responsáveis por desvios do erário (p. 251).
441. 03/05/2025 14h16
442. Outro caso registrei em Übermensch: 25/05/2024 Contador na política
23/08/2025 14h06
Imagem: Planeta de Livros
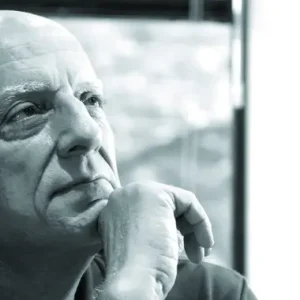
“Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar… Ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular.”
Obra: As melhores crônicas de Rubem Alves. Escutatória. Papirus Editora, 2012, eBook Kindle. De Rubem Azevedo Alves (Brasil/Minas Gerais/Boa Esperança, 1933-2014).
A Escutatória de Rubem Alves: inspiração que mudou o rumo do suporte
Em janeiro de 2022 parei de interagir com usuários de sistemas pelo WhatsApp, função que ficou exclusivamente com a Gioconda. A minha interação – humana – passou a ser realizada por vídeo conferência (preferencialmente), telefone ou chat do suporte remoto.
Levou um tempo para a adaptação minha e dos clientes, no entanto, a mudança um tanto radical se revelou muito proveitosa. Um dos fatores que a motivaram foi o comportamento comum de usuários no WhatsApp o qual chamo de “síndrome da onipresença” e ocorre quando se conversa com várias pessoas ao mesmo tempo, tratando de assuntos diversos. Exemplo: um cliente começa um assunto com uma pessoa A (pode ser um cliente dele), depois com outra pessoa, B (pode ser um assunto particular, com um familiar), e logo em seguida, comigo.
Vejo a “síndrome de onipresença” quando se tenta lidar, conversar, raciocinar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo; é o ser humano se comportando como se tivesse o atributo divino. É uma ilusão provocada pela pós-modernidade líquida, acometida da ideia de um imediatismo tecnológico que se tornou intolerante à capacidade real de uma pessoa em seu tempo de resposta, e desta forma se tenta lidar com assuntos diversos que geram diversos problemas não sequenciados, em uma aleatoriedade acumulativa que passa a ser tratada simultaneamente. Sendo o WhatsApp uma ferramenta de comunicação facilmente portátil, por um dispositivo móvel, os usuários podem facilmente se envolver pela crença de que estão instantaneamente acessíveis e que devem respostas imediatas aos seus contatos como sinal de “eficiência”.
Um exemplo: em 2019 uma cliente estava levando, em média, 5 minutos para responder questões simples (sim, não), e no final, ela informou, em um pedido de desculpas, que estava na “academia” enquanto dava retornos pelo aplicativo (alegou que “não tinha mais tempo para nada” e “não iria deixar de cuidar da saúde por causa do trabalho”), então entre uma bateria e outra de exercícios, espiava um pouco o WhatsApp e respondia alguns “na medida do possível”.
Em outro caso (maio de 2021), um contador alegou que não podia falar pelo Zoom ou telefone durante o atendimento agendado porque estava atendendo “uma cliente muito exigente” pelo telefone, mas poderia “conversar normalmente pelo WhatsApp”. O problema que precisava resolver comigo: uma validação do Sped Contábil de uma empresa no Lucro Real, com mais de uma dezena de erros. Ele realmente acreditava que podia fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tratar de outro assunto com uma cliente pelo telefone e ficar apenas no chat lidando com questões de Sped Contábil. Obviamente, não deu certo.
Desconfio que esse estilo de uso do WhatsApp seja um exemplo de como a tecnologia má aplicada pode ser prejudicial à saúde mental, retroalimentando imediatismo, tornando usuários escravos de aplicativos sob a crença ilusória de que estão sempre ativos, próximos, de maneira que o sentido de eficiência depende de respostas instantâneas, o que contribui para outro problema, desta vez bem definido na psicologia moderna: o transtorno de ansiedade.
Ao perceber que a “concorrência” com outros diálogos no WhatsApp comprometia gravemente a atenção do cliente ao problema tratado no suporte, encontrei uma das causas da baixa produtividade de meu atendimento em determinadas situações. Por análise métrica comparativa, atestei que a conversa por texto tendia a provocar alongamento desproporcional do tempo consumido em cada suporte, onde um assunto que poderia ser resolvido em 10 minutos por voz, em tempo real, estendia-se demais e congestionava a fila de atendimento. Foi então que decidi deixar de atender pessoalmente pelo WhatsApp, mas percebi que apenas isso não era suficiente e tinha que ser acompanhado de outra medida, igualmente radical.
Meu suporte lida, não raramente, com questões razoavelmente complexas de legislação, sistemas, investimentos, lógica de programação e integração de bases de dados. Percebi que precisava criar um modelo de desvio ou o que a psicoterapia chama de “distração” para trazer o cliente para um nível próximo dos 100% de atenção ao suporte. Perseguindo um novo modelo, ainda em 2020 e 2021, durante a pandemia, realizei trabalhos experimentais de suporte com vídeo conferência em modo exclusivo com alguns clientes da contabilidade no Lucro Real (LR), e a novidade se deu por um insigth que surgiu em uma viagem de trem [440] quando me deparei com a Escutatória de Rubem Alves e compreendi que precisava encontrar uma forma de atrair a atenção dos clientes com perfil de questões mais complexas. O texto me revelou a chave: simplesmente dar-lhes ouvido, escutá-los de maneira que percebam isso como um esforço que faço em seu favor, para uma resolução mais rápida e eficiente de um assunto mais complexo.
A vídeo conferência combinada com suporte remoto passou a ser concebida como um trabalho de romper com a correria para ouvir melhor o cliente, em algo infinitamente superior a uma conversa por chat. Todos os clientes de contabilidade de LR com demandas de maior grau de complexidade entenderam a proposta. Com bons resultados, decidi torná-la padrão a partir de 2022. Destarte virou regra que passou a ser oferecida a todos. A exceção reside em casos de suporte em prioridade, menos complexos, para tarefas específicas, sem Zoom, em horários determinados, pelo remoto e sem WhatsApp, que fica apenas para notificações sempre controladas pela Gioconda.
E eis que alguns pensavam que ir para o Zoom significava ter que ouvir uma palestra (talvez porque essa formidável ferramenta seja muito associada a eventos online). Tive então que demonstrar que o Zoom no suporte é um recurso para conversar comigo normalmente, como se estivesse ao meu lado.
Quando expandi o modelo, no início não foi fácil. Uma cliente ilustrou a dificuldade em janeiro de 2022: ela insistia em conversar apenas pelo WhatsApp, apesar de estar em um agendamento onde fico uma hora exclusivo com o cliente, exigiu a volta para o método antigo, pois “é mais prático”, argumentou.
A Gioconda retornou: “para conversar com o suporte humano, por favor utilize a sala Zoom”.
Ela insistiu: “É rapidinho, por aqui mesmo”.
Gioconda: “o suporte humano está disponível na sala Zoom”.
Após quase 10 minutos brigando com a robô, ela se deu por vencida e acessou a sala.
O problema “rapidinho” só foi possível de ser identificado, com precisão, através da escutatória: enquanto pelo chat do WhatsApp ela informava que não sabia por que “a folha no eSocial estava sem os impostos patronais”, ao entrar, escutei logo uma reclamação por ignorá-la no WhatsApp, em seguida informei que o novo método de atendimento foi disponibilizado para entender melhor a sua demanda, para “escutá-la” com melhor atenção.
No Zoom incentivo o cliente a falar, a expor suas demandas e alguns já chegam com uma pauta. A escutatória se alimenta da disposição para ouvir e abre uma porta de melhor entendimento da realidade do outro. Via de mão-dupla, um escuta o outro. Faço perguntas pontuais e vou tomando nota, registrando as microtarefas, e foi assim que o dialogo fluiu rapidamente e revelou que os S-1200 dos 54 empregados foram enviados com o S-1000 no código 01 (SIMPLES) quando a empresa tinha sido excluída e precisava de uma série de procedimentos (reabertura, ajuste do S-1000, ajuste do S-1005, ajuste do S-1020, remoção dos S-1210 para retificação dos S-1200). Também pela escutatória entendi que a cliente não sabia o básico do funcionamento do eSocial (a DCTFWEB tinha se tornado obrigatória ao grupo 3 em outubro de 2021), então decidi por um treinamento imediato sobre conceitos de incidência tributária no eSocial.
A escutatória mudou o rumo do suporte, sendo uma inspiração que o reinventou; um santo remédio para a “síndrome da onipresença”. Eu tenho que ser o primeiro a dar o exemplo de maneira que jamais interrompo a sessão para tratar outro cliente (é a razão da exclusividade naquela faixa de horário). No entanto, para que funcione é necessário um “silêncio da alma”; uma disposição para ouvir o outro “sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer” (p. 126). Evitar ao máximo interrompê-lo para fazer uma intervenção construtiva. Na medida em que o cliente vai falando, o seu mundo, a sua realidade vai se tornando menos distante, menos opaca pela minha janela, assim rompendo com a desumanidade de conversas que se dão apenas por texto.
Desde 2020, e sendo regra desde 2022, o método de exclusividade no Zoom passou a ser visto por clientes, sob demandas mais complexas, como um recurso indispensável; não aceitam mais atendimento apenas por remoto. Há casos em que o atendimento serve para o desabafo de proprietários e escritórios e profissionais sob esgotamento mental. No mais, sou a parte mais beneficiada, pois ouvir os clientes humaniza o suporte, gera uma imensa base de aprendizado e é indispensável para uma melhor análise e tomada de decisões.
440. Foi em janeiro de 2020, no TGV Milão-Paris em meu recesso. Estava pensativo sobre a qualidade de meu suporte enquanto pude ler bastante no caminho porque acontecia uma greve que fez a viagem de 7,5 horas virar quase 12. A beleza da Escutatória de Rubem Alves surgiu tão sublime como a neve dos alpes que apreciava pela janela e veio com uma releitura de seu significado.
22/08/2025 22h23
Imagem: The Capital Advisor

“A purely capitalist world therefore can offer no fertile soil to imperialist impulses. […]”
Obra: Imperialism and Social Classes. The Sociology of Imperialism. Imperilism and Capitalism. A Meridian Book, 1955, Cleveland. De Joseph Alois Schumpeter (Império Austro-Húngaro/Tchéquia/Třešť, 1883-1950).
Schumpeter foi um dos raros momentos em que a pauta desenvolvimentista foi deixada um pouco de lado na graduação em economia, lá pelos idos dos anos 1990. A “destruição criadora” [438] , com suas “perturbações”, além de empolgar um colega de sala, o qual passei a chamá-lo pelo nome do autor, deram um tom diverso ao que conhecia acerca de teorias econômicas entre os clássicos e a então “heterodoxia” do lorde Keynes, enquanto alguns da Escola Austríaca (apenas Carl Menger e Hayek, pelo que recordo, enquanto Mises foi totalmente ignorado) eram mencionados brevemente, como notas de rodapé. Nesse ponto Schumpeter chamou mais minha atenção por não ser da EA, nem das escolas mais conhecidas, enquanto é razoavelmente mencionado por todas.
Um mundo “puramente capitalista” lembra o ceteris paribus em abordagem econômica; não é verossímil, contudo é levado a sério para explicar determinado conceito. Também lembra como o inverso – um mundo “puramente socialista” – é utópico. Schumpeter discorre que um capitalismo puro implica que “a energia para a guerra se torna simplesmente energia para trabalho de todos os tipos”. As características desse ambiente “não pode oferecer solo fértil para impulsos imperialistas”, sendo que essa sociedade (utópica à mon avis) “provavelmente terá uma disposição essencialmente não belicosa”, porem, “isso não significa que não possa ainda manter interesse na expansão imperialista”, argumenta (p. 69).
O avanço do capitalismo implica no avanço da democracia — no sentido “burguês” — aponta (p. 70). Penso aqui na aproximação dos Estados Unidos com a China, como sombra desta tese, ocorrida nos anos 1970. Também penso na abordagem de Olavo de Carvalho [439] ao propor uma solução para a contradição do binômio capitalismo-democracia, mediante o fato chamado Império Americano, visto normalmente como grande referência de sociedade bastante capitalista. Outra recordação tenho do mesmo colega judeu ateu (da Leitura de ontem), que inseriu um problema delicado nessa relação ao apontar o longo histórico de ofensivas do “capitalista” Império Britânico na África e na Índia, subjugando povos, escravizando e espalhando o terror belicoso sobre os que resistiam, se bem que é justo considerar a ressalva do próprio Schumpeter de que o imperialismo continua, de certa forma, também quando aponta se aprimorou no sentido de estar “cuidadosamente escondido da vista do público” (p. 71), indicação que se afasta do primeiro ponto quando afirma que “em todo o mundo do capitalismo, e especificamente entre os elementos formados pelo capitalismo na vida social moderna, surgiu uma oposição fundamental à guerra” e tal oposição “teve sua origem no país que primeiro se tornou capitalista — a Inglaterra” (p. 70).
Penso hoje que uma chave para entender um fenômeno de Império não esteja necessariamente na economia; seja no “capitalismo” ou no “socialismo”, talvez o alargamento geopolítico de um aparato estatal explique melhor, sendo caso notório o fenômeno da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética.
438. 11/06/2023 13h58
439. 18/08/2025 22h01
21/08/2025 22h37
Imagem: Deutsches Ärzteblatt
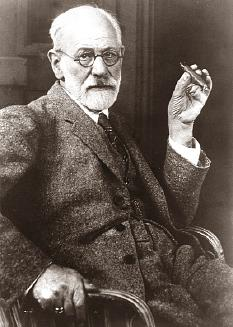
“Pois essa situação não é nova; ela tem um modelo infantil, e é, na verdade, apenas a continuação de uma situação antiga, pois uma vez o homem já se encontrou em tal desamparo […]”
Obra: O futuro de uma ilusão. III. L&PM Editores, 2010, eBook Kindle. Tradução de Renato Zwick. De Sigmund Freud (Tchéquia/Příbor, 1856-1939).
Torno ao livro de Freud que me remete a duas recordações.
A primeira vem de um colega no início da vida universitária (1994) que era judeu e ateu. Ele tinha um senso lógico extraordinário e, de certa forma, quando estudei esta obra, quase dez anos depois, em vários momentos seus argumentos tornavam como se ele estivesse conversando comigo, talvez porque me repassou alguns conceitos abordados por Freud os quais, à época, eu não tinha o menor preparo para compreendê-los.
Não desenvolvi ateísmo. Um professor de economia internacional (2001), que também era judeu e ateu, notou a resistência de minha fé em Cristo e comentou que, apesar de eu ser uma pessoa com “todas as ferramentas para desconsiderar o sobrenatural, tudo indica que (eu) seja da categoria dos que simplesmente não conseguem deixar de crer”. Achei curioso e engraçado. Quanto a isso, tive alguns colegas ateus em que notei um relacionamento melhor em comparação com os que tinha com os considerados crentes. As conversas com ateus normalmente eram mais inspiradoras, dialéticas, do ponto de vista da perspectiva de enlevo intelectual, enquanto nos círculos de fé religiosa notava um tédio; eram bem mais enrijecidos, quando não totalmente fechados a revisão dos próprios conceitos e, muitas vezes, por isso, não escapam da disseminação de distorções cognitivas e preconceitos. Outro ambiente dogmático essencialmente parecido com o de igreja é o de grupo ou partido político.
Minhas experiências não significam ou atestam que um indivíduo será mais inteligente se for ateu; tão-somente os ateus que conheci eram abertos ao cultivo da dúvida coisa que me fascina, chave para o aprendizado, além de que não atuavam como “militantes”, tentando conduzir pessoas à descrença no divino. Observei ateus militantes e constatei que são tão dissonantes e preconceituosos quanto ao tipo fundamentalista bíblico evangélico. Minhas experiências também não concluem que todo religioso tem problemas cognitivos e/ou é preconceituoso. Conheci pessoas no meio religioso de admirável cultura e espírito crítico, no entanto, predomina no ambiente de igreja local um senso de apego a doutrina que impede avanços no conhecimento pela apreciação da dúvida e foi por isso que entendi que minha personalidade é incompatível em um meio dessa natureza.
A segunda recordação vem do tempo de seminarista (2005) e se relaciona com o trecho (p. 31) desta Leitura. Muitas vezes, ao pensar nas pessoas que frequentavam as igrejas, parava para meditar sobre o desamparo que percebia nelas e como a experiência de fé, de certa forma, lhes dava um suporte para lidar com uma difícil realidade. Pensava também em meu próprio desamparo diante dos problemas existenciais. Parece que nenhum mortal consegue escapar dessa condição. Teve um caso em particular que me deixou bem mais pensativo: uma senhora sexagenária, muito pobre, com o marido terminal no Hospital do Câncer, havia pouco tempo perdido um filho, e o outro “descasado” e constantemente desempregado, além de um neto mergulhado nas drogas. Em meio a um cotidiano em que deixava transparecer uma profunda tristeza, ela estava lá, na igreja, mas em outros momentos louvava e engrandecia “o nome do Senhor”, com uma alegria contagiante, e eu ficava muito pensativo, em especial quando ela se referia ao divino como “Pai” com um semblante que sugeria uma carga emocional maior, quando então pensei sobre a questão que Freud trata sobre o desamparo que segue pela vida do ser humano com suas raízes na infância, sobretudo na figura paterna, sendo algo “filogenético” (p. 32) que trabalha pela reconciliação com a vida em meio a “crueldade do destino”, onde o cultivo de ideias religiosas, na vida adulta, toma uma forma de busca infantil por um alívio.
O capítulo é aberto com uma indagação sobre em que reside o valor especial das ideias religiosas (p. 29). Apresenta a natureza que “se subleva contra nós” (p. 30), penso, com sua força que mostra nossa pequenez, cuja morte é o momento mais contundente. A vida “é difícil de suportar” (p. 30), reconhece, e eis que o ser humano é assistido pela cultura para lidar com esse fato. A cultura humaniza a natureza (p. 31) e neste ponto, residem as crenças religiosas que convergem a algo psicológico em favor de um alívio (p. 31).
Freud tem uma abordagem curiosa para os milagres; os deuses que fizeram e deixarem correr por si o mundo natural, de vez em quando precisam interferir em seu rumo (p. 32), diante da suspeita que o desemparo humano não pode ser remediado, superando o problema dos antigos com a moira, a fatalidade, cujo desenvolvimento da ideia do divino alcançou o conceito de atribuir à tarefa divina a compensação das falhas e dos danos da cultura, atentando-se ao sofrimento humano e cuidando para que sejam observados determinados preceitos culturais, elevados à categoria das coisas divinas, acima da sociedade, da natureza, das coisas do mundo (p. 32), compondo um “patrimônio de ideias” (p. 33) para tornar suportável o desamparo no ser humano.
Seria a experiência religiosa de caráter utilitarista, uma coisa restrita a busca de um alívio para o viver que é “náusea” (pensei aqui em Sarte, en passant).
Pela cultura se conhece a religião, mas essa experiência se limita ao âmbito cultural ou pode transcender?
O alívio que a experiência de fé proporciona se restringe ao emocional ou pode atingir uma condição além dos limites da química atuante no corpo humano?
Questões que até hoje penso, onde a leitura de Freud, apesar de ateísta, contribuiu de certa maneira.
20/08/2025 22h10
Imagem: confindustriaemilia.it
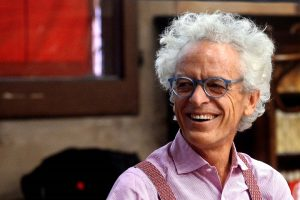
“.[…] La morti per overdose superano le vittime degli incidenti stradali o delle armi da fuoco. […]”
Obra: America. 7. La sanità piu folle del mondo. E anche la migliore? Solferino, 2022, Milano, Kobo. De Frederico Rampini (Italia/Genova, 1956).
Torno ao livro do correspondente italiano.
Com residência desde 2000 nos Estados Unidos. Rampini abre o capítulo a ilustrar o que posso chamo de “lenda urbana”: um sujeito em Manhattan precisa de um serviço médico de urgência, a ponto de perder a consciência, quando então um sujeito de jaleco chega com uma maca e uma pergunta atroz: Visa ou Mastercard?
Apenas um conto falso em forma de pesadelo, assim como também falso é o entendimento que muitos europeus têm sobre quem, por exemplo, sofre um acidente em Nova Iorque e fica entre a vida e a morte, quando então um serviço de ambulância chega e antes de realizar o recolhimento para um pronto-socorro, verifica se o indivíduo tem seguro ou cartão de crédito (p. 263).
Os serviços médicos de urgência nos Estados Unidos são realizados sem verificação de solvência, no entanto, o paciente sem fundos suficientes para quitá-los, sendo curado, pode adoecer novamente, quem sabe de depressão, com as dívidas (p. 265). Não sendo caso de urgência, o atendimento é condicionado a verificação prévia quanto à cobertura de seguro ou à garantia de pagamento mediante cartão de crédito (p. 266).
O que me chamou mais atenção nesta Leitura foi o que destaquei no trecho (p. 274) quanto o número de mortes por overdose (70.000) superar nos Estados Unidos (2017) os casos de acidentes de trânsito e arma de fogo. Há nos Estados Unidos um problema crônico nos últimos anos mediante o aumento de suicídios, além dos falecimentos por consumo de drogas ou medicamentos que provocam dependência (p. 273).
É natural que o sistema de saúde nos Estados Unidos seja algo inaceitável para o brasileiro acostumado com o SAMU e o SUS, apesar dos problemas, e o europeu com opções de serviços estatais ou subsidiados de qualidade razoável, dentro da concepção do estado de bem-estar social que predomina no Velho Continente. O sistema de serviços médicos na América é caro e implacável com o endividamento de pacientes quando preferem melhor qualidade, dada sua maior ênfase em cobertura privada atrelada ao nível de eficiência do meio privado que as opções estatais não conseguem atingir. O Medicaid é estatal, porém de qualidade inferior, e o Medicare é destinado a idosos com histórico laboral e contributivo (p. 267), o que lembra o antigo Inamps que vigorou (1977-1993) no Brasil.
Conversando com um colega que se considera “liberal” e defensor ferrenho da privatização de todos os serviços médicos, fui cobrado pelo meu silêncio mediante contra-argumentos de um interlocutor progressista. É o tipo da questão de uma complexidade imensa e fiquei limitado a comentar como um sistema totalmente privado em uma sociedade de mercado seria capaz de atender satisfatoriamente quem é pobre e assim não dispõe de meios financeiros para pagar por um atendimento de urgência em procedimentos que são onerosos. Foi apenas uma pergunta que acabou sendo (indevidamente) interpretada como se fosse uma defesa do SUS, inclusive pelo progressista. Penso que se trata de um problema na categoria das discussões onde viés ideológico pode atrapalhar muito mais do que contribuir. Quem sabe uma combinação de ciência com humanismo ajude a superá-lo onde talvez não seria o sistema privado ou estatal a resolver em si, mas a sociedade munida de valores que transcendem o “economicismo”.
19/08/2025 21h59
Imagem: Women in Horticulture

“O ser humano, por mais que finja o contrário, é parte da natureza. Será que ele conseguirá escapar de uma poluição que agora está tão amplamente disseminada por nosso mundo?”
Obra: Primavera Silenciosa. O Preço Humano. Gaia, 2013, São Paulo. Tradução de Cláudia Sant’Anna Martins. De Rachel Louise Carson (EUA/Pensilvânia/Springdale, 1907-1964).
A primeira referência a este livro vem de 1997. Eu e ZW estávamos a caminho da Fundação Gilberto Freyre quando, nas imediações da Praça do Monteiro, comentou que eu não parecia bem (foi o ano mais difícil de minha vida) e sugeriu que completássemos o trajeto com uma caminhada. Havia pouco tínhamos deixado um de seus colaboradores em um escritório de advocacia, incumbido de entregar um laudo para compor um processo contra uma indústria que estava despejando resíduos em um riacho que passava em sua propriedade rural.
Na caminhada até a Fundação, explicou que um pequeno volume do riacho era bombeado por ele e vizinhos a um plantio comunitário de hortaliças sem agrotóxicos, apenas para subsistência, o que para muitos servia também de terapia. Após tentar um acordo amigável com a empresa, sem êxito, decidiu processá-la, quando então comentou que “diante da natureza, a estupidez humana parece não respeitar limites” para em seguida, “resenhar” esta obra de Rachel Carson; “é indispensável, se uma dia você elaborar uma lista dos 100 livros mais importantes de sua vida, anote aí, a Primavera Silenciosa certamente estará nela”, afirmou. ZW estava certo. A partir de 2008, sem a correria de faculdades e seminário, pude reorganizar minha vida de leitor e desde então, até os dias atuais, minhas noites no segundo andar são priorizadas a esta atividade, que é terapêutica. A Primavera Silenciosa (1962), além de ser um marco na defesa do meio-ambiente, assim se tornou também em minha trajetória com os livros. Fiquei perplexo com a riqueza de detalhes em que Rachel Carson esmiúça os efeitos da ação tóxica da espécie humana sobre si mesma, visto que é parte da Natureza (p. 224), obviedade normalmente “esquecida” e a conta dessa estupidez é inevitável.
Em 2018 conversava com um bolsonarista sobre críticas (bem embasadas) de ambientalistas aos agrotóxicos e parafraseei o trecho desta Leitura por recordação de outra tradução, a do primeiro contato que tive com a obra: “O homem, por mais absurdo que pareça, insiste na tolice de viver como se não fizesse parte da Natureza, quando na verdade ao poluir o meio-ambiente, agride também a si mesmo”. O interlocutor sugeriu que eu me juntasse aos “esquerdistas” de Marina Silva, desejou-me “boa sorte” sem os produtos químicos que aumentam a produtividade no campo e matam a fome pelo mundo. Como recebi uma recomendação, deixei uma questão sobre como alguém que se declara “conservador” não consegue levar a sério os problemas ambientais, esvaziando-se de uma ética de conservação do mundo natural, quando então devolvi a “gentileza” com a mesma sugestão de leitura que recebi em 1997.
18/08/2025 22h01
Imagem: flickr

“[…] a dinâmica imperial dos Estados Unidos não provêm de causas econômicas […]”
Obra: O Jardim das Aflições. De Epicuro à ressureição de César: ensaio sobre o Materialismo e a Religião Civil. Capítulo 10. Na Borda do Mundo. §33 O Retorno ao MASP e ingresso no Jardim das Aflições. Vide Editorial, 2015, Campinas. De Olavo Luiz Pimentel de Carvalho (Brasil/São Paulo, 1947-2022).
Entendo que é a obra mais importante de Olavo de Carvalho.
Na visão do filósofo brasileiro, as causas são “intelectuais, culturais e políticas”, o que resolveria a contradição apontada por Joseph Schumpeter entre imperialismo e capitalismo democrático (p. 370). Em minha vida de leitor, entendi que é mais importante refletir sobre as ideias trabalhadas pelo autor, tentando extrair alguma sabedoria, do que tentar apenas refutá-las, sobretudo por viés ideológico.
O Estado leigo norte-americano, desde o seu nascedouro, representa uma revolução pela síntese das contradições entre “sacerdócio” e “aristocracia”. Une duas forças históricas até então restritas a um entendimento que as concebia como antagônicas e até inconciliáveis. Então, esse império moderno se destina ao papel de representar a realização de uma “solução final” entre a autoridade espiritual e o poder temporal, de maneira que instaura a “religião de César” (p. 371).
Ao não entender o fenômeno gigantesco da dinâmica imperial dos Estados Unidos, a Intelligenzia mundial, conclui Olavo de Carvalho, “foi arrastada sem se dar conta, e mesmo contra a sua intenção, a engrossar a poderosa corrente da Revolução Americana” (p. 371). Nessa concepção, o Império Americano tem características que o tornam capaz de fazer seus inimigos agirem a seu favor quando pensam que estão no sentido contrário. E a intelligenzia brasileira, a seu modo, também não escapou dessa armadilha enquanto pensa servir aos velhos ideias, onde Olavo de Carvalho aponta como exemplo, em miniatura, da pauta ideológica em torno do ciclo de Ética no MASP (de onde inicia esta obra), referenciada na filosofia de Epicuro e, essencialmente sob o pano de fundo da “luta de classes”, a lembrar também das raízes epicuristas do marxismo (p. 366).
Não me atenho ao contexto político em que Olavo de Carvalho discorre em seguida, onde aponta como essa ética foi aplicada domesticamente pelo PT para fomentar a derrubada de Collor e promover a massificação de uma agenda para que Lula superasse o revés sofrido nas eleições de 1989. Fico restrito à tese sobre a Revolução Americana representar um estágio superior em relação às tentativas de restabelecimento do Império Romano que fracassaram (p. 367), na potencialidade de incorporar o ideal de império leigo “arrastando na sua torrente todas as forças intelectuais e políticas que, de uma forma ou de outra, acaba por colocar involuntariamente a seu serviço” (p. 369), o que me fez pensar no acontecimento de hoje na Casa Branca, na congregação provinciana das maiores lideranças europeias em torno de uma agenda que tão-somente vem sendo ditada pelo Império nos limites de sua jurisdição.
17/08/2025 12h09
Imagem: BBC

“The debate over appeasement – the attempt by Britain and France to avoid war by making ‘reasonable’ concessions to German and Italian grievances during the 1930s – is as enduring as it is contentious.”
Obra: Appeasing Hitler Chamberlain, Churchill and the Road to War. Preface. ‘Never Again!’. Vintage, 2020, London. De Timothy Pleydell-Bouverie (1987).
Trump e Putin pela “paz” – por pastor Abdoral Alighiero
Do alto da montanha vejo o romântico encontro de Trump e Putin no Alaska, com direito a tapete vermelho e tudo… esforço pela “paz” que me trouxe à baila esta obra do historiador britânico Tim Bouverie.
Cá com meus botões e amigos silvestres… preciso de uma releitura da doutrina do “appeasement”; a original terminou carimbada como uma panaceia do Reino Unido e da França para tentar evitar uma nova guerra mundial, cedendo territórios ao patriota-genocida Hitler, tendo como maior referência o que foi assinado em Munique em 1938. O Lebensraum nazista fazia sentido um pouco diverso do que hoje acontece com a Rússia. A “operação militar especial” do Kremlin envolve dois aspectos: em uma federação com muito território para poucos habitantes, sob baixa densidade populacional, haveria outro interesse maior do que as terras raras da Ucrânia? Um pouco menor talvez seja o segundo ponto, embora bem mais notório, e reside na criação de um Stato cuscinetto diante do incômodo militar russo com a presença muito próxima de bases da OTAN em relação às fronteiras, além de uma psicologia coletiva que faz de Putin uma consequência, e não uma causa, cuja abordagem de Dario Fabbri em Non chiamatela Guerra di Putin, parece-me bem oportuna [433].
Bouverie apresenta uma visão curiosa em relação aos críticos que apelam ao que aconteceu no apaziguamento a Hitler e se revelou ineficaz nos anos 1930, de que “as chamadas lições do período foram invocadas por políticos e especialistas, particularmente na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, justificando uma série de intervenções estrangeiras – na Coreia, Suez, Cuba, Vietnã, Malvinas, Kosovo e Iraque (duas vezes) – enquanto, inversamente, qualquer tentativa para se chegar a um acordo com um antigo antagonista é comparada, invariavelmente, comparada ao infame Acordo de Munique de 1938” (xii).
De fato, o “appeasement” dos anos 1930 pode ser usado para fazer desacreditar qualquer negociação com vistas a evitar um conflito armado. Bouverie também lembra que Neville Chamberlain foi invocado por conservadores americanos contra o acordo nuclear do presidente Obama com o Irã, e que o tema ganhou destaque no Ocidente diante da ofensiva russa na Ucrânia (xii). A ironia é de que Trump saiu do neoconservadorismo americano e propõe um acordo aparentemente dessa natureza, enquanto Putin segue nos bombardeios, e não necessariamente pelo que Trump afirma para os de fora, e sim porque pode ter uma intenção totalmente distinta (por exemplo, as terras raras), mas os que acreditam no “apaziguamento” em si, como Trump sendo o mediador da “paz”, ignoram a falta de um cessar-fogo imediato para seguir com as tratativas, e assim superam em ingenuidade (para não dizer outra coisa) até mesmo o comportamento de Chamberlain que, ao perceber que Hitler seguia na escalada, condicionou uma nova rodada de negociações à retirada das tropas alemãs da Polônia (p. 3).
Ceder território em troca de uma paz duradoura seria a solução no caso Rússia-Ucrânia? Em Winston Churchill: A Biography [434], pode-se verificar como o “apaziguamento” foi usado por Hitler para avançar nas ocupações territoriais e na escalada militar, enquanto provocou uma crise no governo do primeiro-ministro Chamberlain; Bouverie discorre sobre o que resultou na perda de apoio do Partido Conservador (p. 5), dando fim ao governo da paz a todo custo, para abrir caminho para o governo reativo com Winston Churchill. O “apaziguamento” versão Trump-Putin está em um contexto bem distinto. Ecoa de uma sala de espera para algo maior acerca de quem manda no mundo. Olavo de Carvalho tem uma leitura interessante sobre os três blocos que convivem nesse propósito, algo que pode dar uma visão melhor sobre o que estaria em andamento. Penso que corre uma guerra global de conflitos armados por procuração e sanções que espelham o tabuleiro dos que se apossaram do mundo, mas o bloco ocidental pode ser o maior responsável pela crise Rússia-Ucrânia, pois tocou fogo no parquinho há muito tempo, desde os anos 1990, ao promover a presença da OTAN no Leste, quebrando promessa a Gorbachev na falência da União Soviética, o que alimenta o belicismo proativo da Rússia. O bloco sob a batuta da Casa Branca dá sinais de debilidade social e econômica, e assim o bloco sino-russo parece que decidiu tomar proveito da situação para vence-lo de uma vez; resta saber como vão reagir os partidários do terceiro bloco, o da Fraternidade Muçulmana, caso as negociações nessa sala de espera descambem para uma terceira guerra mundial [435].
Se for um “eterno retorno” (mando lembranças ao irmão Nietzsche), então resta saber quem faria o papel de Churchill nessa história, bem como ao ver Putin todo sorridente convidando Trump para ir a Moscou, sutilmente me lembrei do Pacto Ribbentrop-Molotov 23/08/1939 [436]; parece uma sombra do que fizeram nazistas e comunistas com um acordo de não-agressão mútua que deixou o mundo dito “civilizado” boquiaberto, de liberais bestializados a idiotas úteis membros da poderosa igreja internacional da fé socialista, para em 22/06/1941 (Operação Barbarossa), o psicopata-nacional-socialista repetir o roteiro de quebrar o que assinou na invasão de territórios da União Soviética, se bem que há quem pense que o seu maior concorrente em praticar genocídio, Stalin, estaria por trás de um plano mirabolante de ação sobre a Europa que teria induzido ou manipulado o nazi-bigodudo a cometer o erro de mover tropas para tomar o Leste, como se pode verificar em O Grande Culpado, de Viktor Suvorov [437]. Para resumir este terror perene na humanidade, vendido em conto da carochinha para quem tem esperança nas “boas intenções”: o tabuleiro político é o melhor exemplo para explicar que não existem bem e mal, mocinho e bandido, e sim o eterno retorno da luta incessante pelo poder.
E de eterno eterno em eterno retorno, a “ingenuidade” também não poderia ficar de fora, apresentando-se para a “lua-de-mel” desse indigesto par romântico Trump-Putin com as “damas de honra” da Europa.
433. 12/11/2022 23h32
434. 13/02/2024 11h14
435. 11/07/2025 22h57
436. 06/06/2023 22h20
437. 29/05/2024 22h14
16/08/2025 13h53
Imagem: SWR

“Distração significa concentrar a atenção não em meus sentimentos e problemas, mas no mundo exterior.”
Obra: Acolhendo sua criança interior. Capítulo 16. Das estratégias de autoproteção às estratégias de reflexão. Encontre o equilíbrio entre reflexão e distração. Sextante, 2022, Rio de Janeiro. Tradução de Maurício Mendes e Vanessa Rabel. De Stefanie Stahl (Deutschland/Hamburg, 1963).
Duas coisas envolvem o trecho (p. 159) desta Leitura: a primeira é de que, em situações de grande desconforto, a distração pode ser benéfica, e a segunda me remete à obra Não Acredite em Tudo que Você Sente [431], de Robert L. Leahy.
Quando estou enfrentando algum problema, a tensão diz respeito ao funcionamento natural de meu sistema nervoso, mas quando meus pensamentos passam a ser conduzidos de forma intensa, apenas por meus sentimentos, posso ficar “preso” ou concentrado neles sem me dar conta que o caldeirão de sentimentos pode me conduzir a distorções cognitivas e desta forma, dou espaço para a minha “criança-sombra” [432] tomar o controle de meu juízo. A cultivação de sentimentos pode me enganar. Já o conceito de “criança-sombra” é trabalhado pela autora para indicar onde residem minhas crenças negativas e os meus sentimentos que delas resultam e me oprimem; tristeza, medo, melancolia, desamparo e raiva (p. 20), derivados de minha infância.
Um ponto de virada pode ser encontrado pela distração, ou seja, pelo direcionamento de minha atenção para algo que está no “mundo exterior”, onde o sentimento que me incomoda não consegue alcançar, o que significa uma espécie de “desligamento” da percepção do que me causa desconforto, um tipo de “autoesquecimento”. Explica a psicóloga alemã, autora deste livro publicado em mais de 30 países, que por isso a distração “é uma ferramenta central da psicoterapia para pacientes com dores crônicas” (p. 159). A ilustração mencionada no mesmo parágrafo sobre “quando você dança com paixão, não sente dor nos pés”, fez-me pensar quando eu dava palestras presenciais (2013-2018) e me sentia meio que “anestesiado” durante os eventos, que normalmente eram bem desgastantes. Então, penso, estava tão “distraído” fazendo aquilo que me dava prazer, que a dor, presente, pois estava ali em meu corpo, era “esquecida” pela mente, e lembrada apenas ao final do dia. Nos dias atuais, quando realizo eventos no Zoom com assuntos de áreas diversas, refiro-me quando passo por uma longa sequência de atendimentos, noto que o prazer de realizá-los desliga boa parte do desgaste mental que poderia sentir se não estivesse “distraído” pelo trabalho.
A distração útil encontrada no trabalho para neutralizar ansiedade, medo, indignação ou raiva, ocorre quando consigo ficar concentrado nele o suficiente para deixar a fonte de desconforto em segundo plano, mais distante, abrindo assim um espaço que pode ajudar até mesmo a reavaliar a gravidade do problema (p. 160). A maior lição que tirei da leitura deste conceito é de que se deixar conduzir apenas por sentimentos negativos, potencializa uma espiral perigosa, autodestrutiva, que retroalimenta mais sentimentos negativos pela “criança-sombra”, podendo provocar transtornos e doenças.
A técnica da distração que utilizo no suporte
Em atendimentos que realizo no Zoom, uso uma técnica de distração para resolver problemas mais graves, o que parece contraditório porque falo também na importância de se manter concentrado, no entanto, distração e concentração aqui não são antagônicos, são recursos combinados.
Quando um cliente apresenta um problema grave, que não será resolvido rapidamente, e percebo um foco único, em expressões de quase desespero, sem o pensamento voltado para começar uma caminhada rumo a uma solução real, então promovo uma distração que estimula o cliente a fatiar o “grande problema” e assim pensar na solução em passos a serem realizados. Esse tipo de distração ajuda a desviar do foco original no “problema enorme” para uma tarefa que significa o tratamento de um problema bem menor, mediante uma determinada etapa, e assim da distração promovo uma concentração pontual, e quando alcançamos o sucesso de terminá-la bem, que é parcial, celebramos e partimos para a próxima fase. A vitória parcial ajuda a recuperar a autoestima, inclusive a minha e, não raramente, a distração seguida de uma concentração específica ajuda a reavaliar o “problema maior”, que pode ser visto como algo não tão grave o quanto se pensava inicialmente.
A distração de olhar para o problema de cada fase de superação tem sido essencial em meu trabalho, principalmente quando lido com profissionais submetidos a uma carga de obrigações que provocam um estresse demasiado que, se não for trabalhado por micro-tarefas, mediante sequenciamento lógico, deixará o profissional sempre focado no “negativo do grande problema”, sem entender que a sua superação passa por solução de pequenos problemas a serem vencidos em etapas.
Essa técnica pode ser usada por contadores e profissionais de TI em clientes sob situação emocional extrema, que estejam enfrentando um grande problema e iniciam a reunião na expectativa de uma “solução mágica” que é, obviamente, impossível, sobretudo quando acometidos por sinais de transtorno de ansiedade e demais disfunções cognitivas. Aprender a promover ações pontuais por sequenciamento lógico, que distraiam o suficiente para desligar os sentimentos negativos superestimados, é a chave para o êxito de sua aplicação.
431. 26/08/2024 00h01
432. 10/12/2023 12h47
15/08/2025 23h47
Imagem: Luciana Amorim
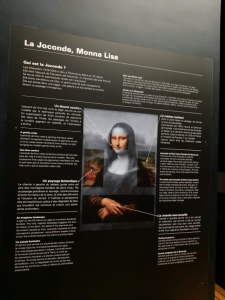
“Como é possível, Clark se perguntou, explicar o fato de que, ‘enquanto Leonardo recusava encomendas de papas, reis e princesas, ele usava a sua tremenda habilidade para pintar a segunda esposa de um obscuro cidadão fiorentino?'”
Obra: Mona Lisa: A mulher por trás do quadro. Capítulo 10. O retrato em andamento. José Olympio, 2018, eBook Kindle. De Dianne Hales (1950).
Em 2019 recebi conselhos para trocar o nome da robô “Gioconda”, considerado “estranho” para alguns (talvez quisessem dizer “feio”), “desconhecido” para outros. Entre as sugestões, uma dizia respeito a colocar um nome mais “tecnológico”. Agradeci pelas críticas, no entanto, a história do nome por trás da robô se relaciona com o meu apreço pela história da arte, especialmente em relação a uma obra de Leonardo da Vinci que, talvez, seja a mais conhecida pelo grande público.
Hal9000 foi por conta de minhas memórias infantis no deslumbramento com o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço (1968), quando passou em uma sessão retrô lá pelos idos dos anos 1980, no belíssimo cinema São Luiz do Recife, e fui vê-lo com o meu pai (in memoriam), crente de que eu, uma criança lá pelos 11,12 anos, não resistiria ao longo tempo do filme e iria pegar no sono, quando não tirei os olhos da telona, sobretudo no fascínio pela inteligência artificial do HAL 9000 mas, e La Gioconda?, de onde veio a ideia do nome de batismo?
Então torno ao livro [429] da premiada autora de La Bella Lingua. No trecho (p. 224), Dianne Hales aborda uma questão suscitada pelo crítico de arte, Sir Kenneth Clark (1903-1983). Pensei algo assim após saber um pouco mais sobre a emblemática donna Lisa Gherardini del Giocondo (1479-1542), quando visitei Firenze pela prima volta (2018) e fiquei impactado pela forte relação entre a forma de Leonardo conceber a pintura e a história de vida de uma mulher forte.
Leonardo deve ter trabalhado em 1503, ou talvez um ou dois anos antes (p. 223), no retrato da senhora esposa de Francesco del Giocondo. Algo na jovem Lisa Gherardini deve ter fascinado o gênio da proporção áurea, conceito que aprendera com o matemático, e amigo, Luca Pacioli (?-1517), e das “sombras sutis”, cuja técnica somente ele tinha domínio (p. 226). Nas ruas de Firenze caminhava e pensava: Por que Leonardo, tão requisitado por nobres e religiosos do alto escalão, dedicou-se a produzir uma obra complexa e pioneira a retratar uma pessoa comum, fora dos círculos do poder as quais tinha acesso? Não sei a resposta, mas, pelo menos, naquele dezembro gelado nas ruas de Firenze defini o nome que daria à minha robô do WhatsApp, mediante o trocadilho que os italianos fazem com o sobrenome do marido (Giocondo), em alusão ao meu fascínio por Leonardo, pela história de vida de Lisa Gherardini e pela cultura italiana.
Talvez o que Leonardo aconselhava a jovens pintores sobre dar aos desenhos “uma atitude que revele os pensamentos de seus personagens”, tenha relação com a personalidade de uma forte donna governa, a mulher que toma conta da mansão (p. 256), com seis crianças para cuidar, entre elas um enteado, como se fora seu filho (p. 223) e com um marido de temperamento difícil (p. 225). Talvez Leonardo tenha percebido naquela senhora, certas virtudes de humanidade que não conseguira enxergar na alta sociedade que requisitava seus serviços.
Quando estive no Louvre (2020), tornei a meditar sobre a questão em meio ao fascínio de visitantes que formavam uma enorme fila para ver o retrato de Lisa Gherardini. Pensei de forma análoga no quanto ela se tornou una cosa viva, como menciona Dianne Hales ou uma “poesia que é vista” (p. 225), como define o próprio Leonardo acerca do conceito da arte pela pintura, quando se expressa de forma magistral para ampliar minha visão:
“La pittura è una poesia muta, e la poesia è una pittura cieca” [430]
O que mais me deixa fascinado nessa obra-prima de “poesia muda” é a simplicidade em retratar una vera donna, sem o que chamamos hoje de “banho de loja”; Lisa Gherardini está “sem corpetes, sem roupas luxuosas, sem joias, nem mesmo a aliança de casamento” (p. 227), uma mulher plena de responsabilidades e livre de fantasias que mostram outro eu, maquiado, um tanto enganoso, manipulado para a superficialidade do mundo, e assim foi eternizada com aquele sorriso icônico de uma simplicidade como arte da sofisticação, a espelhar um traço amalgamado com o espírito de Leonardo.
429. 21/03/2025 23h27
430. 29/01/2023 11h28
14/08/2025 21h56
Imagem: Mises Institute
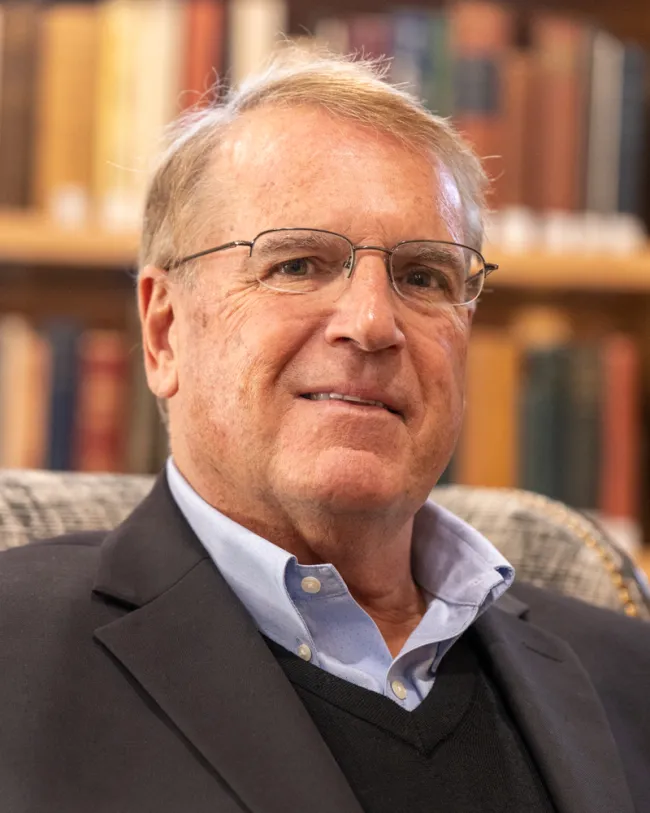
“In reality Lincoln, FDR, and Wilson were by far America’s worst presidents because of their shared penchant for dictatorship, corruption, lawlessness, attacking constitutional liberties, warmongering, and imprisoning dissenters and political opponents, as well as for socialism, economic fascism, and lame-brained government interventionism.”
Obra: Axis of Evil: America’s Three Worst Presidents. Mises Institute, 2024, Auburn. De Thomas James DiLorenzo (1954).
Sob o sugestivo título Axis of Evil: America’s Three Worst Presidents, eis a transcrição de uma palestra proferida pelo presidente do Mises Institute na Mises University em 28 de julho de 2024, Auburn, Alabama.
DiLorenzo abre a palestra com um duro cartão de visitas típico da Escola Austríaca: desnudar o que é propagado pelo “mainstream“, no caso, em relação a um ranking de presidentes dos Estados Unidos, contestado, para em seguida afirmar que “na realidade, Lincoln, FDR (também conhecido por Franklin Delano Roosevelt) e Wilson (Woodrow Wilson) foram, de longe, os piores presidentes dos Estados Unidos por conta de sua propensão compartilhada à ditadura, à corrupção, à ilegalidade, ao ataque às liberdades constitucionais, ao belicismo e à prisão de dissidentes e oponentes políticos, bem como para o socialismo, o fascismo econômico e o intervencionismo governamental desmiolado” (p. 3).
Ao contar alguns horrores da guerra civil americana, o dito “uma bela visão” (p. 5), do general favorito de Lincoln sobre cadáveres de mulheres e crianças espalhados pelas ruas, foi o que me deixou mais pensativo, seguido pelas contradições de Lincoln em torno da escravidão (p. 6). Sobre Wilson, pensei mais no caso do suborno, segundo DiLorenzo, do “Governo Provisório Russo com dinheiro de impostos americanos para entrar na guerra. O resultado foi cerca de quatrocentos mil russos mortos com os bolcheviques sendo o único partido antiguerra na Rússia, o que proporcionou aos comunistas um grande impulso político, de maneira que Lenin afirmou: ‘Nossa revolução nasceu da guerra’. Muito bem, Woodrow”, afirma ironicamente (p. 11) DiLorenzo.
Já sobre FDR, Dilorenzo discorre que o presidente, ao promover o New Deal, aumentou o preço da mão de obra em um situação em que apenas custos trabalhistas menores aumentariam o emprego em políticas que incluíam “impostos sobre a folha de pagamento para a Previdência Social e o seguro-desemprego, leis de salário mínimo e leis que deram poder aos sindicatos sobre os empregadores” (p. 14). Cita Out of Work: Unemployment and Government in Twentieth-Century America, de Richard Vedder e Lowell Gallaway para reforçar o argumento de que tais políticas “aumentaram a taxa de desemprego em 8 a 10 pontos percentuais em relação ao que seria de outra forma, tornando a Grande Depressão ainda mais grave e duradoura” (p. 14). DiLorenzo define FDR como “um fascista em política econômica, um inimigo das liberdades civis e um belicista insensível que se tornou amigo de gente como Stalin. Suas políticas do New Deal pioraram muito a Grande Depressão. A taxa de desemprego, que era de 3,2% em 1929, era de 17,2% em 1939, quando suas políticas já estavam em vigor havia anos” (p. 15).
O texto me fez rememorar en passant algumas experiências de leitura onde, mediante um padrão de se vender um país como o maior ícone do capitalismo ocidental, surge em paralelo um “paradoxal” histórico de governos disseminadores de políticas intervencionistas e de estado corporativo, sobretudo por sua famosa cultura do lobby no compadrio entre empresários e políticos do Congresso, e por que não dizer do inquilino da Casa Branca.
Parte significativa de meu antiamericanismo reside na percepção que tenho de um enorme contrassenso em torno da hipocrisia e do cinismo que moldam a coletividade americana sob ideias de política e economia, taxadas como referências para o “capitalismo” (seja lá o que o termo significa nesse meio), mas que, em muitos aspectos, são ditos que não conferem com as ações, que estão mais próximas às práticas comuns de sociedades rotuladas como “socialistas”. Por isso respeito muito mais um indivíduo que se declara socialista, defende estatização de meios de produção, controles sociais, regulação econômica e diversas formas de coletivismo (coisas que não concordo), do que um sujeito que se apresenta como “liberal” em economia e, na prática, defende ideias de planejamento estatal.
Não se trata aqui de ser contra ou a favor do que é chamado de “capitalismo”, com traços de economia de mercado, ou de “socialismo”, com formas de coletivismo coercitivo, e sim do núcleo de meu antiamericanismo a residir na crítica sobre o maior engodo produzido em um jogo de palavras no Ocidente quanto aos Estados Unidos, em muitos pontos, serem o contrário do que se apregoa por seus pares.
13/08/2025 22h30
Imagem: Enciclopédia do Arkansas
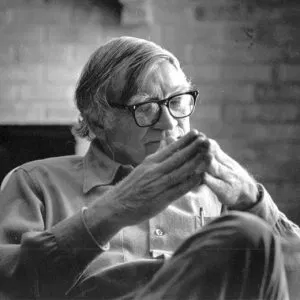
“Em julho de 1865, Connor anunciou que os índios ao norte do Platte “devem ser caçados como lobos” e começou a organizar três colunas de soldados para uma invasão do território do Rio Powder.”
Obra: Enterrem meu Coração na Curva do Rio. A dramática história dos índios norte-americanos. Capítulo 04. Invasão do Rio Powder. L&PM, 2003, São Paulo. Tradução de Geraldo Galvão Ferraz. De Dorris Alexander Brown (EUA/Lusiana, 1908-2002).
O primeiro contato que tive com esta obra foi com a edição de 2003. Ao tomar conhecimento da disponibilidade de uma edição ampliada e atualizada, com os trechos que foram suprimidos na primeira publicação, fiz a aquisição imediatamente (2025), por se tratar de uma versão integral dos textos que foram publicados na edição americana.
Penso agora em meu “antiamericanismo”, que começou em uma “coisa de adolescente”, quando desenvolvi um certo fascínio pela União Soviética. Lembro-me que nos jogos olímpicos virava um hilário torcedor de tudo que enfrentava os Estados Unidos. Foi um sentimento bobo que se relacionava com a crença que cultivava no socialismo, abandonada em meados dos anos 1990.
Curiosamente, a perda da fé política em Marx [428], durante a juventude, não provocou o fim absoluto de minha aversão aos Estados Unidos; de certa forma, permaneceu, até mesmo quando comecei a ler autores da Escola Austríaca de Economia (EA) a partir de 2006, onde desenvolvi apreço ideológico até reconhecer meu viés austrolibertário por volta de 2016.
Fato é que uma das causas da conservação de meu “antiamericanismo” se relaciona com este livro, que provocou um impacto profundo em meu autoexame acerca de um traço que persistia dentro de minha visão de mundo e confesso que me incomodava. O livro ajudou a me libertar desse desconforto interno, no sentido de ajudar a entender melhor um dos pilares da construção dos Estados Unidos: a perseguição ordenada para o extermínio dos povos originários. Um país forjado sob a matança sistemática dos indígenas americanos, eis o que percebo neste drama contado por Dee Brown, de partir o coração; um episódio nefasto de um crime contra a humanidade, orquestrado no aparato estatal dos Estados Unidos, penso, que o torna, provavelmente, a maior mancha na constituição de um país vendido mundo afora como baluarte da liberdade, da oportunidade e da justiça; uma das maiores ilusões da dita “civilização ocidental”.
Quando menciono “aparato estatal”, reconheço no termo uma certa influência da EA durante a leitura da obra, ao perceber que os genocídios que este livro conta tem forte relação com o que aprendi acerca dos conceitos de aparato estatal; o sentido para “compulsão e coerção”, ganha um aspecto assombroso além da retórica; é essencialmente invasivo, cruel, violento, sobretudo quando está em construção, e depois se torna um violador sutil e contumaz de tudo que entende ser contrário a seus interesses de imposição.
Os povos originários dos territórios que hoje “pertencem” aos Estados Unidos, quando resistiam, foram exterminados para compatibilizar uma ideia de sociedade por ocupação em favor de um espírito imperialista, algo que estava no nascedouro americano. Este livro então se tornou devastador por revelar uma comprometedora raiz dos Estados Unidos, e aqui apenas a quem se dispõe a uma reflexão desarmada, face às fantasias em torno dos ideias enganosos que são alardeados sobre sua fundação.
428. Quando deixei de crer no socialismo como linha de pensamento econômico, não deixei de reconhecer o grande valor do pensamento de Marx quanto à sua crítica dialética que suscita pontos fundamentais em torno de questões sociais.
12/08/2025 23h06
Imagem: Prêmio Nobel
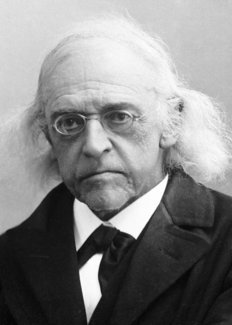
“Questa nuova carica fu chiamata dittatura, come quella soppressa di fatto dalla guerra annibalica in poi; […]”
Obra: Storia di Roma. Decimo Capitolo. La Costituzione di Silla 2. Silla regente di Roma. Greenbook, 2020, Roma. De Christian Matthias Theodor Mommsen (Deutschland/Garding, 1817-1903).
O antigo cargo de ditador na República de Roma consistia na figura de uma espécie líder com poderes específicos para reger o governo. Era recorrido em tempos de necessidades por reformas mais complexas, guerras e/ou na ocorrência de aprofundamento de crises, visando agilizar processos políticos e jurídicos. Os ocupantes tinham limitações no ofício e no tempo destinado ao seu exercício (p. 1984).
O termo então não tinha, necessariamente, o tom pejorativo que costuma lhe ser dado nos dias atuais. Dizia respeito a uma demanda política concreta, pontual, contudo, quando Silla se tornou regente de Roma, após o término de uma guerra civil (p. 1981), onde havia a cobrança de punir os principais envolvidos no movimento revolucionário que fora derrotado, a utilização do recurso político do “ditador” ganhou outra conotação: com o apelo de dar punições exemplares aos romanos que se voltaram contra o sistema político de Roma, a envolver a pauta de promover “amplas reformas” (p. 1982), Silla recorreu à velha ocupação, porém se afastou das características dos antigos que a exerceram, de maneira que configurou um novo cargo que passou a ser chamado de “ditadura” (trecho, p. 1983).
Foi um rompimento com as limitações tradicionais do cargo de origem, aumentando consideravelmente o próprio poder. Não lembrava mais um cargo que, penso, estava mais para condições de contingência e normalmente respondia à magistratura e aos setores mais importantes da sociedade, a burguesia, os oligarcas, além dos senadores. Silla se isolou do espírito de colegiado que cabia considerar neste tipo de governo de urgência, além de ter se afastado também do tempo limitado para o mandato. Aqui penso no aforismo de ontem, por Lord Acton, bem como em A Mosca Azul, de Machado de Assis [427].
O caso da ditadura de Silla foi uma espécie de prenúncio de outra crise que marcou o processo de ascensão e assassinato de Júlio César.
427. 03/05/2025 14h16
11/08/2025 22h48
Imagem: The Project Gutenberg
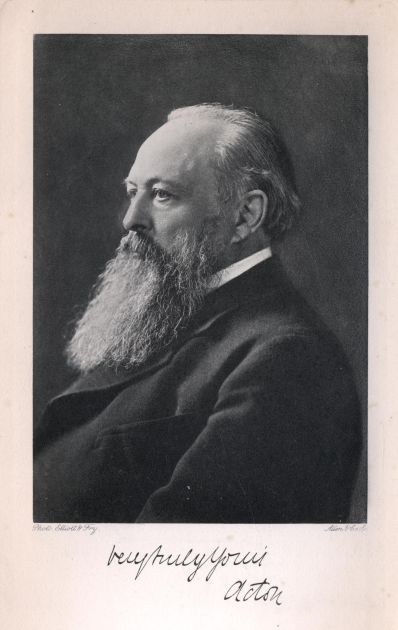
“[…] Historic responsibility has to make up for the want of legal responsibility. Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. […]”
Obra: Essays on Freedom and Power. ACTON-CREIGHTON CORRESPONDENCE. The Beacon Press, Boston, 1949. De John Emerich Edward Dalberg-Acton (Italia/Napoli, 1834-1902).
Tive a oportunidade de conhecer esta frase em sua forma precisa, e não como é citada popularmente: “O poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente”. A primeira vez que a escutei foi no original, e imediatamente traduzida, “o poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente”; foi em um colóquio sobre presidencialismo e parlamentarismo, entre ZW e outro professor, jovem, e do sindicato dos fazendários.
Lembro-me que foi um evento durante a corrida presidencial de 1994, porque recordo que o docente militante fazia parte dos que acusavam o Plano Real de ser “eleitoreiro”, e se tratava de um assunto que eu tinha grande interesse como calouro de economia à época. A memória funciona com coisas integradas; um detalhe muito distante no tempo, quando lembrado ajuda a lembrar outro detalhe relacionado que compõem uma cadeia de coisas em um contexto maior de recordação. Talvez seja por isso que eu não consiga me lembrar de outras coisas que certamente são mais importantes: faltam detalhes menores que, interligados, contribuem para a memória.
Outra recordação menor quanto à frase: com ares de quem conhecia a matéria, ou seja, dentro das mais elevadas tradições de seu meio, ao ouvi-la, o professor sindicalista fez uma atribuição de autoria errada: disse “esta frase de Lord Byron…”, o que arrancou risadas de alguns na plateia. Como um lorde, ZW tratou de mencionar o verdadeiro autor sem chamar atenção do que pareceu ser uma confusão de seu antagonista, e seguiu a argumentar em favor do parlamentarismo e de modelos de descentralização do poder, para logo depois citar mais autores que eu, em meus 19 anos na ocasião, só começaria a ter alguma noção de quem se tratava, a partir de uma década depois.
A famosa frase de Lord Acton consta em uma longa carta de 5 de abril de 1887, escrita em Cannes (p. 358), endereçada a Mandell Creighton (1843-1901), que depois se tornaria o Bispo Creighton da Igreja Anglicana. Nela Lord Acton aborda diversos assuntos: inquisição, papado, liberdade, liberalismo, a essência da justiça, e aqui me chama a atenção seu interesse pela lei que deve ser aplicada a todos, sem distinção, além dos males que o poder se relaciona quando concentrado, algo que está na essência de sua famosa frase.
Lord Acton afirma, no mesmo parágrafo do trecho (p. 364) desta Leitura que “não há pior heresia que acreditar que o cargo santifica quem o ocupa”, outro problema perene que aborda, sobretudo em um contexto de populismo. Faz-me lembrar de políticos no poder, quando questionados por suspeita de corrupção ou de outros crimes graves, e então apelam ao clichê “fui eleito pelo povo!” como se apenas o “povo” tivesse legitimidade para julgá-los.
10/08/2025 16h19
Imagem: IPS

“[…] Os reformadores neoliberais fizeram profundas incursões nas áreas da propriedade, do mercado de trabalho e do sistema de saúde, entre outras. ]…]”
Obra: Como a China escapou da terapia de choque. Conclusão. O caminho foi definido. Boitempo, 2023, São Paulo. Tradução de Diogo Fagundes. De Isabella M. Weber (Deutschland/Nürnberg, 1987).
– Reformadores neoliberais na China? Você está louco?!
A linguagem das expressões faciais e do tom da voz indicaram que pode ter sido um “gatilho”, na terminologia psicoterápica, que sem querer acionei para um interlocutor um tanto entusiasmado com o modelo chinês, cuja crença pessoal, pelo que entendi, consiste em um sistema econômico de “socialismo de mercado, livre dos problemas do neoliberalismo”.
A afirmação no trecho (p. 545) desta Leitura é de uma autoridade no assunto: a professora de economia da University of Massachusetts Amhers, cuja obra é bastante referenciada. Consta imediatamente seguida da ressalva de que “o núcleo do sistema econômico chinês nunca foi destruído em um big bang” (p. 545), pois foi “fundamentalmente transformado por uma dinâmica de crescimento e globalização sob a orientação ativista do Estado” (p. 546). Prevaleceu a tese de que socialismo e capitalismo não são diferenciados essencialmente pelo planejamento ou regulação de mercado (marcante no lado socialista), e que assim “economia de mercado” e “economia planejada” não são incompatíveis. O modelo de “socialismo de mercado” de linha chinesa foi beneficiado por um processo de “mercantilização profunda e gradual que precedeu a liberalização” (p. 547), no caso de preços, ocorrida nos anos 1990.
Guiado muito mais por dúvidas do que por certezas, quando me perguntam sobre o modelo chinês, por não ter saído ainda do jardim da infância no assunto, limito-me a um “não sei defini-lo”. E assim, antes de citar a autora da frase, e o seu devido contexto, pedi escusas ao colega por uma referência considerada ofensiva, talvez por um mal-entendido. onde ele não considerou o fato de que o sistema político chinês ter usado economistas de linha neoliberal em sua última grande reforma (algo, inclusive, de amplo conhecimento entre experts em China), não significa que tenha se tornado um exemplo de neoliberalismo ou uma “variante neoliberal”, mas negar que os tais “tipos amaldiçoados” (pelo menos por progressistas e socialistas pelo mundo) ajudaram a reformar o sistema econômico da China nos anos 1990, não me parece algo justo, da mesma forma que negar o uso de mecanismos de mercado no sistema.
Tento me ater aos fatos, tarefa dificílima, pois o tema está permeado de paixões ideológicas, seja por parte de defensores, seja pela Escola que tenho apreço e por liberais não austríacos. O cultivo da dúvida também me permite admitir a hipótese da validade do termo “socialismo de mercado”. Aqui, dentro da pedagogia de leitura que abracei, tento “esquecer” o que aprendi com a Escola Austríaca, quanto ao socialismo não ter sustentação econômica pelos problemas da dispersão do conhecimento e da ausência do cálculo econômico [424], tampouco o que Hayek discorre em sua derradeira obra [425], além do que abordou em A pretensão do conhecimento [426]. A professora Isabella Weber lembra a posição de Hayek, contrária ao “meio-termo” (p. 136), em meio a advertência que ele deu sobre o planejamento central culminar em regime autoritário, contudo, faz uma ressalva em nota (10, Conclusão) que, assim como Robbins, Hayek recuou quanto à “afirmação de Von Mises sobre a impossibilidade de uma economia socialista racional para ‘uma segunda linha de defesa'” (p. 548); Hayek e Robbins, “duvidaram da possibilidade de uma solução prática satisfatória para o problema” (p. 548).
A questão fundamental, à mon avis, é: o modelo chinês seria capaz de ser mantido sem os dados oferecidos pelo mercado? Isso não invalida o debate em torno das regulações, mas indica que há um pragmatismo na China, que dispensa o lado marxista que rejeita totalmente a economia de mercado, enquanto dispensa também o idealismo em torno da autorregulação do mercado, inserindo o ativismo estatal ou, no que penso acerca do que a autora afirma sobre “o planejamento baseado em cálculo e o mercado foram tomados como meios para o mesmo fim” (p. 536), o que me faz pensar na hipótese dos chineses estarem escrevendo um novo capítulo na história do pensamento econômico, com um outro sistema, que chamam de “socialismo de mercado” (mas, talvez, outro nome seria melhor), após os exaustivos debates entre modelos “capitalistas” e “socialistas”.
424. 10/05/2022 22h20
425. 27/04/2022 22h32
426. 19/04/2022 23h12
09/08/2025 16h04
Imagem: Luciana Amorim
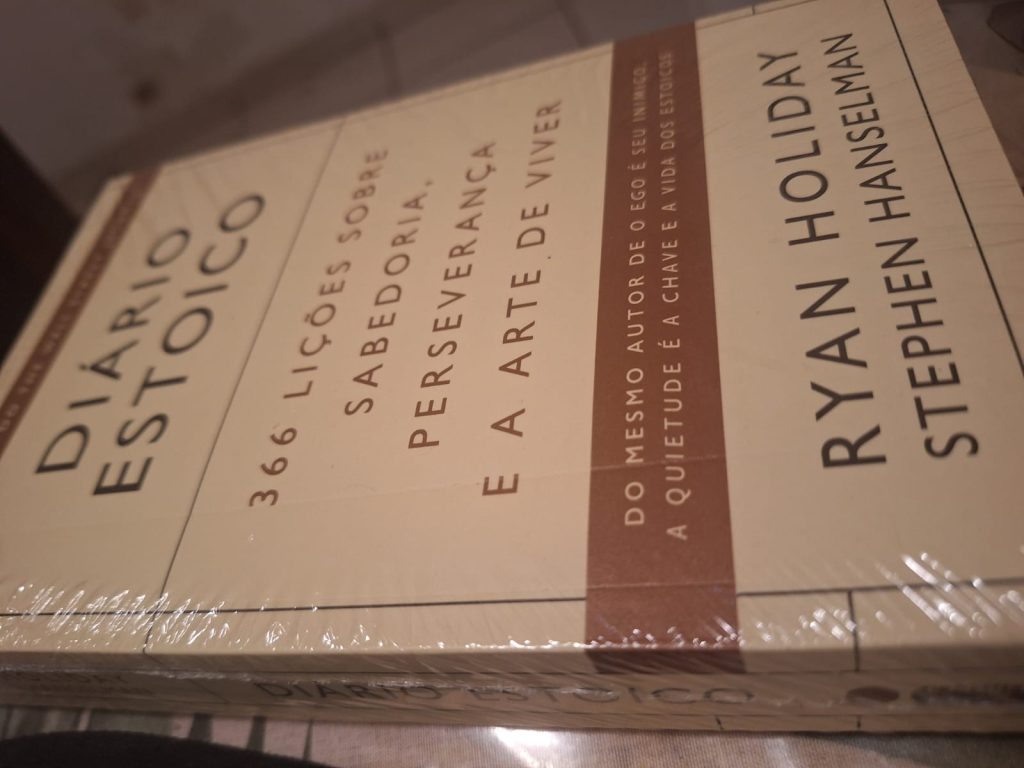
“Uma espécie de pragmatismo direto – ver as coisas da forma como elas se mostram em suas impressões iniciais.”
Obra: Diário Estoico. 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. 9 de agosto. Atenha-se apenas aos fatos. Intrínseca, 2022, Rio de Janeiro. Tradução de Maria Luiza X de A. Borges. De Ryan Holiday e Stephen Hanselman.
Na mesa de leitura, mais um presente de minha esposa.
A obra propõe uma reflexão por dia sobre uma referência textual da escola de filosofia estoica. Lembrou-me imediatamente de outro livro que minha esposa me agraciou: Café com Deus Pai, de Junior Rostirola [420], que teve sua primeira publicação em 2020 e dispõe de uma devocional diária em referência a determinado trecho bíblico. As duas obras também têm em comum o fato de serem dois grandes sucessos de vendas. Lembrei-me também de outra obra, cuja experiência fiz o registro, sendo bem mais antiga e restrita a um público raiz do catolicismo romano: Meditações para todos os dias e festas do ano, de Santo Afonso Maria de Ligório, cuja edição que apreciei é de 1921 [421].
Confesso que não sou muito inclinado a um gênero que é comumente chamado de “autoajuda”; tenho um perfil de intenso apego à dúvida e à prática da dialética. Contudo, creio em uma pedagogia de leitura em favor do espírito desarmado, pois entendo que me possibilita mais chances de obter um melhor aproveitamento da experiência. No que consiste? Faço um esforço para “esquecer”, durante a leitura e a reflexão que dela se deriva, a linha de pensamento do autor, seja contrária ao que penso sobre o tema, seja favorável ou neutra.
Exemplos: se leio Marx, “esqueço” que não gosto do comunismo versado por ele (prefiro o que está em Atos dos Apóstolos, com base no voluntariado), e se leio Mises, “esqueço” que gosto da Escola Austríaca de Economia e sou um austrolibertário. Deixo os autores simplesmente “falarem”, sem interrompê-los com minhas crenças; eis os fatos.
Percebo que esse “desarme” aumenta as chances de não cair em preconceitos e assim cometer injustiças ou equívocos de interpretação, superestimado ou subestimando ideias dispostas no conteúdo, problema normalmente derivado do imediato, prático e perigoso “sistema 1” de raciocínio, explicado por Daniel Kahneman em Rápido e devagar: duas formas de pensar [422], onde minhas crenças e convicções são mais atuantes.
Um estoico pedido de desculpas
Para ilustrar o espírito do livro, escolhi, para o primeiro registro, a leitura em referência a 9 de agosto (p. 283), onde os autores fazem menção a um trecho de Meditações, de Marco Aurélio [423], que considero um tanto desafiador para interpretação: o famoso imperador estoico propõe que, diante de um acontecimento de interesse, recomenda-se ficar limitado às impressões iniciais, o que os autores sintetizam como “ficar atento aos fatos”.
Um filho está doente, outro exemplo no trecho selecionado de Meditações, eis o fato, e achar que a vida dele está em risco, é outra coisa, não é fato, é tão-somente especulação diante das primeiras informações. Aqui, penso, em muitas ocasiões sou tentado a emitir conclusão rápida; o sistema 1 é acionado e força que eu o utilize para emissão de uma opinião imediata, o que será com base no que “acho” ou “acredito que seja”. O “sistema 1” passa quase o tempo todo me tentando, querendo me seduzir para um “bom palpite”, e vencer essa luta diária é algo decisivo para minha saúde mental. Do que se trata, especificamente? Não julgar por especulação. Especular pode ser inevitável, no entanto, tomar decisões apenas com base nisso é a receita para um desastre.
À mon avis, limitar-se às “primeiras impressões” parece algo superficial, raso, simplista demais e até temerário, no entanto, essa abordagem estoica é de uma sofisticação extraordinária; ela denuncia minha ignorância diante de detalhes sobre o contexto em torno de um determinado acontecimento. Isso é de uma riqueza imensa, sobretudo para o tempo presente, onde há uma espécie de “neurose de opinião” que se deve ter sobre tudo e todos. Suspeito que seja uma epidemia e quem não se curvar a essa onde de neurose palpiteira, passa a ser visto como “fraco”, “covarde” ou “isentão”.
Durante as últimas presidenciais, fui chamado de “bolsonarista”, por petistas, e de “petista”, por bolsonaristas, simplesmente porque não entrei na dança frenética de “ter opinião” e escolher um lado. O “não sei porque não tenho dados suficientes para concluir”, parece ser uma grave ofensa nesse mundo tão cheio de certezas, senão vejamos: quase fui demitido por conta disso quando um cliente bolsonarista escutou meu argumento de que “sou incapaz de escolher um presidente da República, pois sou limitado demais, e a escolha de alguém para este cargo exige muitas qualificações para o eleitor, as quais não possuo”. Sobrou-me um “você não passa de um petista enrustido, que decepção!”, acusação seguida de sua autoexclusão do grupo, de algumas semanas sem acionar meus serviços, de um aviso prévio fulminante, depois revertido com uma conversa “terapêutica” onde pediu desculpas. Um cliente petista foi breve e cravou quando dei a mesma resposta sobre minha incapacidade de dar opinião definitiva por me limitar aos fatos: “Você não me engana, Leonardo, é um bolsonarista com medo de sair do armário!”.
Simplesmente não sei o bastante para esse tipo de opinião, e por isso peço perdão a todos pela minha confessa ignorância, meus caros clientes bolsonaristas, petistas e demais “istas” de cada dia. Sei o quanto isso é frustrante para vossas senhorias, mas prefiro a sabedoria estoica para tentar escapar de um dos maiores males do século: a precipitação. Nobre é o desejo de saber os porquês das coisas, para se tomar uma correta decisão, a questão é justamente a indisponibilidade dos dados para realmente saber esses porquês de forma suficiente.
Então, em suma, opinião para mim é algo irrelevante, em termos imediatos. Quanto a isso, lembrei-me de uma analista de investimentos de uma corretora de grife que apelou ao clichê: “Leonardo, sua opinião é importante, pode falar”, quando eu respondi: “é não, senhora, minha opinião é a parte que menos me interessa, tenho receio dela, normalmente ela me induz a erros”. Ficou um silêncio estranho na ligação…
Um estoico perdão
Em outro caso, uma colaboradora de um cliente começou a apresentar um histórico de queimas de agendamentos. Ela simplesmente marcou quatro agendamentos para Sped Contábil em duas semanas e não compareceu a nenhum.
Limito-me a aplicar a regra sem levar a sério o que eu acho que esteja acontecendo. Quando chegou a proximidade dos prazos do Sped Contábil, eu precisava de dados para entender melhor a situação e assim decidi abrir um chamado para contato telefônico programado, para termos uma conversa. Os agendamentos habituais do setor fiscal também não foram cumpridos, outro dado concreto. Limitado aos fatos, e lutando para não especular sobre o que estava ocorrendo, sofri até mesmo com as ligações para contato telefônico, frustradas, quando então ela atendeu na quarta tentativa, e então fiquei sabendo do cenário assolador; ela me pediu “mil desculpas” e explicou que estava sob um enorme desgaste por ter acumulado no início do mês a coordenação do setor fiscal, após a direção do escritório ter demitido o mais antigo funcionário que ocupava o cargo, aparentemente para enxugar a folha de pagamentos.
Recebeu um perdão estoico… O assunto era tão delicado (a saída do colaborador que estava na fundação do escritório), que ela não encontrou uma forma de comunicar isso pela Gioconda, mas não era bem um papel para ela exercer e sim para a direção, que preferiu o silêncio.
Quando a direção me procurou para saber o porquê dos balanços não terem sido “ainda” enviados ao Sped, então respondi:
Por que o departamento contábil não compareceu aos últimos agendamentos?
Aviso: esta é uma pergunta retórica, cuja resposta depende de saber: Por que a direção decidiu sobrecarregar demais a coordenadora da contabilidade de maneira que a impossibilitou de cumprir os agendamentos e por isso não finalizar a validação dos balanços?
Respondam a si mesmos antes de realizarem cobranças indevidas a ela e ao TI.
Ficar atento apenas aos fatos é uma arte que tento seguir. Muitas vezes, falho, sou humano.
Não sei por que a direção do escritório tomou a decisão de acumular funções de uma maneira contraproducente, tampouco a decisão pelo silêncio diante de um fato relevante, bem como não sei porque realizou uma cobrança como se nada tivesse feito de comprometedor em relação ao problema. Eis os fatos: ela não compareceu porque não estava em condições por um problema causado pela direção do escritório, eis as “primeiras impressões” na linguagem de Marco Aurélio, e o que passar disso é mera especulação que não agrega saber à superação do problema.
420. 01/01/2025 12h34
421. 14/02/2024 11h34
422 28/03/2024 22h06
423. 23/09/2022 23h40, 23/01/2023 06h24, 12/05/2023 23h08
08/08/2025 23h05
Imagem: Jornal Opção
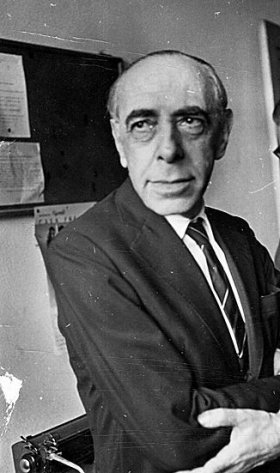
“[…] não convém dar ao termo um sentido unicamente pejorativo. […]”
Obra: Ensaios Reunidos. Volume I. 1942-1978. Respostas e Perguntas (1953). Falsificações. Topbooks/UniverCidade, 1999, Rio de Janeiro. De Otto Maria Carpeaux (Áustria/Viena, 1900-1978).
Referindo-se ao tema da falsificação em obras literárias, Carpeaux menciona alguns casos:
O poeta inglês Thomas Chatterton (1752-1770), “que atribuiu seus poemas a autores medievais”, o poeta escocês James Macpherson (1736-1796), que se baseou “em fragmentos da antiga poesia céltica, fabricou, modernizando-os, os poemas que atribuiu ao vate mítico Ossian”, e o filólogo e bibliotecário tcheco Václav Hanka (1791-1861), que “forjou fragmentos de velhas epopeias eslavas, inventando uma fabulosa civilização pré-histórica de sua raça”. O primeiro, afirma, “agiu provavelmente de boa fé”, o segundo, “sem intuito de iludir”, e o terceiro, “por patriotismo sincero” (p. 515).
O austríaco mais brasileiro que tenho conhecimento lembra o contexto medieval dos conceitos jurídicos onde se prevalece o direito mais antigo sobre o mais novo, onde o anglo-saxônico é uma fonte desse resíduo, “o que explica o negócio da falsificação de doações, privilégios, etc.” (p. 516). O caso de Denis Vrain-Lucas (1816-1881) é um tanto humorístico, por forjar “nada menos que 27.320 páginas de homens ilustres de todas as épocas”, ludibriando a Academia Francesa, enquanto deu a Alphonse Daudet (1840-1897) o enredo para o romance L’Immortel (p. 515).
Esta abordagem de Carpeaux me fez pensar no primeiro ano de seminário, quando entendi que Moisés não é mesmo o autor do Pentateuco (assunto que deixou alguns colegas um tanto perturbados), enquanto o tema desta autoria ganhou uma conotação mais complexa, à mon avis; começou de uma questão de atribuição errada e foi para uma hipótese que a considera como rótulo dado a uma teia de narrativas, construídas por diversos autores, para fins de dominação ideológica a moldar crenças sobre um mito elaborado com uma figura associada a um antepassado herói, fictício, o que me remete ao que Carpeaux aponta sobre “o desejo de ter antepassados gloriosos, uma árvore genealógica” (p. 516). Dois anos antes, um professor de economia, judeu, não ateu, teve uma conversa comigo sobre Moisés e sintetizou “não existiu, é lenda”, o que me incomodou à época, mas isso se tornou óbvio quando estudei a fundo o tema no seminário.
O romantismo se relacionou com o tema ao adentrar “num mundo de racionalismo crítico, sem deuses, sem mistérios, sem encanto estético”, e assim a arte romântica “cultiva, de propósito, a ilusão”, sendo o recurso frequente o do “romance histórico”, baseado em algum manuscrito, sendo “um passo para a falsificação” (p. 517). Aqui penso no que esclarece Umberto Eco na introdução da edição que disponho de Il Nome della Rosa [418]. Outro caso, também a envolver Umberto Eco, refere-se a Il Pendolo di Foucault, considerado pelo autor como sendo seu melhor romance, quando em uma lição teceu críticas duríssimas quanto às teorias da conspiração exploradas em O Código da Vinci, de Dan Brown [419].
Por fim, recordo de uma experiência de um professor entre alunos de filosofia. Ele pegou um de seus melhores textos, elaborado no tempo em que fazia doutorado na Alemanha, baseado em O Desespero Humano, de Kierkegaard, e atribuiu a autoria a uma pessoa inexistente, um pseudônimo, obviamente desconhecido por todos. Em seguida foi ao “fundo do baú” e pegou um texto prolixo, também de sua autoria, produzido havia quase 30 anos durante a primeira graduação, o qual definiu como “uma das peças favoritas de seu relicário de delírios da juventude” no final dos anos 1980, baseado no então recém-lançado no Brasil, Vigiar e Punir, de Foucault, e atribuiu a autoria a um conhecido escritor e palestrante. Distribuiu os dois textos em uma avaliação e pediu para que escolhessem o considerado mais relevante para uma reflexão a ser dada como resposta: o baseado em Foucault ganhou a preferência quase por unanimidade.
Lembro-me de ter comentado: “O senhor cometeu uma falsificação pedagógica”. Risos.
418. 28/09/2022 23h31
419. 22/05/2023 22h12
07/08/2025 22h34
Imagem: Planeta de Livros
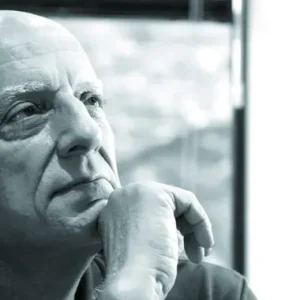
“Quando eu desfiz 60 anos… Desfiz: é a forma correta de dizer. Porque esses 60 são os anos que não tenho mais. […]”
Obra: Ostra feliz não faz pérola. Velhice. Quantos anos você não tem? Planeta, 2021, ePUB eKindle. De Rubem Azevedo Alves (Brasil/Minas Gerais/Boa Esperança, 1933-2014).
Tempus edax rerum [417] – por Heitor Odranoel Bonaventura
Mais um dia se foi
e nunca mais
o terei pelo
Tempus edax rerum.
Chamam de “vida”
cada instante que
preenchi e não posso
retificar.
Minha “idade” é o
acúmulo de tudo
que desfiz no passar
de minha existência.
Intriga-me o presente,
pois sempre escapa
por não ser mais
aquilo que pensei.
E o futuro é uma ilusão
pela incerteza
dos instantes que
me restam.
417. 26/08/2022 23h34
06/08/2025 22h59
Imagem: nationalww2museum.org

“AT NEARLY midnight, the night before the bomb was dropped, an announcer on the city’s radio station said that about two hundred B-29s were approaching […]”
Obra: Hiroshima. I. A Noiseless Flash. Alfred A Knopf, 1946, New York. De John Richard Hersey (China/Tianjin, 1914-1993).
E segue John Hersey a narrar antecedentes da noite anterior ao que terminou sendo o primeiro ataque atômico da história, mas que sugeria uma ofensiva convencional, por conta dos 200 aviões B-29 que se aproximavam do sul de Honshu, quando “o locutor da rádio aconselhou a população de Hiroshima a evacuar para as “áreas seguras” que foram designadas” (p. 10).
Agosto, 6, 1945, a bomba de Hiroshima completa 80 anos. Ao contar história de seis sobreviventes, o jornalista e escritor americano se voltou a aspectos humanos sobre a devastação nuclear no mundo real, , contrastando com abordagens estatísticas. Vidas além de números,… Vidas humanamente narradas mergulhando no cotidiano que conheceu o terror de Estado em nível atômico.
Seis sobreviventes, pessoas “comuns”: Wilhelm Kleinsorge (p. 16), padre jesuíta sob sintomas de radiação, semelhantemente a Kiyoshi Tanimoto (p. 24), um pastor metodista. Masakazu Fujii (p. 31) e Terufumi Sasaki (p. 18), dois médicos que tratavam das vítimas. Toshiko Sasaki (p. 21), mulher, 20 anos, a espera por dias com a perna em estado grave pelos destroços. Hatsuyo Nakamura (p. 26), mãe com seus três filhos pequenos no meio dos destroços, viúva de um alfaiate e combatente da guerra, havia três anos recebeu um telegrama de sete palavras: “Isawa (seu marido) morreu uma morte honrosa em Cingapura” (p. 12).
Hiroshima é uma obra sobre pais, mães, filhos, irmãos, avós, famílias, trabalhadores, amigos… É sobre lares, empregos, escolas… é sobre civis… todos que tocavam suas vidas, assim como os americanos que selaram a rendição japonesa com a imensidão dos preços de Hiroshima, depois Nagazaki: vidas brutalmente exterminadas e sobreviventes mergulhados em um luto de massa, todos a saírem dos escombros no início de uma luta que se perpetuaria por décadas contra os efeitos da radiação.
05/08/2025 22h18
Imagem: Mises Institute

“We know well enough that it would be foolish to regard the market, competition, and the play of supply and demand as institutions of which we can always expect the hest in all circumstances.Nobody has better reasons to bear this in mind than the friend of the market economy.[…]”
Obra: A Human Economy. Chapter III-THE CONDITIONS AND LIMITS OF THE MARKET. The Asymmetry of the Market Economy. Henry Regnery Company, 1960 Chicago. Traduzido do alemão para o inglês por y Elizabeth Henderson. De Wilhelm Röpke (Deutschland/Niedersachsen/Heidekreis/Schwarmstedt, 1899-1966).
O trecho (p. 137) tem um contexto mais amplo, voltado a um argumento baseado em assimetrias do mercado, sendo assim em favor da regulação por decisões de fora do referencial na relação oferta versus procura, porém me fez lembrar de um irmão neófito de uma igreja pentecostal, comerciante, lá pelos idos de 2007, que me convidou para conhecer seu mercadinho.
Estava animado com o novo layout das gondolas, mas quando chegamos na parte das bebidas, notei o grande destaque às promoções; havia uma vasta oferta, sobretudo entre os variados tipos e teores alcoólicos, então ele me olhou sob constrangimento e comentou: “temos que vender não é irmão, senão perdemos freguesia”. Comentei: “é o imperativo do mercado, irmão, onde nem sempre podemos esperar aquilo que entendemos por melhor”. O irmão não abdicou da venda de bebidas alcoólicas, pois entendeu que é indispensável atender a um público diverso que faz o mercado se movimentar, cujos interesses estão dispersos e acima de suas convicções de moralidade e religião, pois caso contrário, não realizaria o lucro satisfatório para manter seu negócio, salvo se tiver fé suficiente para promover um inusitado mercadinho “crente raiz”, o que me parece improvável.
Foi um tempo em que comecei a estudar os austríacos e a repensar conceitos de economia, enquanto um tempo depois, o contraponto de Wilhelm Röpke a Mises me pareceu familiar à formação aberta ao intervencionismo que recebi, visto como “heterodoxo” no início do século passado, mas que se tornou relevante com Keynes e logo em seguida pertencente ao mainstream, após a Segunda Guerra.
En passant, quando escutei a expressão “imposto do pecado”, atribuída ao Imposto Seletivo (IS) da reforma tributária que será implantada no Brasil, sobre produtos prejudiciais à saúde, lembrei-me novamente do irmão, enquanto também ilustra um caso de intervenção estatal em torno de um conceito de política pública que intenciona desestimular o consumo de algo considerado nocivo, impondo carestia direcionada à arrecadação fiscal, justamente onde a pura relação oferta versus procura não alcança.
Röpke contraria a Escola Austríaca quanto à defesa da ideia de promover “decisões fora do mercado, além da oferta e da demanda” em função da busca pelo lucro não possibilitar “espaço suficiente às razões que fazem oposição” a atividades que, “no interesse geral, deveriam ter o maior peso”, o que discorre no mesmo parágrafo. Cita exemplos onde entende a regulação fora dos mercado ser importante, a começar da publicidade, pois caso contrário, não será impedida de ser “um colosso de influência e interesses pessoais que é difícil levantar a voz contrária” (p. 137). Entre exemplos, Röpke menciona a compra a prazo, ao argumentar que “não há simetria na economia de mercado entre as forças que favorecem essa forma moderna (a obra é de 1960) de promoção de vendas extraordinariamente difundida e as forças que a impedem” (p. 138). Aqui Röpke não considera o livre mercado (se é que existe um) com a capacidade autorregulatória de evitar excessos, e assim sugere “freios” (p. 139) no entanto, penso, o curioso é que as políticas públicas de expansão da base monetária indicam que é o aparato estatal que incentiva o endividamento descontrolado, determinando taxas de juros fora da sinalização do mercado para estimular o consumo a pagamento.
Eis um tema fascinante de economia, alguns diriam de “política”, quando debatido com serenidade, respeito ao contraditório, sem apelos a paixões ideológicas (será mesmo possível?), não importa o lado, se miseano, austrolibertário, desenvolvimentista, neoliberal, socialista marxista, socialista chinês… Entendo que a ciência econômica evoluiria bastante se adeptos de escolas de pensamento tivessem um espírito desarmado de suas convicções.
04/08/2025 22h59
Imagem: Students for Liberty
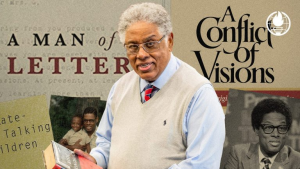
“A inveja é insaciável em pelo menos dois sentidos diferentes:”
Obra: A Busca da Justiça Cósmica: como a esquerda usa a Justiça Social para assolar a sociedade. Capítulo 2. O alto custo da inveja. A insaciabilidade da inveja. LVM, 2023, São Paulo. De Thomas Sowell (EUA/Carolina do Norte, 1930).
Torno ao “mais querido” pensador afrodescendente americano entre os ungidos do progressismo cósmico de cada dia.
Afirma Sowell, em sua análise crítica acerca da ideologia da igualdade, que o primeiro sentido é de que não há redistribuição de renda capaz de satisfazer a todos, o que faz a questão não ser sobre qual modelo distributivo seria o melhor, e sim se os benefícios de “iniciar uma busca interminável oferecem mais potencial para o bem ou para o mal. O segundo sentido consiste na inexistência de uma ordem “!única e definitiva de classificação de inúmeras vantagens e desvantagens que indivíduos e grupos possam ter simultaneamente” (p. 103).
Cita o sociólogo Helmut Schoeck (1922-1993) em Envy: A Theory of Social Behaviour acerca de um estudo que aponta a inveja não ser resolvida por dádivas e boas ações; o invejoso se sente humilhado pela ação e passa a invejar não mais os pertences, mas o caráter de quem a praticou, e mesmo se o nível de seu caráter fosse elevado, sentiria inveja do tempo em que viveu a desigualdade pela “lembrança retida” (pp. 103-104).
Sendo a inveja resistente a políticas públicas redistributivas , qual seria o custo da “justiça cósmica”?, indaga Sowell a apontar um paradoxo em que a denúncia das desigualdades, que compõe normalmente o discurso em prol da igualdade, “promove a inveja na esperança de, em última instância, minorá-la”, e enquanto esse problema segue, Sowell aponta outro custo medonho da inveja, pelo consumismo que mata jovens “pela posse de roupas de grife, bugigangas de prestígio ou outros emblemas de desigualdade” (p. 104).
Neste experiência de leitura, pensei: a inveja atravessa fronteiras do plano material e se torna ainda mais tóxica ao espírito humano no plano imaterial, quando se percebe uma carência de algo que o dinheiro não pode comprar. Uma pessoa rica pode sentir inveja de alguém pobre ao perceber que esta possui coisas que não é possível ter com base em sua riqueza material. Conheci na faculdade um filho de um industrial que morria de inveja de um colega pobre, poliglota, refinado, que despertava a admiração de muitos por sua cultura, empatia, generosidade, compaixão, solidariedade, intelectualidade, inteligência, entre outras grandezas imateriais que se desenvolvem no ser e não nas coisas que se possui.
Por outro lado, pensei, a inveja se alastra na dimensão de quem vive na carência e no apego à ideia de estar em uma posição que considere “inferior”, sentindo-se “dependente”, “humilhado”, e assim mesmo que venha a se tornar um “novo rico”, transmigrará sua inveja baseada nas posses alheias para as grandezas imateriais que não possui dentro de si, mediante o comparativo que tende a fazer por recordações dos tempos em que precisou da caridade e contou com uma generosidade e espírito de solidariedade de quem o agraciou e que ainda não tenha conseguido desenvolver.
03/08/2025 12h30
Imagem: Portal da Literatura

“[…] Eu tinha o coração nas mangas. Podia pensar que a justiça dormia comigo todas as noites. […]”
Obra: A Queda. 2. Record, 2024, São Paulo. Tradução de Valerie Rumjanek. De Albert Camus (Argélia/Dréan, 1913-1960).
La Chute foi publicado em 1956. No ano seguinte, Camus foi agraciado com o Nobel de Literatura [414].
Torno àquele senhor excêntrico dos anos 1990 [415] que me intrigava desde a difícil discussão que tivemos de uma prova de filosofia que prestei e ele se dispôs, em particular, a explicar os comentários que escreveu, porque os achei “perturbadores” sobre o que respondi, quando então me recomendou um psicanalista.
Um tempo breve tivemos uma caminhada pela universidade em que eu estava disperso, alheio, desmotivado em muitos aspectos da vida (1997), mas, apesar de minha pouquíssima lucidez, uma das coisas que consegui guardar foi a paráfrase que ele fez com o primeiro verso da primeira estrofe de Drão [416], de Gilberto Gil:
A vida é como um grão,
Uma semente de ilusão
Tem que morrer pra germinar.
– Você é muito jovem ainda para a queda. Reze para que aconteça, e de preferência antes dos 60 – respondeu-me assim quando começou a falar sobre suas maiores ilusões na vida e citou este romance de Camus, para em seguida contar alguns momentos narcisistas em sua juventude, quando acreditava que levava consigo o “suprassumo da inteligência”, e continuou – pois “a queda” é evitada pela maioria que, assim ao chegar na velhice, perde o sentido de si, e quando isso acontece, uns caem em depressão, outros são vencidos por recalques, fantasmas do passado, e outros tantos passam a viver como adolescentes.
Mas o que seria “a queda”? Quase 28 anos depois, retorno a esta obra-prima de romance em forma de monólogo, cuja dialética promove o que penso ser uma anatomia de um desmonte de um velho “eu” (Clamence), feita por um outro “eu (o “juiz-penitente”) a representar um processo de rememoração, revisitação da própria história de vida e de reflexão sobre suas maiores ilusões nutridas ao longo da trajetória.
De certa forma “a queda” é um processo de “morte” promovida sobre si por uma experiência profundamente autocrítica, de maneira que, mesmo ainda com traços do narcisismo do velho no novo “eu”, os quais o trecho (p. 22) desta Leitura é um exemplo dessa sutileza, torna o “juiz-penitente” uma personagem sublime pela capacidade de colocar em discussão seus valores, sua visão de mundo, seus sonhos, suas crenças, seus defeitos, o que fizera de vergonhoso mas não tinha coragem de assumir, suas virtudes e todas as demais interpretações, agradáveis ou não, do que até então tinha de si e da realidade.
414. The Nobel Prize. Albert Camus. Facts. 1957.
415. 23/05/2024 22h16
416. A composição original é de 1981, lançada em 1982. Desde que a escutei pela primeira vez, apeguei-me à sua letra e, sem saber, o professor criou uma conexão em um sentido mais amplo, não em relação a uma “declaração de amor”, mas à vida, à existência em si, enquanto em um momento de renascimento. Ele tentou me mostrar a necessidade de reiniciar os projetos que tinha pausado naqueles dias turbulentos no final de 1997, mas eu não entendi. Em 1998 as coisas começaram a melhorar quando acabei conseguindo fazer o que recomendou naquela conversa; na psicanálise encontrei um caminho para o autoconhecimento.
Drão
O amor da gente é como um grão
Uma semente de ilusão
Tem que morrer pra germinar
Plantar nalgum lugar, ressuscitar no chão
Nossa semeadura
02/08/2025 15h04
Imagem: Sextante
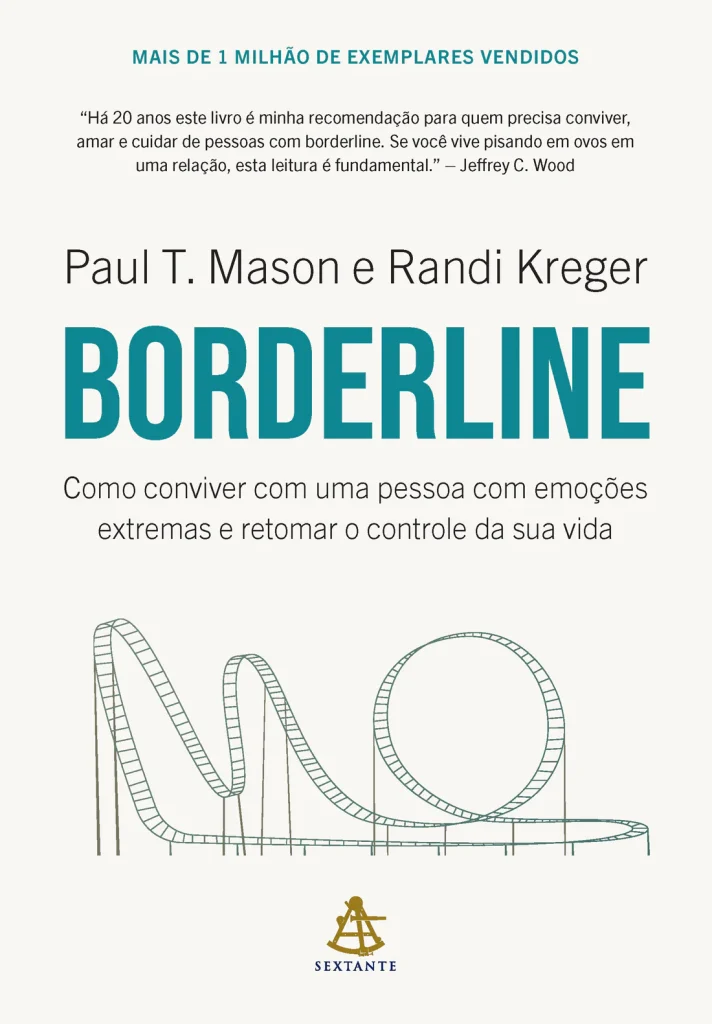
“[…] Elas precisam ser melhores que todo mundo. Para isso, constroem um ‘falso eu’. […]“
Obra: Borderline. Como conviver com uma pessoa com emoções extremas e retomar o controle de sua vida. Capítulo 3. O narcisista. Sextante, 2025, Rio de Janeiro. De Paul T. Mason e Randi Kreger.
Mais uma leitura oportuna extraída do maravilhoso armário de minha esposa psicóloga. Quando ela decidiu seguir esta carreira, senti-me realizado pois tinha desenvolvido desde o tempo da primeira graduação (economia), um forte apreço pela psicologia.
Borderline, de Paul T. Mason e Randi Kreger é uma obra indispensável para compor toda biblioteca, seja profissional ou do lar. Anteriormente intitulada Pare de pisar em ovos.
O recente título indica o tema do transtorno de personalidade borderline (TPB). De excelência por inteiro, percebi que o capítulo 3 deste livro me chamou mais atenção ao versar sobre o transtorno de personalidade narcisista (TPN).
Sobre o TPB, também foi muito proveitosa a obra de Martin Bohus e Markus Reicherzer, Como lidar com o transtorno de personalidade borderline [412].
Quando leio, ganho oportunidades de rememorar certas experiências para identificar exemplos que, à época, não sabia identificar, mediante assuntos que aprendi no decorrer da leitura. Eis o que ocorreu na recordação que tive de Eliseu [413] e o mesmo aconteceu no decorrer da experiência desta Leitura de hoje sobre…
O dia em que demiti um cliente (possivelmente) narcisista
A pandemia de Covid-19 (2020-2021) havia pouco tempo passado quando recebi um comunicado bem ao estilo Don Vito Corleone: uma proposta tão “boa” que eu não poderia recusar, pensei de bate-pronto.
A oferta veio de um cliente da carteira de suporte a arquivos digitais do Sped. Consistia em uma reformulação geral do contrato: meus honorários seriam quadruplicados sob três condições:
- Eu teria que ficar à disposição, pelo Zoom e remoto, dos setores contábil e fiscal das unidades de seu grupo de escritórios, duas horas diárias em quatro dias por semana, incluindo os sábados, conforme as demandas de cada setor;
- Eu teria que me comprometer a não mais prestar os serviços constantes no novo contrato para outros escritórios de contabilidade, em termos de consultoria para o Sped, ou seja, não trabalharia neste segmento para concorrentes diretos. Poderia manter contratos de fornecimento de sistemas para escritórios, mas a consultoria em questão apenas poderia oferecer para empresas, outras entidades sem fins lucrativos e pessoas físicas, todas fora do ramo de “exploração econômica de serviços contábeis”.
- O contrato anterior será rescindido, independente de minha decisão sobre a nova proposta.
No dia seguinte, anexo à recusa da oferta, enviei o comunicado de aviso prévio de 90 dias para iniciar o processo de meu desligamento. A proposta tinha três problemas sérios em escala progressiva de gravidade:
A primeira tenta tirar proveito excessivo de meu estilo de trabalho, baseado em atendimento planejado, com hora marcada, combinando tecnologia de vídeo conferência e suporte remoto, o que, nos dias atuais, tornou-se algo muito disputado e por isso, bastante valorizado, por empresas e escritórios que buscam alto rendimento nos serviços que prestam. A questão é o comprometimento de oito horas semanais em uma jornada de 44, reduzindo a oferta para os demais clientes, além de oferecer um rendimento ilusório quando se olha apenas para o valor nominal, enquanto provoca outro problema que procuro evitar: alta concentração de receita em apenas um cliente.
A segunda reflete um pouco do perfil comportamental do seu proponente: ao se enxergar sempre como o “melhor” ou a “majestade” (p. 60); todos ao seu redor devem se submeter a seus caprichos, e no meu caso, o de “exclusividade”. Por quê?, desenvolvo mais adiante.
E a terceira, um “é pegar ou largar”, não passa de consequência de um delírio em torno de uma peculiar prepotência que eu tinha notado havia algum tempo: achar-se no centro de tudo e todos, o que se traduziu, pensar que dita a vida econômica de quem lhe presta serviços, e assim, todos devem ser “súditos” e passíveis de coerção.
Seria um narcisista doentio? É possível. Antes, há características narcisistas saudáveis, que se relacionam com a capacidade de superar momentos difíceis e a resiliência (p. 60). Apenas um competente profissional poderia atestar. No entanto, reflito acerca de indivíduos sob o transtorno: “são cheios de autoimportância. São absolutamente convencidos de que são superiores aos outros”, afirmam os autores (p. 63).
Então pensei um pouco em sua narrativa de excelência em torno de si e o que costuma dizer acerca de “jamais ter cometido um erro que pudesse causar dano aos clientes”. Não há como não pensar no costume de se auto venerar em apresentações a clientes, principalmente mediante trabalhos complexos que foram construídos em equipe, de maneira que deixa sempre a impressão de que apenas ele é a “grande mente” por trás da produção, quando na verdade, ao longo do tempo, percebi que possui carências técnicas e alguns de seus colaboradores são bem mais qualificados em termos de conhecimentos em contabilidade, o que me faz lembrar do problema do “falso eu” no trecho (p. 61) desta Leitura, que também serve de máscara para encobrir o que tenha de vergonhoso.
Seus ataques de fúria pareciam demarcações de território de um tipo “grandioso” (p. 70). Mediante um problema técnico que não conseguia compreender, mais por deficiência técnica do que qualquer outra coisa, costumava dar demonstrações de poder, incrementando o tom da voz e reforçando a postura de “autoridade”, o que servia para intimidar quem o questionasse. Pensei então no problema do desprezo de relacionamentos e a excessiva importância ao poder e ao controle, outra característica que os autores afirmam: “Eles sabem, com certeza absoluta, que são superiores” (p. 70).
Pensei no caso de uma rotina que desenvolvi junto com um colega de TI para cumprir um prazo curtíssimo do fisco envolvendo uma multa elevada; em dois dias de intenso trabalho, corrigimos erros de validação de arquivos gerados por sistemas de terceiros, os quais não estávamos obrigados por não fazerem parte do pacote de suporte. Foi por cortesia, considerando uma situação de emergência extrema, contudo, a frieza do tratamento que recebemos na conclusão, deixou o colega perplexo, e longe de ter sido apenas por falta de um “obrigado”, ele fez com que o cliente pensasse que estávamos cumprindo não mais do que a obrigação. Aqui penso no problema que os autores reportam sobre o narcisista não ser capaz de dar valor ao que os outros fazem por ele (p. 68).
Pensei também em sua prática de fazer cobranças um tanto desproporcionais, agressivas, com excessivo rigor e imediatismo, sobre colaboradores, principalmente os mais modestos, considerados sem recursos para contestá-lo (p. 68), acionados em horários fora do expediente, e isso também envolve manifestações no grupo de WhatsApp para constrangê-los. O grupo é formado por uma lista de clientes considerados de “alto prestígio”. Quando tentou incluir as duas contas de atendimento que utilizo, visivelmente para escapar dos controles da Gioconda (lembro-me da raiva que nutria pela minha “secretária”) e fazer cobranças à semelhança do que submete os empregados, ficou irritado com o bloqueio e se queixou de meu “estrelismo”.
Não menos irritado ficou ao saber que eu estava prestando serviços a um escritório próximo, de empreendedor iniciante, sim, modesto, mas com jovens aguerridos que desejam crescer no segmento, justamente na área onde a “majestade” tem mais orgulho em seu “marketing de guerrilha” que costuma oferecer consultoria “sem compromisso” para verificar procedimentos e queimar concorrentes com supostos “erros tributários” e “falta de contabilidade” que “ele” (entenda-se, a sua equipe) irá resolver.
Talvez a proposta de exclusividade tenha surgido a partir do desconforto em saber de minha disponibilidade a pessoas as quais considera “desprezíveis”. Se tem algo que um narcisista detesta é a ideia de não se fazer acepção de pessoas; por desejar constantemente admiração e atenção (p. 66), onde há o espírito de dar oportunidade a todos, um narcisista fará apelos para suprir sua carência e roubar toda atenção. Assim não se deu por vencido e tentou me manipular alegando que o meu status profissional “não combina com escritórios ‘pé-de-escada'” termo que refletia uma pobreza típica de desrespeito, seguida de um apelo piegas de que eu tinha que aprender a “valorizar mais o meu trabalho”, entenda-se, deixando de trabalhar para os que considera “inexpressivos”.
Ao demiti-lo como cliente, saí com o sentimento de dever cumprido sobre trabalhar para ter uma variada carteira de clientes e não cair na dependência de algum que se considere mais importante que os outros a ponto de tentar me consumir, e assim procuro conservar essas condições para demitir os que passarem de certos limites.
412. 22/09/2024 13h12.
413. Relativo à nota anterior que se trata de um registro através de uma “lembrança tardia” de um exemplo de comportamento tipo borderline que consegui associar após a experiência de leitura.
01/08/2025 21h16
Imagem: Munk School
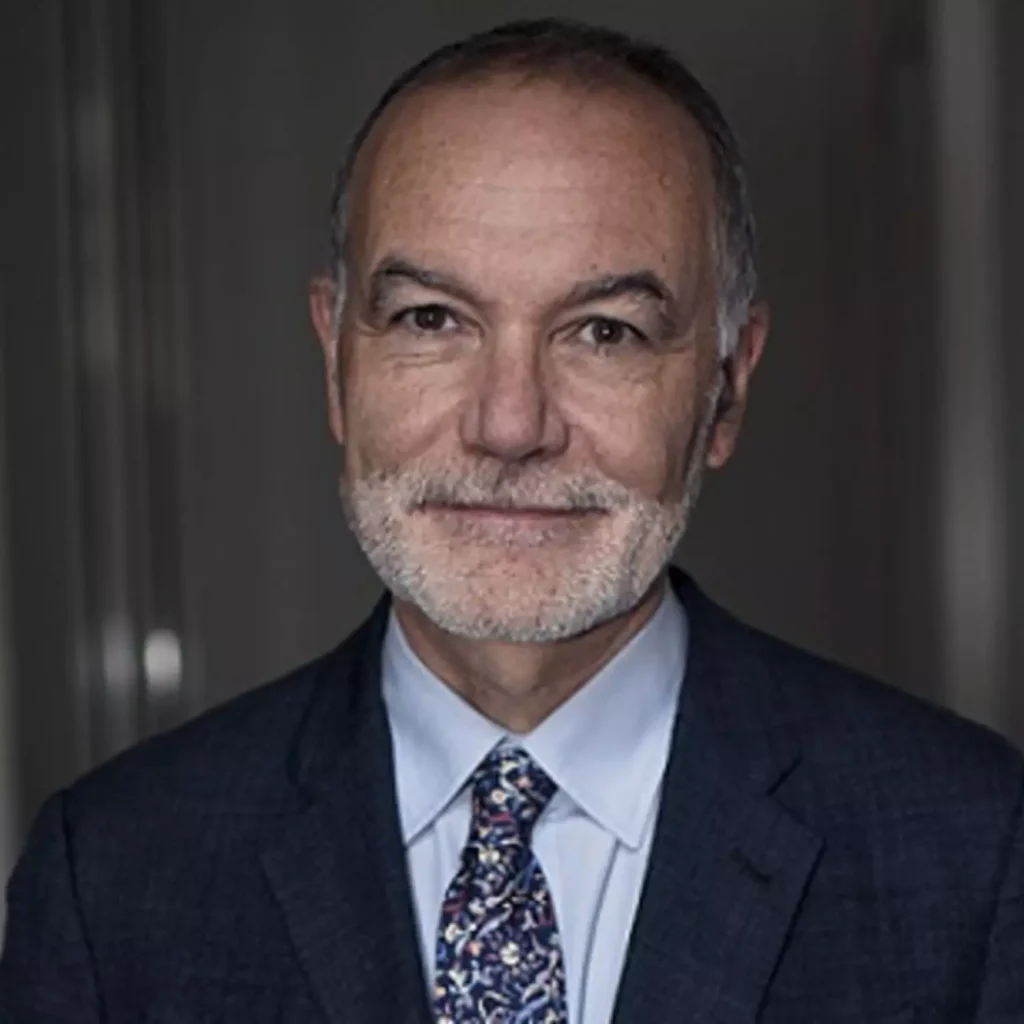
“[…] has even surpassed the terrible death and displacement tolls of the nakba itself […]”
Obra: Gaza: A history. Afterword to the second edition. Gaza: the key to war and peace. Hurst & Company London, 2024, London. Traduzida do francês para o inglês por John King. De Jean-Pierre Filiu (France/Paris, 1961).
Mais uma aquisição recente para vários registros.
Há algum tempo pensei se a atual crise humanitária em Gaza, promovida pelo Estado de Israel sob a imperdoável inércia de líderes europeus e americanos, pode ter superado a Nakba, a “Catástrofe” (em árabe) que acometeu nativos da Palestina durante a consolidação do Estado de Israel em 1948, fato que transformou a faixa no estabelecimento de campos de refugiados (p. 258).
Pude conhecer melhor o tema através das abordagens de Adel Manna em Nakba and Survival [410], e Nur Masalha em The Palestine Nakba [411], quando então percebi que se trata de um dos maiores casos de “esquecimento” infame da dita “civilização ocidental”, encabeçada por lideranças acometidas por um complexo de indiferença com os palestinos, cuja retórica de discursos apenas disfarça um espírito abjeto, com raríssimas exceções, enquanto carregam o peso de uma herança do ambiente histórico onde ocorreu o Holocausto, talvez o maior crime cometido contra a nossa espécie em todos os tempos.
É preciso separar bem as coisas para não confundir um povo inteiro com quem o governa. A minha indignação não é com judeus, tampouco com cidadãos israelenses, mas, especificamente, com aqueles que governam as ações criminosas que afligem o povo palestino em Gaza, seja pelo lado do aparato estatal de Israel, que já matou, nessa guerra desencadeada a partir dos ataques do fatídico 07/10/2023, dezenas de milhares de inocentes, seja por terroristas do Hamas que instrumentalizam civis judeus e palestinos nessa barbárie.
No posfácio que vem na segunda edição, o professor Jean-Pierre Filiu, expert em estudos sobre o Oriente Médio, aborda três impasses que perpetuam o violento conflito: o israelense, o humanitário e o palestino (pp. 436-445); (1) a visão de Israel como um desafio à segurança que se baseia na aplicação de força militar letal para controlar revoltas; (2) o bloqueio ao desenvolvimento de Gaza pela economia dominante de Israel; (3) a persistente divisão entre o Hamas e o Fatah, sendo o primeiro considerado como um grupo que prioriza seus interesses ideológicos e militares em detrimento da população.
Ao verificar imagens de palestinos morrendo de fome em meio às ruínas, será que algo mais devastador que a Nakba está passando agora pela história? E se for, haverá mais um “esquecimento infame” ou a tragédia em Gaza suscitará a memória da primeira Catástrofe? Quanto à primeira pergunta, o professor francês é direto (p. 436): “ultrapassou até mesmo os terríveis números de mortes e deslocamentos da própria nakba”. Quanto à segunda, penso ser improvável que o mundo político ocidental levante seriamente um problema que irá colocar muitos no esgoto da história.
410. 28/10/2023 15h16
411. 15/05/2024 21h55
5 Replies to “Uma leitura ao dia (ago/25)”