Imagem: Amazon
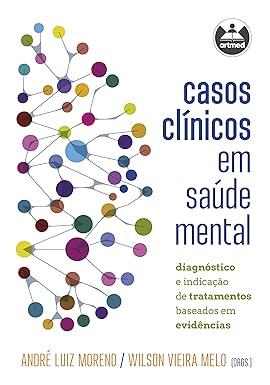
“Estudos estabelecem associação positiva entre o consumo de álcool e a sintomatologia depressiva em estudantes universitários.”
Obra: Casos clínicos em saúde mental: diagnóstico e indicação de tratamentos baseados em evidências. Capítulo 15. Transtorno relacionado ao uso de álcool. Artmed, 2022, Porto Alegre. De Marcia Fortes Wagner, Fernanda Machado Lopes, Murilo J Machado e Laisa Marcorela Andreoli Sartes. Organizado por André Luiz Moreno e Wilson Vieira de Melo.
Fui exposto, durante a adolescência e a juventude, a diversas tentativas para consumir entorpecentes e em todas as ocasiões prevaleceu o NÃO. Vi indivíduos serem criados de forma mais rígida do que eu, mas que acabaram se tornando dependentes químicos. Vi muitos educados de forma liberal, um tanto “soltos”, e que não passaram por esse problema, o que me sinaliza a complexidade do assunto quando o propósito é explicar causas dentro de cada história de vida.
O que relato aqui sobre ter um histórico de nunca ter consumido bebida alcoólica ou droga não significa que eu seja uma pessoa “melhor”, “especial”, “santa”, “consagrada”. O que pretendo aqui é refletir e ressignificar experiências que tive com tentativas de me envolver com o consumo e alguns relacionamentos que tive com pessoas sob dependência química. Evidentemente, não vou mencionar nomes de indivíduos e instituições. Embora o capítulo verse sobre transtorno relacionado ao uso de álcool, entendi ser necessário, mediante o contexto, inserir situações em que me deparei com pessoas consumindo outras drogas como maconha e cocaína.
A primeira situação que consigo recordar ocorreu em um clube tradicional do Recife. Tinha 14 anos e, por curiosidade, subi ao palco para conferir os equipamentos de som. No canto foi formado um corredor entre os imensos caixas e ali me chamaram para conhecer um papel embrulhado. Corri assustado porque sabia que provavelmente era alguma coisa “muito errada” e depois, conversando com amigos, descobri que se tratava de maconha.
Ainda aos 14 anos de idade costumava ir para Maceió, de ônibus, com amigos, em finais de semana. Em uma dessas viagens, lembro-me do dia em que sentei ao lado de um desconhecido que abriu uma mochila e apontou para papelotes com a erva e piscou um olho. Procurei outro assento para viajar. Em festas em Maceió, a presença de bebida alcoólica era constante entre amigos, mas não havia exageros e eu seguia sem querer experimentar.
Aos 16 anos, em meu primeiro emprego, no Bairro do Recife, saltava na parada do Bandepão e caminhava até o Marco Zero e, entre prostitutas naquelas ruas hoje badaladas, no meio dos prédios antigos, algumas ofereciam maconha e o que parecia ser pedras de crack, além de programas. O assédio era constante e acompanhado do NÃO que passou a fazer parte do cotidiano. Ainda nesse período, até os 17 anos, no ensino médio, havia uma “sala” em que colegas gostavam de frequentar. Na verdade era um bar; o “sala 10”. Um professor que costumava beber com os alunos, nas sextas-feiras, de vez em quando, voltava de lá para dar aula um tanto alterado.
A partir de 1994 vi como o álcool e a maconha rondavam campus universitários. A maconha me foi oferecida em algumas ocasiões quando pagava disciplinas em universidades distintas na correria de trabalhar com desenvolvimento de sistemas, dar suporte e correr entre uma aula e um atendimento, em um tempo sem internet. Teve uma situação em que cheguei para pagar uma cadeira de sociologia, e em um dia em que a professora tinha faltado, ficaram quatro alunos que estavam fumando maconha. Estavam tão alterados que pensaram que eu era um dos integrantes do grupo.
– Não sou essa pessoa não, irmão. Sou de economia, beleza, tá ligado?
Aprendi a falar com “maconhistas” em uma linguagem do meio, amistosa, para bem dizer o NÃO. O mal entendido cessou quando chegou a pessoa que pensavam que eu fosse. E fora assim, em encontros, viagens, confraternizações, que sempre havia alguém “legal” com um baseado para compartilhar e receber um NÃO educado. Às vezes, ficava com a sensação de existir uma “irmandade da erva” entre colegas universitários.
A partir de 1995, aos 20 anos de idade, costumava ir para Boa Viagem à casa de um aluno de mestrado em matemática para estudar estatística e econometria. Às vezes quando terminávamos, ele desabafava seus problemas na universidade e a impossibilidade da carreira resultar em um bom emprego. Como todo petista militante à época, esculhambava o governo FHC, contava algumas de suas frustrações e, melancólico, combinava álcool e maconha. Aqui penso na hipótese do coping ou do enfrentamento para lidar com sintomas depressivos mediante dificuldades com demandas típicas do meio universitário (p. 171).
Hoje considero que talvez ali estivessem sintomas depressivos e de ansiedade na prevalência de problemas psicológicos entre universitários (p. 170). Então, após a sessão de lamentos, ele tomava uma batida alcoolizada, esbaldava-se e ia até a varanda, colocava músicas do Bob Dylan e acendia um cigarro de maconha para “relaxar”.
Um furacão passava, fato.
Bob Dylan era o momento em que eu me divertia, tinha 20 anos. Às vezes alunos e alunas do professor particular se reuniam aos sábados à tarde… Eu ficava no time minoritário, não raramente solitário, dos no-drinks, no-cannabis, mas não me sentia excluído, como acontecia em outras ocasiões relacionadas com o meio universitário.
Sua mãe assistia a tudo e eu achava aquilo curioso. Ela dizia constrangidíssima:
– É melhor ele fazer essas coisas aqui, do que por ai, aprontando pela rua…
Meu suporte de estudos quantitativos não deixava de me oferecer a bebida e a erva, apesar de minha negativa de sempre. Sabendo o que normalmente acontecia, levava minha água de coco ou água com gás, e adorava o bolo souza leão ou de rolo que sua mãe servia. Às vezes tentava me convencer a experimentar a erva mostrando um médico vizinho, de um condomínio em frente, que também curtia maconha do mesmo jeito: na varanda.
– Tá vendo Leo, ali o doutor, só na boga…
O insólito cabeludo de sotaque cearense falava engraçado e tive que aprender a dizer NÃO a ele de maneira que não soasse ofensivo para conservar nossa boa relação de estudos. Quando notei que ele começou a apresentar lentidão no raciocínio, fiquei com um sentimento de pesar. Olhos avermelhados e um aspecto de constante ressaca. Não o via como uma pessoa perigosa, e sim que gritava pedindo socorro. O problema é que eu não conseguia encontrar uma forma de ajudá-lo.
Com o passar do tempo, em outras experiências que passei adiante com dependentes químicos, percebi que se trata de um campo que, de forma alguma, é para amadores; apenas experts podem lidar bem com isso. Conselhos, boas conversas, grupos religiosos, tais coisas não funcionam com dependentes químicos. Quando entrei no seminário teológico (2003), percebi que o trabalho religioso pode ter eficácia tão-somente no campo preventivo e ainda sim com o auxílio de profissionais de saúde.
Em fevereiro (1996) fomos ao cinema: do nada ele saiu no meio da sessão. Estava em crise de abstinência. Fui atrás. Parou no primeiro bar e ali comecei a entender melhor o problema quando protagonizou uma impressionante sequência de doses de vodka.
– Eu gosto do Andy Garcia, mas Coisas Para se Fazer em Denver… (o restante não conseguiu lembrar: Quando Você Está Morto) tava muito chato… – assim justificou a repentina saída. Nesse dia bebeu tanto que precisei de ajuda para levá-lo ao apartamento e, em um certo sentido, entendi que sua mãe tinha razão.
Foi então no ambiente universitário que, aos 21 anos, naquele mesmo primeiro semestre de 1996, vivi uma situação bem mais complexa, porque envolveu um relacionamento com uma jovem dependente química, com a mesma idade, e isso gerou depois um problema de gatilho em relação a interação social com pessoas fumando e bebendo.
Eu tinha encerrado um relacionamento de união estável e seguia na graduação em economia. Gostava de poesia e a jovem que recitou um poema de Lord Byron [485] na língua original, em um pequeno grupo de alunos que se reuniam para falar sobre filosofia e poemas na universidade, veio em minha direção e iniciou uma conversa após um comentário que fiz sobre a tradução que ela fizera para o português. Por algumas semanas conversávamos em um chat de BBS, precursora da internet, ferramenta muito usada à época por universitários, além dos encontros presenciais. Seu inglês, mais britânico do que americano, com um sotaque curioso quando falava português a lembrar o interior de São Paulo, mas em um tom diferente, meio que cantando, e comentou:
– Teria sido um conflito para além do bem e do mal? – deu um sorriso em uma clara referência a Nietzsche, filósofo que nos aproximou, além da literatura e, diferentemente das polêmicas iniciais que marcaram nossos primeiros diálogos em outros debates no grupo, comentou sobre meu nome:
– É italianíssimo!
A conversa se aproximava das 10 da noite. Uma colega veio lhe chamar e notei ela sinalizando discretamente para deixá-la e ir embora, depois comentou que tinha “perdido” a carona. Obviamente, conseguiu o que queria quando decidi levá-la para sua casa, destino: Av. Boa Viagem.
No caminho, acendeu um cigarro, tirou um walkman da bolsa, pôs um lado do fone em meu ouvido, outro no dela – deu baforadas – e na fita-cassete colocou para tocar Se Bastasse Una Canzone, de Eros Ramazotti.
– Você me disse que não gosta de falar inglês – deu uma baforada, fixou os olhos em mim e seguiu – porque acha a língua de Lord Byron “feia”, não foi isso?, concordo, então vamos da madre língua de Dante Alighieri – completou e, parecendo reger uma orquestra, acompanhava o ritmo da música. Traduziu a letra e fez comentários. Deixou a impressão que me conhecia há anos. Ali nasceu meu interesse pela língua italiana e também pelo francês, pois durante o caminho ela me convenceu a fazer uma matrícula em um curso francófono.
Quando chegamos em frente ao prédio onde morava, tirou os sapatos e me convidou para o que fazia de vez em quando: “molhar os pés na água do mar e saudar a lua antes de subir”. Aquela imprevisibilidade me desconcertou. Era muito engraçada. Não trocamos número de telefone e pensei que iríamos nos falar pessoalmente apenas no próximo encontro literário ou na aula de francês que começaria 15 dias depois. No entanto, quando cheguei no Parque da Jaqueira, sábado 19h, como era de costume, lá estava; ela tinha pego uma informação que dei de forma breve durante a conversa no carro, sobre o meu costume de aos sábados à noite correr naquele horário. Após darmos cinco voltas na pista de cooper, iniciamos um relacionamento que parecia promissor, mas terminaria de forma trágica em maio, na areia da mesma praia por conta de uma combinação de álcool, maconha e cocaína.
Duas semanas antes do desfecho trágico, a mãe dela pediu que a acompanhasse na feira de supermercado; um pretexto para uma sondagem. Sabendo que eu estava excluído da maioria dos “amigos” que formavam o círculo da filha na zona sul, por não consumir álcool e entrar em constante conflito com eles em relação à influência que exerciam para a bebida, o fato de ter uma vida tão diferente, por trabalhar em dois turnos, estudar à noite, pareceu ter ajudado a uma mínima confiança para olhar em meus olhos e pedir que eu respondesse “sem hesitação”: queria saber se eu tinha notado algo “estranho” na filha, se eu sabia de alguma coisa. Resolvi ser direto:
– Também quero saber se ela está na maconha ou algo mais pesado.
Descobri que compartilhávamos das mesmas desconfianças e preocupações. Estava cada vez mais clara a dependência química e eu tentava fiscalizar a quantidade de doses que ela consumia quando saíamos, e por isso seus amigos passaram a me chamar de “pai”; “chegou o teu pai”, diziam sempre em tom pejorativo.
A minha aversão à bebida se dava, também, por experiências desagradáveis com pessoas próximas que se embriagavam, mas o caso dela era bem mais sério. Ironicamente, foi em uma terapia que fiz para tratar da síndrome do pânico, por causa desse relacionamento, que acabei descobrindo a causa de minha aversão total ao consumo de álcool e outras drogas.
Quanto à resposta direta que dei, baseava-se no fato que nas últimas semanas, seus olhos estavam constantemente avermelhados e eu convivia com colegas na universidade, além de um primo, que eram viciados em maconha e apresentavam os mesmos sinais. Quando perguntava se havia algo mais do que álcool, sempre negava. Desconfiava do hálito e de um cheiro forte nas narinas que ela tentava disfarçar com perfume francês.
Ela e o colega mestrando em matemática tinham similaridades na mudança rápida de humor. Ela reclamava da ausência e da frieza do pai, que viajava muito, fato. Ele, do abandono que a mãe sofreu do então marido, quando tinha cinco anos de nascido. Ambos tinham momentos de tristeza profunda, seguida de uma euforia contagiante. Às vezes se sentiam completamente inúteis. Ela, por ainda aos 21 anos, viver de mesada e se comparava a mim que tinha relativa autonomia financeira, sem se dar conta da inferioridade de meu padrão de vida. Ele, por estar já em um mestrado e não ter encontrado um bom emprego. Imagino que eram fatores que poderiam ter alguma relação com os problemas que sofriam em torno do álcool e da maconha.
Dois universitários presos ao álcool e à maconha, o colega cearense se achava muito pressionado pela mãe por não ter renda suficiente (o que ganhava com as aulas era pouco) para ajudar no orçamento como esperava. A italiana parecia incomodada com a falta de renda própria; achava-se esquecida pela família que, em boa parte, estava na Itália. Vivia em extremos: amante de poesia, curiosamente fazia engenharia, também gostava de programação, entendia até de linguagem C. Tinha outras qualidades que eu admirava mais, além da filosofia: conhecia artes em geral, dominava bem o inglês e falava italiano como nativa. Alfabetizada na Itália, aos oito anos chegou ao Brasil, São Paulo, no início dos anos 1980, e alguns anos depois seus pais foram transferidos do trabalho para Recife. Aprendeu português com um jeito de pensar italiano. Meu professor mestrando também tinha extremos: gostava de cordel, punk, Bob Dylan, pintura, métodos quantitativos, histórias de cangaceiros, estatística e artesanato. Ambos eram extremamente dóceis quando sóbrios. Ele chegava nos ambientes e contagiava todos com sua simpatia. Ela deixava a secretária do lar curiosa em saber “quem era a moça simpática” querendo falar comigo no telefone.
Nas aulas de francês ela chamava a atenção pela rapidez com que aprendia nos exercícios de pronúncia. Passou também a me ajudar com a matemática da graduação em economia, porém alternava entre momentos de firmeza, quando improvisava com brilhantismo, mas também sofria de insegurança quando virava o humor e se achava incompetente; apesar de tantas qualidades, escutei dela algumas vezes “não sirvo para nada”, o que se assemelha ao caso de “Lucas” , relatado neste livro (p. 172). Lembro-me de uma situação em que tivemos que encerrar mais cedo um programa por causa da embriagues e, ao deixá-la em casa, escutei “sou um desastre”. O colega mestrando também repetia uma forma similar de auto depreciação a lembrar o caso “Lucas” do livro (p. 166).
O enorme desperdício de potencial, por conta da dependência química, caracterizava os dois, que se tornaram presos pela impotência que consistia em não conseguir resistir à submissão do desejo de usar álcool (p. 169), além de outros entorpecentes. Tanto o meu colega mestrando em matemática, quanto ela costumavam dizer praticamente a mesma coisa quando questionados sobre o descontrole:
– Tento, mas não consigo parar.
A rebeldia um tanto extrema como forma de expressão faz parte da juventude. Eu tinha esse viés, era intenso, cheio de energia, polêmico, porém com um certo juízo que procurava conservar para não passar de certos limites. Hoje penso em um paradoxo porque na medida em que eu era intenso, mas demonstrava um policiamento, ela se sentia mais segura para se aproveitar da minha disposição e exagerar nessa rebeldia, no consumo desmedido, pois sabia que tinha um companheiro sóbrio na retaguarda, que a levaria para casa quando as coisas ficassem mais complicadas.
Reagia com mais rebeldia às advertências da mãe sobre enviá-la para a “nonna” na Itália. Não queria saber de tratamento, respondia com muita agressividade quando se tocava no assunto. A estratégia de me juntar à mãe para pressioná-la sobre o problema apenas piorou a situação. Ela se tornou ainda mais impulsiva, demonstrando prazer em fazer o contrário do que pedíamos. As discussões entre ela e a mãe foram se tornando frequentes. Eu ficava no meio e muitas vezes não entendia porque brigavam em italiano. Às vezes a mãe usava o português para que eu entendesse o que poderia acontecer, em relação a ela ter que ir embora.
A suspeita de algo grave seria confirmada em uma espécie de luau no final de maio em Boa Viagem. Um grupo de “amigos” organizou uma roda, ela se juntou e quando me aproximei, percebi do que se tratava, mantive distância. O histórico de assédios para consumo de drogas me ajudou nessa hora. Percebi logo do que se tratava. Iniciaram uma espécie de “celebração” à base de destilados e cannabis com “Morena Tropicana” ao violão. Foi quando passei a conhecer uma interpretação curiosa, bem distorcida, da letra belíssima desta canção de Alceu Valença: ao contrário do que o autor quis celebrar na origem da composição, na visão do grupo a canção seria uma espécie de “hino à maconha”. Ela então me ofereceu o “beijo travoso” (metáfora para passar o consumo da erva por um tipo de “boca a boca”); subestimou minha resistência e estava tentando me incluir no grupo de todo jeito, onde muitos já evitavam falar comigo por conta de minha resistência ao consumo e do policiamento que fazia sobre ela. Ficou mais aterrador quando ela surgiu com aquele famoso pó branco. Fiquei atônito. Entrei em pânico. Lembrei-me da ameaça da mãe dela e o que significava: o fim do relacionamento. Ela tinha acabado de romper uma linha demarcatória que não tinha volta. Decidi me retirar. De imediato senti nojo:
– Esta roda não dá pra mim, prefiro a de poesia, lembra-se de Lord Byron, quando nos conhecemos?
Repensei. Voltei. Tentei tira-la, mas sua revolta com a ameaça que tinha recebido da mãe foi maior. Resistiu. Insisti novamente para que saísse. Não adiantou. Derrotado, descobri quão destrutivo é o poder das drogas. A força da dependência química a impediu de me seguir.
Então caminhei sozinho até sentir a água do mar tocar meus pés. Ali sepultei o relacionamento. O cheiro do mar, o barulho das ondas, a escuridão no horizonte, o violão horroroso e aquela turma da pesada entoando o que considerava “hino” quando comecei a pensar… Passou um flashback seguido de um choro longo. Estava consciente da gravidade do momento. Na medida em que o tempo passava e ela sinalizava preferir ficar na roda dos “amigos” do tal “olhar noturno” (entre as metáforas sem sentido), passei a uma profunda solidão, seguida de uma tristeza que nunca tinha experimentado. Pensei na vergonha que meu pai sentiria ao me ver naquela roda, em minha mãe e em minha filha, que iria completar quatro anos. Pensei no trabalho de desenvolvimento de sistemas que estava começando a crescer e na faculdade que precisava concluir. Tinha muita coisa em jogo naquela noite e se eu tivesse cedido para participar daquele ritual, colocaria tudo a perder.
Da desilusão ao isolamento auto infligido, passei para uma forte indignação. Esmurrei a areia e dei um grito de raiva. Levantei e fui em direção àquela roda de espiral autodestrutiva e fiz um discurso que, de tão irado, a deixou perplexa, paralisada, e trouxe pânico a um dos “amigos” que pensou que eu fosse um policial e estivesse armado. Eu estava meio que “possesso”, naquela hora encarnei o papel do jovem pobre, com muitas responsabilidades, da zona norte do Recife, mas com uma base moral suficiente para enquadrar filhinhos-de-papai daquela ilusória zona sul regada a bebidas e drogas. Pararam de tocar o violão. Em termos sucintos, perguntei como uma jovem tão vigorosa, bonita, com 21 anos, estava se perdendo daquela forma estúpida. Como uma pessoa inteligente, amante de poesia, matemática, e até de programação, estudante de engenharia, que me ensinou coisas da cultura italiana, de uma família bem estruturada economicamente, falando fluentemente inglês, bem articulada, se permitia a preferir maconheiros e cheiradores de pó? Queria ter apenas um pouco das oportunidades que ela tinha.
O discurso foi se tornando cada vez mais intenso, inflamado, e a roda foi desfeita. Ficaram com medo da atenção que estava gerando por alguns poucos passantes no calçadão, mesmo distantes. Ela começou a chorar descontroladamente, pediu que não contasse à “mama”. Subiu para o apartamento e eu fui embora. Fui duro, talvez demais. No dia seguinte, eu estava muito abatido e o burburinho da praia chegou aos ouvidos da mãe. Antes que eu terminasse de me preparar para avisá-la, ela ligou: contei-lhe tudo. Sabia que não tinha reversão e decidiu fazer o que tinha advertido em várias ocasiões. Era urgente; para salvar a filha, de imediato a retirou daquele ambiente tóxico da orla e a enviou para a casa da avó na Itália; disse-me que a internaria em uma clínica.
Fim. Segui minha vida.
Hoje entendo que foi o melhor NÃO que dei entre todos. Aquele desfecho trágico foi um livramento para ambos.
No mês seguinte, em uma implantação de sistema, conheci quem seria minha esposa, cujo relacionamento foi iniciado três meses depois e me resgatou de uma visão extremamente pessimista da vida.
Vida nova, porém, fiquei com certa repugnância a pessoas fumando ou bebendo, aversão que foi aumentando de maneira que eu tendia a me isolar de ambientes. Às vezes entrava em pânico sem entender do que se tratava: um gatilho, e outros sintomas foram se acumulando; suor intenso no rosto, mãos trêmulas e choro.
Recebi ajuda de uma professora que notou o problema quando palestrei em um evento da faculdade de economia em 1997, quando me isolei do buffet. O jovem de 22 anos que ficou bem à vontade com o microfone e uma sala com cerca de 60 pessoas, contrastou com o que parecia atordoado ao notar pessoas fumando e bebendo. Corri para me esconder em um banco distante com o semblante tenso e muito suor no rosto. Tremiam as mãos e um choro completava o ciclo. Então ela percebeu sinais da síndrome do pânico e me indicou a um doutorando à época. O mesmo tinha ocorrido um mês antes, no carnaval de 1997, quando estava com quem se tornaria minha esposa no ano seguinte: ao ver uma pessoa fumando e bebendo em um ambiente fechado (apartamento), corri para me isolar no estacionamento do prédio. Os mesmos sintomas; suor no rosto, mãos trêmulas e choro. Livrei-me do gatilho em 1999.
Em 2008, quando o procurei novamente para tratar sobre os problemas que enfrentava com a perda de de meu pai, no ano anterior, ele testou se ainda havia algum resquício: acendeu um charuto, me ofereceu um e deu uma baforada. Minha reação foi tranquila, e então fomos caminhar [486], e no percurso parou em um bar para “tomar uma”. Tratava-se de um “teste de rotina” um tanto inusitado, é verdade, enquanto eu sorria tomando água com gás.
Pensei então sobre o que ocorrera em 2003 quando um colega universitário apresentou sinais de dependência química. Realizava trabalhos comigo e vi que o trauma tinha ficado no passado quando fui a uma confraternização e ele acendeu um baseado ao meu lado. Não entrei em pânico. Afastei-me por conta do cheiro, mas continuei em interação social com outros colegas que, inclusive, consumiam bebida alcoólica, enquanto outros fumavam tabaco.
485. 10/11/2025 22h47
486. 08/11/2025 12h51
2 Replies to “12/11/2025 22h47 Casos clínicos em saúde mental. Capítulo 15. Transtorno relacionado ao uso de álcool”